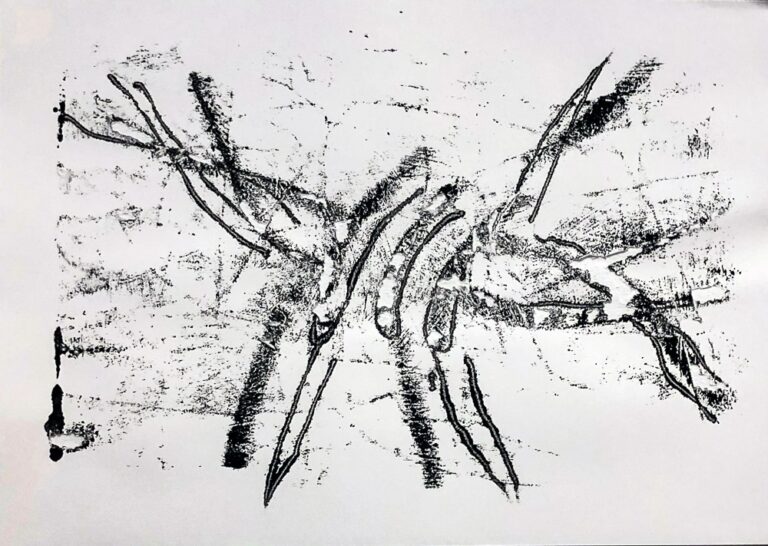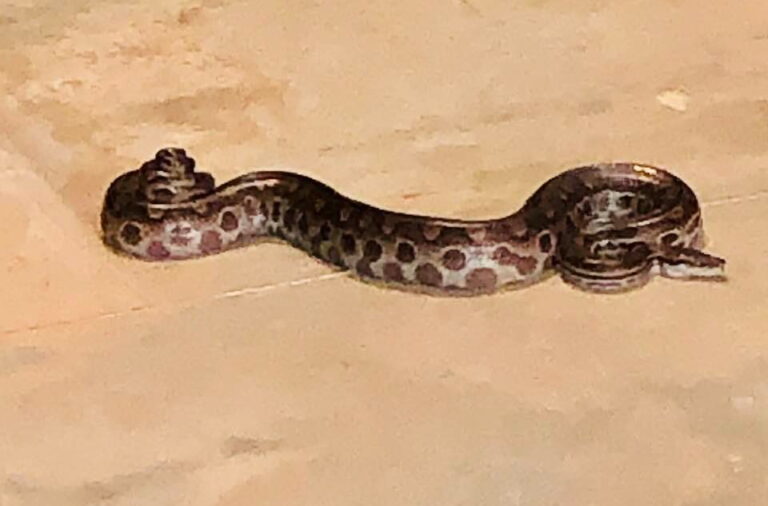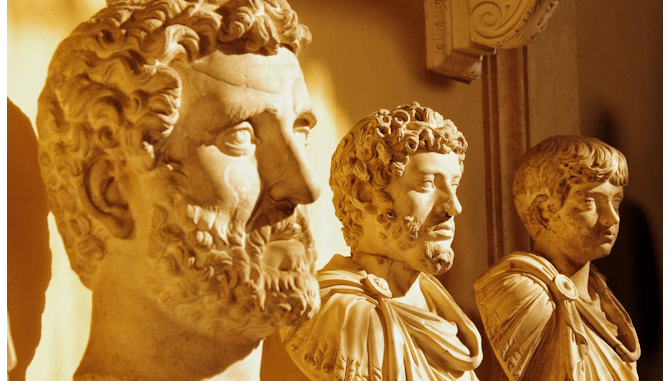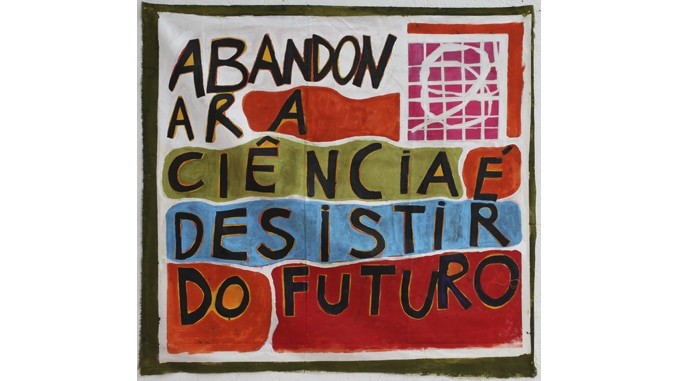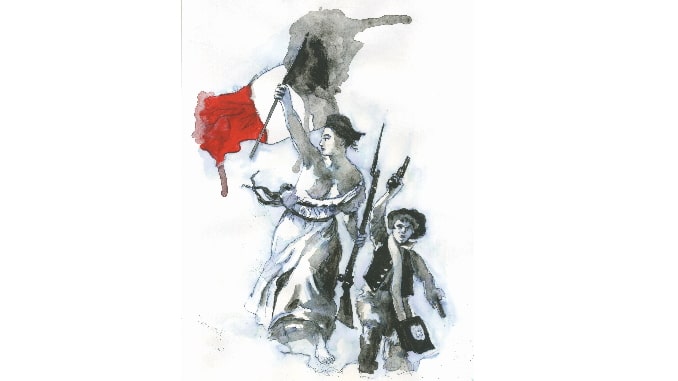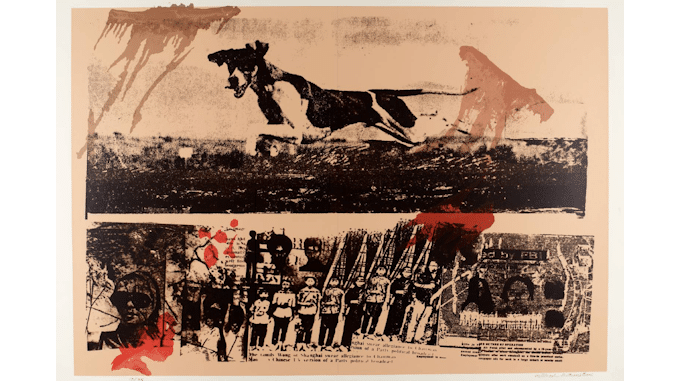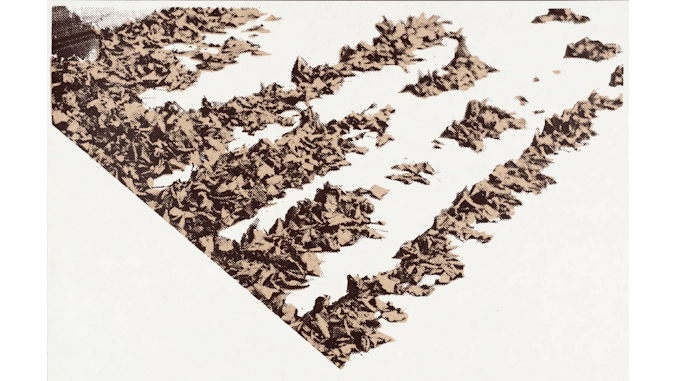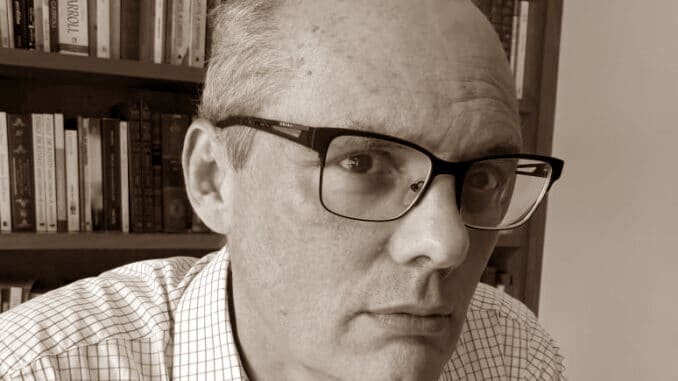Por DAVI R. MARTINS*
A visão dworkiniana do direito oferece uma lente poderosa para compreender a atuação do STF no ordenamento jurídico brasileiro
Este artigo examina o direito constitucional brasileiro sob a ótica do pensamento de Ronald Dworkin, com foco no controle concentrado de constitucionalidade e no papel do Supremo Tribunal Federal (STF). A partir da obra Levando os direitos a sério (1977), busca-se identificar a influência do interpretativismo dworkiniano nas decisões do STF, desafiando a predominância do positivismo no ordenamento jurídico nacional.
Ao adotar essa abordagem, o estudo propõe uma visão do direito mais flexível e moralmente fundamentada, destacando os direitos fundamentais como elementos dinâmicos ajustáveis à realidade social. O interpretativismo de Ronald Dworkin, que valoriza princípios e valores constitucionais, permite compreender as decisões do STF como parte de uma prática interpretativa que vê a Constituição como um documento vivo.
Enfatiza-se a relevância da moralidade na interpretação constitucional, especialmente em questões que afetam direitos individuais e coletivos. Dessa forma, busca-se demonstrar como o STF não apenas aplica normas, mas também interpreta a Constituição com base em princípios, contribuindo para um ordenamento jurídico mais inclusivo e humanizado.
“É o pau, é a pedra, é o fim do caminho…”. Essas palavras de Tom Jobim, o mais completo dos artistas da MPB, e de Elis Regina, a ‘’Pimentinha’’, em Águas de Março podem ser lidas e interpretadas como uma metáfora para a incessante busca por sentido nas interpretações do direito. O “fim do caminho” não é apenas o final, mas a construção de novas trilhas a partir do entendimento profundo da Constituição. O direito, como a música, é uma composição que, mais do que suas notas e palavras, envolve o que está nas entrelinhas, nas pausas e no que fica para além do óbvio.
A crítica de Ronald Dworkin ao positivismo
Ronald Dworkin (1933-2013), professor de Direito em Yale e sucessor de H.L.A. Hart em Oxford, consolidou-se como um dos mais influentes filósofos do direito do século XX, sendo notório por sua crítica ao positivismo jurídico. Em Levando os Direitos a Sério (1977), apresenta uma definição do positivismo, questiona sua estrutura teórica e propõe uma abordagem interpretativista para os dilemas da filosofia do direito. Sua principal objeção ao positivismo reside na concepção do direito como um mero sistema de regras, sustentando que, em casos complexos, o jurista deve recorrer também a princípios e políticas (Dworkin, 2002, p. 36).
Ronald Dworkin critica a tese positivista do consenso sobre os fundamentos do direito, representada pelo chamado “aguilhão semântico” (semantic sting), argumentando que essa abordagem não explica adequadamente os desacordos teóricos no direito. Para ilustrar sua teoria, ele analisa casos paradigmáticos, como Riggs vs. Palmer (1889), em que o princípio de que “ninguém pode se beneficiar da própria torpeza” (Dworkin, 2002, p. 37) se sobrepôs à ausência de uma norma explícita vedando herança a um assassino. Esse exemplo demonstra que a aplicação do direito não se restringe à interpretação literal das regras, exigindo também a consideração de princípios morais e jurídicos.
A partir disso, Ronald Dworkin diferencia regras de princípios: as regras possuem aplicação rígida e binária (“tudo ou nada”), enquanto os princípios funcionam como razões argumentativas que orientam a decisão jurídica, podendo ser ponderados conforme o contexto. Além disso, enquanto regras contraditórias são mutuamente excludentes, princípios em conflito podem coexistir, sendo resolvidos pela atribuição de pesos conforme sua relevância no caso concreto (Dworkin, 2002, p. 39-43). Assim, sua proposta interpretativista rejeita a rigidez positivista e enfatiza a dimensão moral do direito.
A proposta de Ronald Dworkin
Ronald Dworkin, ao criticar o positivismo jurídico, propõe uma teoria capaz de incorporar os princípios à filosofia do direito. Sua abordagem é aprofundada em Uma questão de princípios (1985), onde desenvolve a relação entre direito e política. Para ele, o direito é uma prática argumentativa e interpretativa, articulada por razões derivadas das práticas das autoridades. Além disso, possui uma intencionalidade geral, podendo coordenar esforços sociais, resolver conflitos ou assegurar a justiça entre cidadãos e entre estes e o Estado, ou mesmo mesclar todas essas funções (Dworkin, 1985, p. 160).
Ronald Dworkin associa o direito à literatura, argumentando que, assim como a arte, ele deve ser interpretado à luz de sua intencionalidade e finalidades originais. Ele ilustra essa ideia com a metáfora do “romance em cadeia”: o direito, tal qual um romance escrito por diferentes autores, deve respeitar a coerência das contribuições anteriores. Assim, a interpretação jurídica deve buscar um ajuste (fit) aos conceitos compartilhados, avaliando a adequação das decisões por meio de critérios argumentativos como coerência, justificação e racionalidade (Dworkin, 1985).
Por fim, Ronald Dworkin rejeita a ideia de discricionariedade forte, pois sustenta que, mesmo em casos difíceis, o juiz não decide arbitrariamente, mas sim dentro de um jogo interpretativo no qual os princípios sempre orientam a solução. Dessa forma, a interpretação e a aplicação das normas devem buscar a melhor adequação possível dentro do sistema jurídico vigente.
O interpretativismo no constitucionalismo brasileiro
O prosseguimento da análise sobre o impacto do pensamento de Ronald Dworkin no direito brasileiro exige, antes, uma compreensão do papel do Supremo Tribunal Federal (STF) e das razões que justificam sua escolha como principal executor do interpretativismo no país.
O STF, conforme estabelecido na Constituição Federal, é o guardião da Constituição, sendo responsável por julgar questões de matéria constitucional. Sua função primordial é solucionar desacordos interpretativos, desde conflitos específicos até aqueles que envolvem a legislação e a política em âmbito nacional.
Dentre suas competências, destaca-se o julgamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) e Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC), instrumentos essenciais para a resolução de conflitos constitucionais e capazes de estabelecer novos paradigmas no direito brasileiro. Além disso, por ser a instância máxima do Poder Judiciário, suas decisões são definitivas e inapeláveis, o que ressalta sua relevância e sensibilidade.
A escolha do STF para esta análise se justifica, ainda, por sua semelhança estrutural e funcional com a Suprema Corte dos Estados Unidos, instituição amplamente examinada por Ronald Dworkin, tanto em seus artigos na The New York Review of Books quanto no capítulo 5 de Levando os Direitos a Sério (Dworkin, 2002), intitulado “Casos Constitucionais”. Em ambos os países, as cortes supremas exercem papel essencial na interpretação constitucional e operam com grande autonomia, lidando com questões frequentemente controversas que exigem forte componente argumentativo e interpretativo. Assim, o STF representa o campo ideal para investigar como o interpretativismo dworkiniano influencia o pensamento jurídico nacional.
Adequação e proporcionalidade
Ronald Dworkin defende que o direito é essencialmente argumentativo e interpretativo, opondo-se à ideia do “aguilhão semântico” e ao modelo estrito de regras. Para ele, os princípios são fundamentais na solução de casos difíceis, pois, ao contrário das regras, não oferecem respostas fechadas, mas orientam o jurista, eliminando a discricionariedade forte.
No contexto jurídico brasileiro, o STF desempenha um papel central no “romance em cadeia” do direito, sendo o tribunal encarregado de decidir questões constitucionais complexas que não foram resolvidas pelas instâncias inferiores. Nessas decisões, a Corte não pode se limitar a uma abordagem positivista, devendo recorrer ao interpretativismo para sopesar princípios em conflito e alcançar a melhor adequação aos conceitos compartilhados.
Nesse ponto, a teoria de Robert Alexy se torna relevante, especialmente no que diz respeito à máxima da proporcionalidade, um método de sopesamento de princípios baseado em três submáximas: adequação (avalia se a medida atinge seu objetivo), necessidade (se há alternativas menos onerosas) e proporcionalidade em sentido estrito (se o benefício da medida supera seus custos em restrição de direitos).
Um exemplo dessa aplicação é o julgamento do Habeas Corpus 82.424/RS, o “caso Ellwanger”, no qual o STF analisou o conflito entre liberdade de expressão e direitos fundamentais, como a igualdade e a dignidade humana. A Corte decidiu que a liberdade de expressão não pode ser utilizada para justificar discursos racistas, demonstrando, assim, a prática argumentativa e interpretativa proposta por Ronald Dworkin na jurisdição constitucional brasileira.
Casos complexos
O caso anteriormente mencionado também serve de base para demonstrar o embate lógico-teórico presente nos chamados “casos difíceis”. Esses casos ocorrem quando não há uma regra clara a ser aplicada, o que, segundo a visão positivista, concederia ao juiz um poder discricionário que poderia resultar em arbitrariedade na decisão, impossibilitando a identificação de um critério objetivo para determinar o que é certo ou errado (Dworkin, 2002, p. 129).
Ronald Dworkin, no entanto, refuta essa ideia, defendendo que mesmo nos casos difíceis é possível identificar princípios que orientam a decisão judicial de forma racional e fundamentada.
Essa concepção se manifesta na prática do STF, que frequentemente precisa enfrentar situações em que há um embate entre princípios constitucionais. A aplicação da teoria dworkiniana fica evidente na análise argumentativa e interpretativa utilizada pelo Tribunal em suas decisões. Um exemplo é a ADI 4.439, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República em 2010, questionando a constitucionalidade do ensino religioso confessional nas escolas públicas.
A principal preocupação era se essa prática comprometeria a laicidade do Estado e abriria espaço para o proselitismo religioso. O STF, ao julgar a ação, ponderou a liberdade de crença e a separação entre Estado e religião, concluindo que o ensino confessional não viola a Constituição, desde que seja oferecido de forma não impositiva e respeite a diversidade religiosa.
Outro caso emblemático é o Recurso Extraordinário 1.010.606/RJ, que abordou o chamado “direito ao esquecimento”. Nesse julgamento, o Tribunal teve que equilibrar a liberdade de expressão e de imprensa com os direitos à imagem, à privacidade e à dignidade da pessoa humana. O STF decidiu que o direito ao esquecimento não é compatível com a Constituição, pois poderia abrir precedentes para restrições indevidas à liberdade de informação e expressão, o que configuraria uma forma de censura prévia. Assim, o Tribunal priorizou a liberdade de imprensa, mesmo reconhecendo que a exposição pública pode gerar sofrimento para os indivíduos afetados.
Esses casos ilustram a aplicação prática do interpretativismo no direito brasileiro, demonstrando como o STF utiliza princípios jurídicos para fundamentar suas decisões, em conformidade com a abordagem dworkiniana, reforçando a necessidade de coerência e argumentação racional na resolução dos conflitos constitucionais.
Ativismo judicial
A atuação do STF muitas vezes gera debates sobre seu suposto papel legislativo, como no caso do ensino religioso confessional, cuja decisão teve impactos que ultrapassam a esfera jurídica. Caso o Tribunal tivesse declarado sua inconstitucionalidade, as repercussões políticas seriam significativas.
No entanto, a ideia de que os juízes atuam como legisladores é equivocada. Para Ronald Dworkin, além de a discricionariedade forte ser inexistente, essa visão ignora a distinção fundamental entre princípios e política. Enquanto os argumentos baseados em princípios visam resolver questões jurídicas com fundamento normativo, os argumentos políticos focam no impacto das decisões. Assim, Dworkin defende que as decisões judiciais devem ser orientadas por princípios (Dworkin, 2002, p. 128-131).
Um exemplo claro dessa abordagem é o julgamento da ADPF 132, em 2011, quando o STF reconheceu as uniões homoafetivas como entidades familiares com os mesmos direitos do casamento heterossexual. Embora a Constituição não previsse explicitamente essa questão, a Corte utilizou os princípios da igualdade e da dignidade humana para garantir proteção jurídica a essas uniões.
Esse caso demonstra que, apesar das inevitáveis implicações políticas, a decisão não foi uma ação legislativa, mas sim uma interpretação constitucional necessária, pautada na coerência dos princípios fundamentais da Constituição. No entanto, essa atuação do STF frequentemente levanta discussões sobre ativismo judicial. O interpretativismo dworkiniano legitima o papel da Corte na ponderação de princípios, mas há críticas sobre um possível excesso de protagonismo do Tribunal.
O ativismo judicial, entendido como a ampliação do poder decisório do Judiciário em temas políticos e sociais, pode gerar tensões institucionais ao desafiar a separação entre os Poderes. Por um lado, a defesa de direitos fundamentais exige uma postura ativa do Judiciário para corrigir omissões do Legislativo.
Por outro, há o risco de que decisões judiciais extrapolem os limites da interpretação constitucional e avancem sobre atribuições próprias do Parlamento. Dessa forma, o debate sobre o ativismo judicial permanece central para compreender o equilíbrio entre o papel do STF e a dinâmica democrática brasileira.
Considerações finais
A reflexão de Ronald Dworkin, ao desafiar a visão do direito como um mero sistema de regras, exerce grande influência tanto no âmbito filosófico quanto prático do direito brasileiro, especialmente no papel do Supremo Tribunal Federal (STF). Sua filosofia enfatiza a interpretação do direito como uma atividade argumentativa e interpretativa, afastando-se da aplicação mecânica de regras.
Nos chamados casos difíceis, em que a simples aplicação de normas é insuficiente, torna-se essencial uma análise aprofundada dos princípios em conflito. O STF, ao enfrentar tais desafios, equilibra esses princípios em um esforço interpretativo que transcende o positivismo jurídico.
Dessa forma, a contribuição de Ronald Dworkin ao direito brasileiro é inegável. Sua visão do direito como uma construção argumentativa fornece uma base sólida para a atuação do STF, especialmente em casos complexos que demandam uma adaptação às realidades social, histórica e política do país. Exemplos como o “caso Ellwanger”, a ADI 4.439 e o Recurso Extraordinário 1.010.606/RJ ilustram como o tribunal adota uma postura interpretativa e ponderativa, aplicando valores constitucionais de forma coerente com a sociedade contemporânea.
Portanto, a visão dworkiniana do direito oferece uma lente poderosa para compreender a atuação do STF no ordenamento jurídico brasileiro. A interpretação jurídica, longe de ser uma aplicação rígida de normas, assume um caráter argumentativo e ético essencial para a justiça. O STF não apenas aplica leis, mas também participa ativamente da construção e evolução dos valores constitucionais, contribuindo para uma sociedade mais justa e alinhada aos princípios fundamentais.
Assim, o legado de Ronald Dworkin ressoa no Brasil, particularmente na atuação do STF como intérprete da Constituição. Longe de extrapolar suas funções, o tribunal, por meio da argumentação e da ponderação de princípios, busca a solução mais justa para as questões constitucionais. Ainda que suas decisões tenham implicações políticas, sua função essencial permanece a de garantir a justiça, assegurando a melhor adequação possível dos princípios constitucionais à realidade brasileira.
*Davi R. Martins é graduando em direito na Universidade Federal do Pará (UFPA).
Referências
DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípios. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1985.
NERY JR., Nelson; ABBOUD, Georges. Direito Constitucional Brasileiro: Curso Completo. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA