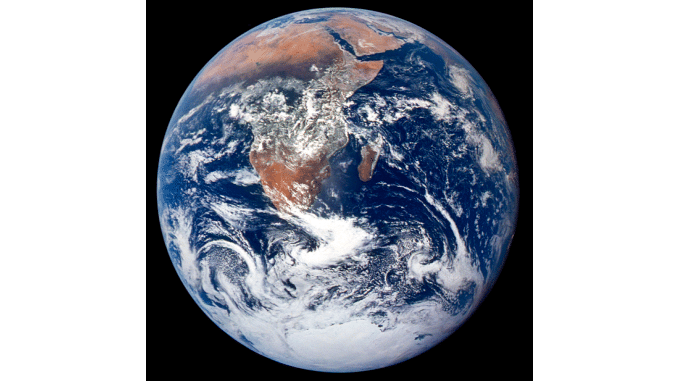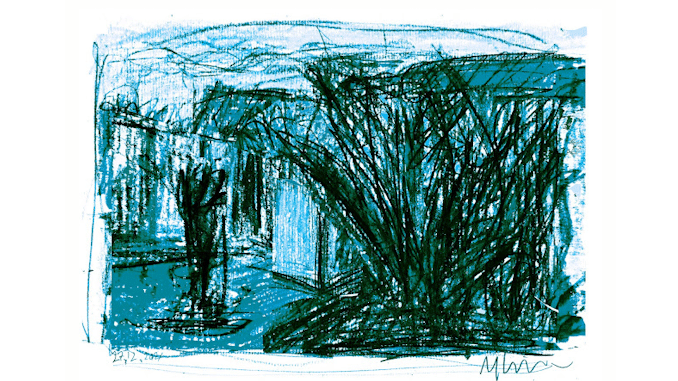Por CARLO ALDROVANDI*
Dentro da psique coletiva de Israel, os recentes procedimentos da Corte Internacional de Justiça representam uma inquietante inversão da história
Nos últimos dias, a África do Sul apresentou seu caso na Corte Internacional de Justiça em Haia, acusando o governo israelense de cometer genocídio com seu ataque de 100 dias a Gaza. Com o número de mortos se aproximando de 24.000 no território palestino, os advogados da África do Sul apresentaram os fundamentos pelos quais acusam Israel de violar a Convenção sobre Genocídio de 1948, enquanto a equipe jurídica de Israel apresentou seus contra-argumentos.
O argumento da África do Sul é essencialmente que o ataque de Israel “visa provocar a destruição de uma parte substancial do grupo nacional, racial e étnico palestino, que é a parte do grupo palestino na Faixa de Gaza”. Israel, por sua vez, negou, argumentando que tem exercido seu direito fundamental à autodefesa sob o direito internacional.
A convenção das Nações Unidas foi adotada pela Assembleia Geral em 9 de dezembro de 1948. Foi o primeiro tratado de direitos humanos a responder às atrocidades sistemáticas cometidas pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial.
Foi um judeu polonês, Raphael Lemkin, quem primeiro cunhou o termo “genocídio”. Lemkin foi um advogado que fugiu para os Estados Unidos em 1939, depois que a Alemanha invadiu seu país. Ele combinou duas palavras: o grego genos (raça ou tribo) e o latim cide (de caedere, que significa matar).
De acordo com o artigo 2º da convenção, a principal característica do crime final contra a humanidade é dupla. Primeiro, as vítimas de genocídio são sempre “alvos passivos”. Eles foram destacados por pertencerem a um grupo nacional, étnico, racial ou religioso e não por qualquer coisa que tenham feito. Em adição, este crime também estabelece um “dolo específico” de destruir, no todo ou em parte, aquele grupo.
O nexo entre as duas disposições é a espinha dorsal da convenção. Marca limites legais que diferenciam o genocídio de outros crimes contra a humanidade. Embora o alto número de mortos muitas vezes traga justamente condenação internacional, como uma categoria legal, o genocídio não depende do número de vítimas civis que podem resultar do uso desproporcional da força militar por um Estado.
Declarações incendiárias
Os advogados da África do Sul não mediram esforços para provar a intenção genocida. Eles apoiaram essa afirmação citando algumas das declarações mais incendiárias de membros de extrema direita do governo israelense. Em 5 de novembro, o ministro do Patrimônio de Israel, Amichai Eliyahu, afirmou que “não há civis não envolvidos em Gaza” e que largar uma arma nuclear ali era uma “opção”.
Eliyahu não é membro do gabinete de guerra de três pessoas de Israel. Mas o pedido da África do Sul também relatou outras declarações polêmicas desses líderes seniores.
Logo após os ataques de 7 de outubro, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, argumentou que um bloqueio completo à Cidade de Gaza – impedindo que água, comida, gás ou suprimentos médicos chegassem aos civis – era uma tática legítima de guerra. O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse que todos em Gaza foram cúmplices do ataque terrorista do Hamas: “É uma nação inteira lá fora que é responsável”. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, por sua vez, soltou fortes insinuações com repetidas referências à história bíblica, invocando a exortação de Deus a Israel para lidar duramente com um de seus inimigos para “apagar a lembrança de Amalek debaixo do céu”.
Refutação robusta
A equipe jurídica israelense apresentou uma refutação robusta. Sustentaram que a campanha das Forças de Defesa de Israel em Gaza era justificada pelo direito inalienável de autodefesa. Por isso, estava dentro dos rigorosos parâmetros do Direito Internacional Humanitário. Foi o Hamas, sugeriram, que colocou maliciosamente em risco vidas palestinas ao proteger sua ala militar dentro de áreas residenciais enquanto lançava ataques de escolas, mesquitas, hospitais e instalações da ONU.
Na abertura para Israel, Tal Becker, assessor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, argumentou que a África do Sul estava “pedindo ao tribunal da ONU que substituísse a lente de um conflito armado entre um Estado e uma organização terrorista sem lei pela lente de um chamado “genocídio” de um Estado contra uma população civil”. Ao fazê-lo, a África do Sul não estava a fornecer à CIJ uma lente, mas uma “venda nos olhos”.
Tal Becker leu trechos descritivos de um vídeo compilado pelo governo israelense descrevendo algumas das supostas atrocidades cometidas durante o ataque do Hamas em 7 de outubro. Ele também mostrou uma entrevista com o líder sênior do Hamas, Ghazi Hamad, falando na televisão libanesa em 24 de outubro, na qual pareceu afirmar que o Hamas visava a aniquilação completa de Israel.
Ghazi Hamad disse: “Devemos ensinar uma lição a Israel, e faremos isso duas e três vezes. O Dilúvio de Al-Aqsa [nome que o Hamas deu à sua investida] é apenas a primeira vez, e haverá uma segunda, uma terceira, uma quarta”. Isso foi oferecido como prova de que, ao contrário do que acontece na África do Sul, foi o Hamas que abrigou a intenção genocida em relação aos israelenses.
Divisor de águas histórico
Quaisquer que sejam as determinações finais do tribunal, a acusação feita contra Israel constitui um divisor de águas histórico com profundas ramificações simbólicas. Os palestinos tradicionalmente buscam legitimidade e reconhecimento tentando incorporar suas aspirações e direitos nacionais no léxico do direito internacional. Agora, eles podem sentir alguma catarse ao ver representantes israelenses sendo obrigados, pela primeira vez, a defender a condução da guerra de seu país diante de um painel de juízes da ONU.
Dentro da psique coletiva de Israel, os recentes procedimentos da Corte Internacional de Justiça representam uma inquietante inversão da história. O crime de genocídio foi agora invocado contra Israel – um Estado estabelecido no mesmo ano da convenção da ONU e com a mesma lógica: proteger o povo judeu de futuras perseguições e destruição.
Sem intenção comprovada, o pleito sul-africana pode ser, como insistiu o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, “sem mérito” do ponto de vista jurídico. Mas essa reversão, por si só, pode manter influência simbólica suficiente para implicar um golpe decisivo no status internacional de Israel.
*Carlo Aldrovandi é professor da School of Religion no Trinity College Dublin.
Tradução: Eleutério F. S. Prado
Publicado originalmente no portal Social Europe.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA