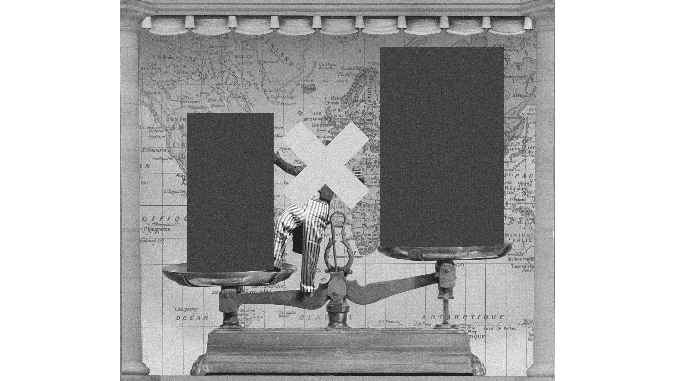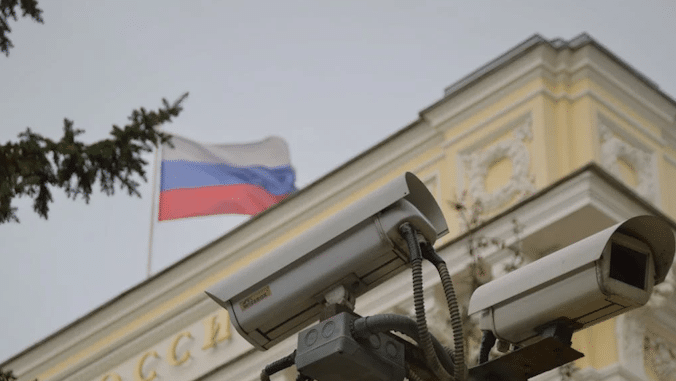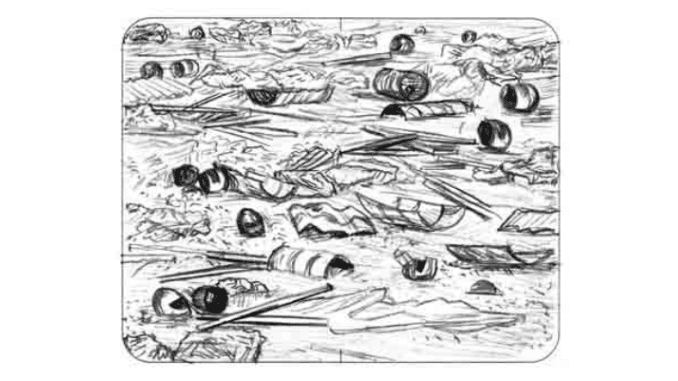Por SEBASTIÃO VELASCO E CRUZ*
Considerações sobre a atuação do governo Biden na guerra na Ucrânia
Tudo se deu sob o mais rigoroso sigilo. Na noite de sábado, depois de uma visita ao Museu Nacional de História Americana, o casal jantou em um restaurante discreto, conhecido pela excelência de sua cozinha italiana. Na manhã seguinte, a Casa Banca avisou à imprensa que o presidente permaneceria retirado e não seria mais visto naquele dia. Neste momento, porém, ele já atravessava o Atlântico a bordo do avião da Força Aérea que tomara furtivamente durante a madrugada, na companhia de três assessores, um repórter e um fotógrafo, além de alguns poucos agentes secretos, devidamente armados e compreensivelmente tensos.
Desembarcando no Aeroporto de Rzeszów–Jasionka, Polônia, às 19h57, no horário local, o presidente dos Estados Unidos deslocou-se incógnito em uma coluna de automóveis até a estação ferroviária de Przemyśl Główny, onde tomou um trem noturno para uma viagem de dez horas que o levaria a seu destino, a capital de um país em estado de guerra.[1]
Poderia ser roteiro de um filme de ação, mas foi um lance real de marketing político extraordinário, longamente preparado com vistas à produção de efeitos bem definidos.
A sequência final começa na noite de 19 de fevereiro de 2023. Na manhã do dia seguinte, Joe Biden aparece espetacularmente ao lado de Volodymyr Zelensky no Mariinsky Palace, em Kiev, para comemorar os feitos dos compatriotas do anfitrião, no encerramento do primeiro ano de uma guerra que muitos pensavam estar fadada a terminar em semanas. Na ocasião, o presidente americano faz um rápido discurso, no qual anuncia novo pacote de ajuda (militar e financeira), enaltece o heroísmo do povo ucraniano e reitera o compromisso inabalável dos Estados Unidos com sua luta, cujo objeto não é nenhum interesse particular, mas um bem universal: a liberdade.
“You and all Ukrainians, Mr. President, remind the world every single day what the meaning of the word “courage” is […] You remind us that freedom is priceless; it’s worth fighting for, for as long as it takes. And that’s how long we’re going to be with you, Mr. President: for as long as it takes”.[2]
Não se tratava apenas de palavras, belas, mas inócuas. Para além dos gestos simbólicos e das sanções econômicas sem precedentes aplicadas à Rússia pelo bloco Ocidental sob sua liderança, os Estados Unidos foram pródigos na ajuda material e financeira ao país. O leitor pode formar uma ideia da importância dela a um simples correr de olhos pelo quadro abaixo.
Valor comprometido na ajuda à Ucrânia no primeiro ano da guerra (24/1/2022-24/2/2023). Em bilhões de euros:
| Ajuda financeira | Ajuda militar | Total | |
| União Europeia. Membros e instituições | 35,58 | 19,6 | 61,93 |
| EUA | 29,47 | 51,60 | 83,37 |
| Organizações multilaterais | |||
| FMI | 3,19 | 00,00 | 3.19 |
| Banco Europeu de Reconstrução | 2,78 | 00,00 | 2,78 |
| ONU | 0,05 | 00,00 | 0,05 |
| Banco Mundial | 6,91 | 00,00 | 6,91 |
Sozinhos, os Estados Unidos responderam por mais da metade do total da ajuda fornecida à Ucrânia, e por quase três quartos da ajuda militar, no primeiro ano do conflito. Mesmo se desconsiderado o seu papel político como dirigente da coalizão Ocidental, não é exagero dizer que, sem o apoio dos Estados Unidos, a guerra, tal como a presenciamos, não teria existido.
Tal como a presenciamos. Cabe salientar a condição, porque a guerra poderia muito bem ter tomado outro rumo – na ausência do apoio americano, certamente, mas também caso este tivesse atendido plenamente às demandas do governo Zelensky.
Com efeito, no torvelinho dos acontecimentos, a memória do fato pode ter se apagado, mas já no início de março, 2022, Volodymyr Zelensky cobrava da “liga da liberdade” o estabelecimento de uma zona de exclusão aérea sobre o território ucraniano e o fornecimento de caças F-16 com instrutores para treinar os seus pilotos, pois a aviação ucraniana fora destroçada pelos mísseis russos. Dada o estado crítico da situação, solicitava ainda que fossem enviados de imediato à Ucrânia MIGS e Zukoys, pela Polônia e por outros países do antigo Pacto de Varsóvia.[3]
Está nos jornais. No momento em que escrevo, esses aviões – há muito obsoletos, mas de manejo familiar aos pilotos ucranianos – estão sendo fornecidos pela Polônia, aparentemente por decisão própria, não questionada pelos Estados Unidos. Mas isso mais de um ano depois do pedido desesperado de Volodymyr Zelensky. Na ocasião, o governo Biden rejeitou a proposta da zona de exclusão aérea e vetou a cessão dos velhos caças soviéticos à Ucrânia.
A cautela é compreensível. No caso da zona de exclusão aérea, a tentativa de impô-la acarretaria, inevitavelmente, um confronto direto da OTAN com a Rússia, numa escalada que poderia terminar em conflito nuclear. A justificativa para a interdição imposta ao fornecimento de aviões de combate é menos evidente, mas se enquadra na mesma regra prática que tem evitado, até hoje, a entrega de mísseis de longo alcance (como os ATACMS, de alcance superior a 300 quilômetros) pelo risco de seu emprego contra alvos situados em território russo.
Joe Biden enunciou muito claramente esta regra em artigo importante publicado no The New York Times em maio do ano passado: “We do not seek a war between NATO and Russia. […]. So long as the United States or our allies are not attacked, we will not be directly engaged in this conflict, either by sending American troops to fight in Ukraine or by attacking Russian forces. We are not encouraging or enabling Ukraine to strike beyond its borders. We do not want to prolong the war just to inflict pain on Russia”.[4]
Bastante sensata, esta linha de conduta parece não se coadunar com sinais dados por autoridades americanas em favor do objetivo maximalista verbalizado insistentemente pela liderança ucraniana, de derrotar a Rússia e recuperar o domínio sobre a integralidade do território ucraniano, aí incluída a Crimeia.
Nem sempre foi assim. Transcorrido um mês de iniciados os combates, no contexto das negociações de paz mediadas pela Turquia, Volodymyr Zelensky se declarou disposto a discutir a neutralidade da Ucrânia em um futuro acordo de paz e a estabelecer um compromisso sobre o status da região de Dombass, descartando a ideia de retomar pela força todos os territórios ocupados pela Rússia, pois isso significaria desencadear “uma terceira guerra mundial”.[5]
Não caberia especular aqui sobre as razões de tão grande mudança, mas não passaram despercebidas para a ninguém as declarações do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, no mês seguinte, depois de rápida visita a Zelensky, em Kiev, na companhia de seu colega, o secretário de Estado, Antony Blinken: “We want to see Russia weakened to the degree that it can’t do the kinds of things that it has done in invading Ukraine. So it has already lost a lot of military capability. And a lot of its troops, quite frankly. And we want to see them not have the capability to very quickly reproduce that capability”.
Era uma ampliação aparente dos objetivos do governo Biden na guerra, que parecia reforçada pelo complemento feito por seu colega de gabinete: “We don’t know how the rest of this war will unfold, but we do know that a sovereign independent Ukraine will be around a lot longer than Vladimir Putin is on the scene”.[6]
Retomadas no dia seguinte por ele próprio e pelo então porta-voz do Pentágono, John Kirby, na conferência de imprensa realizada durante o encerramento do encontro do Ukraine Defense Consultive Group, na base aérea de Ramstein, Alemanha, as declarações de Austin repercutiram fortemente por sugerirem um reposicionamento significativo do governo Biden diante da guerra.[7]
O artigo publicado por Joe Biden, a convite, no New York Times pode ser entendido como uma tentativa de pôr ordem na casa, reafirmando a orientação original de seu governo. Mas, nesta hipótese, é duvidoso que tenha sido de todo bem-sucedido. Pois continua gritante a disparidade entre a definição sobre a natureza fundamental do conflito e a moderação relativa na provisão de meios para enfrentá-lo. Nesse contexto, a possibilidade de uma paz negociada, como pretende a diplomacia brasileira, está fora de vista. O que se desenha no horizonte é uma guerra prolongada e desgastante, que pode assumir formas diversas, mas onde o eventual cessar-fogo não será nada mais que um passageiro armistício.[8]
Algumas vozes na comunidade de segurança americana passaram a trabalhar com cenários desse tipo, sugerindo políticas para que o bloco Ocidental neles se posicione da forma mais vantajosa.[9] Outras vêm alertando para os riscos de escalada implicados em uma tal situação, envolvendo potências nucleares com recursos e interesses tão desiguais no conflito. A mais enfática entre elas talvez seja a de John Mearsheimer, provavelmente o mais destacado representante, hoje, da escola realista de Relações Internacionais.
As vias que podem conduzir à catástrofe são muitas e variegadas (um pequeno acidente, como o choque entre dois aviões caça, desencadeando uma espiral ascendente; um ataque russo a campos de treinamento que acarrete a morte de grande número de instrutores americanos; a decisão russa de bombardear o território de um país-membro da OTAN para interromper o fluxo de material bélico fornecido à Ucrânia, por exemplo), mas é a lógica da situação descrita por Mearsheimer que fundamentalmente interessa ao presente estudo.
Em suas palavras, “since the war began, both Moscow and Washington have raised their ambitions significantly, and both are now deeply committed to winning the war and achieving formidable political aims. […] this means that the United States might join the fighting either if it is desperate to win or to prevent Ukraine from losing, while Russia might use nuclear weapons if it is desperate to win or faces imminent defeat, which would be likely if U.S. forces were drawn into the fighting. … The maximalist thinking that now prevails in both Washington and Moscow gives each side even more reason to win on the battlefield so that it can dictate the terms of the eventual peace. In effect, the absence of a possible diplomatic solution provides an added incentive for both sides to climb up the escalation ladder. What lies further up the rungs could be something truly catastrophic: a level of death and destruction exceeding that of World War II”.[10]
Vias que podem levar, não que levarão à catástrofe. É importante salientar a diferença, porque o argumento de Mearsheimer é condicional. A lógica que ele expõe tem como premissa a redefinição maximalista dos objetivos da guerra pelos dois contendores. Mas nada garante que estes permanecerão inalterados ao longo do tempo. Da mesma forma que a situação cambiante no terreno levou à expansão dos referidos objetivos, uma série de ocorrências facilmente imagináveis – uma escalada de tensões no estreito de Taiwan, ou o crescimento da oposição à sua política na guerra, em tempos de eleição presidencial, por exemplo – pode induzir o governo Biden a um reposicionamento.
Não discutirei a probabilidade, maior ou menor, de tal mudança, nem do desfecho sombrio que se desenha no horizonte na hipótese de continuidade na postura ora adotada pelos protagonistas. Em vez disto, proponho-me, neste artigo, a refletir sobre duas questões entrelaçadas: a ambivalência da conduta americana diante do conflito; e o papel atribuído ao embate com a Rússia em torno da Ucrânia no conjunto da estratégia global dos Estados Unidos.
Antes de entrar na análise, porém, devo dizer uma palavra rápida sobre alguns aspectos subentendidos na discussão que se fará a seguir.
O primeiro diz respeito à relação da guerra com interesses particulares de empresas e setores econômicos. Os ganhos decorrentes da guerra para alguns deles são óbvios. Considere-se, a título de exemplo, a indústria bélica. Os Estados Unidos são os maiores produtores de armas no mundo. Ao transferir para a Ucrânia bilhões de dólares em armamentos antigos acumulados em seus estoques, o governo americano recheia a carteira das empresas do setor com encomendas novas.
Os Estados Unidos são grandes produtores também de petróleo e de gás liquefeito. Desde a revolução do fracking, no começo do século presente, tornaram-se autossuficientes e passaram a gerar saldos exportáveis de gás vultosos. O problema que dificultava a obtenção de uma fatia maior do mercado era o preço da mercadoria e a infraestrutura requerida para sua importação. As sanções aplicadas à Rússia implicaram a ruptura das linhas de fornecimento de petróleo e gás russo à Europa, encarecendo imediatamente os dois produtos e abrindo um mercado imenso que as firmas americanas passaram a ocupar gostosamente.
Nada disso está em questão, mas explicar a eclosão do conflito e a conduta do governo americano em seu decurso pelo peso dos interesses econômicos favorecidos com ele seria tomar o efeito pela causa. Entre a constatação de que grupos identificáveis ganham com uma dada política e a proposição de que esta foi adotada com o fim de beneficiá-los a distância é muito grande. O analista que estabelece uma conexão direta entre elas dá um salto mortal no escuro e, como soe acontecer nesses casos, desaba.
Mais complexos e mais convincentes são os argumentos que apontam para os efeitos geoeconômicos e geopolíticos do conflito. O mais evidente e mais comentado entre eles é a subordinação acrescida da Europa à direção político-ideológica dos Estados Unidos.
O alinhamento estreito acima referido é ilustrado eloquentemente pelo silêncio da Alemanha face ao ataque terrorista aos gasodutos Nord Stream 1 e 2 construídos, contra a oposição tenaz dos Estados Unidos, com capital russo e germânico, para atender a demanda de gás da indústria e das famílias alemãs. Apesar da condição de vítima de agressão criminosa, traduzida em desastre ecológico e prejuízos bilionários, a Alemanha não manifestou interesse nenhum na proposta apresentada pela China e pela Rússia de criação de uma comissão independente para investigar as circunstâncias e a autoria do ato, que recebeu o voto favorável do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Como a lógica e as informações disponíveis apontam para suspeitos “inconvenientes”, o caso continuará sob investigação sigilosa – por agências alemãs e de países “amigos”, ainda que confessadamente satisfeitos com os resultados do atentado.
Esses e outros fatos reforçam o argumento daqueles, como Michel Hudson, que entendem ser a Europa (em particular a Alemanha) o principal alvo da guerra na Ucrânia. “The country suffering the most “collateral damage” in this global fracture – escreve este autor – is Germany. As Europe’s most advanced industrial economy, German steel, chemicals, machinery, automotives and other consumer goods are the most highly dependent on imports of Russian gas, oil and metals from aluminum to titanium and palladium. Yet despite two Nord Stream pipelines built to provide Germany with low-priced energy, Germany has been told to cut itself off from Russian gas and de-industrialize. This means the end of its economic preeminence. The key to GDP growth in Germany, as in other countries, is energy consumption per worker. These anti-Russian sanctions make today’s New Cold War inherently anti-German”.[11]
As aspas no início do parágrafo são marcas de ironia porque, no entender de Hudson, o prejuízo incorrido pela indústria alemã não tem nada de colateral, corresponde antes ao objetivo maior perseguido pelos Estados Unidos na crise. Com efeito, reza o argumento, manter a Europa em sua esfera de influência é fundamental para a superpotência. E a Europa ameaça desgarrar-se ao intensificar seus laços econômicos com a China e a Rússia.
“At issue is how long the United States can block its allies from taking advantage of China’s economic growth. Will Germany, France and other NATO countries seek prosperity for themselves instead of letting the U.S. dollar standard and trade preferences siphon off their economic surplus?”.[12]
De novo, podemos admitir que – intencionais ou não – os efeitos das sanções apontados pelo autor sejam reais e empiricamente comprováveis. E podemos ainda acompanhá-lo em sua análise sobre o objetivo estratégico dos Estados Unidos de manter a Europa na posição de caudatária. Mas nada disso nos permite entender por que ambas as coisas teriam sido buscadas exatamente por este meio: uma guerra que mal completa seu primeiro aniversário e já é a mais destrutiva jamais travada em solo europeu desde o final da Segunda Guerra Mundial.
O caminho tomado neste artigo é outro. Ele parte do suposto de que a chave para entender a conduta do governo Biden na guerra deve ser buscada nas relações historicamente construídas entre Estados Unidos e Rússia desde o final da Guerra Fria.
Ao fazer esta afirmação não desconsidero as dimensões nacional e regional do conflito. Contudo, a intervenção militar russa na Ucrânia surge como desdobramento de uma crise política congenitamente internacionalizada. Ou melhor, um ciclo de crises que teria outro desfecho, caso se articulasse de maneira diversa com os interesses e as políticas das grandes potências – em particular as duas antes referidas.
A guerra na Ucrânia envolve um conjunto de determinações complexamente entrelaçadas. Mas o que move a política do governo Biden no conflito é o antagonismo Estados Unidos-Rússia.
*Sebastião Velasco e Cruz é professor titular do Departamento de Ciência Política da Unicamp e do Programa San Tiago Dantas de Pós-Graduação em Relações Internacionais, UNESP/UNICAMP/PUC-SP. Coordenador do INCT-INEU.
Publicado originalmente no site do Observatório Político dos Estados Unidos (OPEU).
Notas
[1] As informações contidas neste breve relato foram extraídas de Baer, Peter & Shear, Michael D., “Biden’s Surreal and Secretive Journey Into a War Zone”, The New York Times, 20/2/2023, e Samuels, Brett, “How President Biden’s secretive trip to Ukraine came together”, The Hill, 20/2/2023.
[2] White House, Remarks by President Biden and President Zelenskyy of Ukraine in Joint Statement, 20/2/2023.
[3] Cordes, Nancy et alli, “Zelensky calls for fighter planes in Zoom call with Congress”, CBS News, 5/3/2022.
[4] “President Biden: What America Will and Will Not Do in Ukraine.” The New York Times, 31/5/2022.
[5] “Zelensky says Ukraine prepared to discuss neutrality in peace talks”, BBC NEWS, 28/3/2022; “Ukraine ready to discuss adopting neutral status in Russia peace deal, Zelenskiy says”, Reuters, 28/3/2022.
[6] “Austin says US wants to see Russia’s military capabilities weakened”, CNN, 25/4/2022.
[7] Cf. Forgey, Quint, “Austin: U.S. believes Ukraine ‘can win’ war against Russia”, Politico, 26/4/2022; Borgerin, Julian,“Pentagon chief’s Russia remarks show shift in US’s declared aims in Ukraine”, The Guardian, 25/4/2022.
[8] Concluí que este seria o desdobramento mais provável do conflito já na primeira vez que refleti sobre o tema, pelas razões que expus em minha participação no programa Conflitos Geopolíticos e Geoeconômicos: Que Futuro Esperar?, organizado pelo Instituto AMSUR, YouTube, 21/3/2022.
[9] Cf. Daalder, Ivo H. & Goldgeier, James, “The Long War in Ukraine. The West needs to plan for a protracted conflict with Russia”, Foreign Affairs, 9/1/2023.
[10] Mearsheimer, John J. “Playing with Fire in Ukraine. The underappreciated risks of catastrophic escalation”, Foreign Affairs, 17/8/2022.
[11] Hudson, Michael, “Germany’s position in America’s New World Order”, Michael Hudson on Finance, Real Estate and the Power of Neoliberalism, 2/11/2022.
[12] Hudson, Michael, “America’s real adversaries are its European and other allies”, Ibid, 8/2/2022.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA