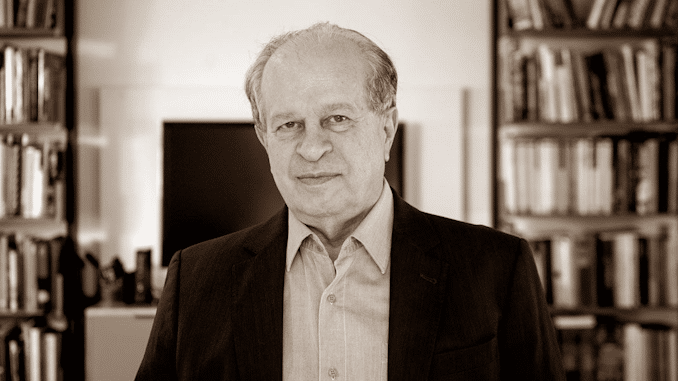Por LUIZ RENATO MARTINS*
A pincelada afiada e sintética de Édouard Manet destituiu a luz do seu poder simbólico
Direito natural das cores
Dentre todos os atentados que a pintura de Édouard Manet cometeu – de acordo com o “princípio da oposição violenta”, de Pierre Francastel – contra o dogma da unidade e da harmonia pictóricas, um dos mais fecundos (enquanto gerador de novas possibilidades sintáticas e que logo exercerá também papel decisivo como fator de transição da pintura para outro regime) consistiu no ataque à unidade da luz em favor da irrupção independente das cores.
A pincelada afiada e sintética de Édouard Manet destituiu a luz do seu poder simbólico. Nenhum sinal de algo congênere ao remorso e à nostalgia que tingiram com um verniz de melancolia e religiosidade a arte de Delacroix (1798-1863). Assim, Édouard Manet reduziu a luminosidade pictórica, ao pulverizá-la, à condição de matéria ou coisa similar a um resto de insumo ou resíduo físico, como porção de tinta não formalizada – que resta na tela e chama a atenção ainda hoje. De modo análogo, as cores deixaram de aparecer como representações unitárias da luz e por conseguinte da espiritualidade, para se apresentarem cruamente apenas em termos materiais. Fizeram-se opacas e distintas. Passaram a aderir estritamente à área ocupada da tela, impermeáveis umas às outras.[i]
Ceticismo físico
Desse modo a ideia da cor, conversível em signo e grau da unidade da luz – por sua vez, símbolo da unidade de tudo –, foi substituída pela noção de cor como fragmento – logo, matéria irredutível e sem outro valor que o de uso, ou seja, ancorada à situação. Assim, a opção tão ao gosto de Manet de avizinhar cores claras de claras e escuras de escuras, dispôs-se como estratégia armada especialmente para demarcar a guinada econômica em curso na Paris de Haussmann, como se configurasse um espaço loteado ou fragmentado segundo interesses privados. Ao remeter cada cor à individuação empírica e material dentro dos limites próprios a cada uma, tal manobra converteu-as em porções de uma nova visão de mundo, derivada antes da percepção separadora e da hostilidade inerente à concorrência e oposição dos interesses, do que do sentimento unificador.
Por isso, apesar de incontida, a indignação de Victor de Jankovitz, um crítico da época, fez-se à sua moda aguda e precisa no medir a novidade radical representada pela pintura antirromântica e anti-idealista de Olympia em termos de cor, luminosidade e visão geral.
Vale a pena voltar aos termos da exasperação de Victor de Jankovitz, que curiosamente perde o alcance da reflexão sem perder a capacidade de distinguir, a começar pela filiação realista do experimento pictórico em questão: “O autor nos representa, sob o nome de Olympia, uma jovem deitada sobre um leito, tendo por toda veste um laço de fita nos cabelos, e a mão, por folha de parreira. A expressão do rosto é aquela de um ser prematuro e dado ao vício; o corpo de uma cor apodrecida, recorda o horror do Necrotério (…) Ao lado dos erros de todos os gêneros e das incorreções audaciosas, encontra-se neste quadro um erro considerável, tornado impressionante nas obras dos realistas. Com efeito, se a maioria dos seus quadros afligem tanto à natureza e aos nossos olhos, é que a parte harmônica, que se liga à irradiação da luz e à atmosfera, é, por assim dizer, completamente sacrificada. De tanto eliminar o sentimento da alma, ou o espírito da coisa, na interpretação da natureza, as sensações dos olhos não lhes dão senão a cor local, como aos chineses, sem nenhuma combinação com o ar e a luz. Dir-se-ia que se trata de um ceticismo físico”.[ii]
Motim das sensações
Descartando-se o juízo de valor redondamente equivocado e algo cômico, o crítico notou e chamou de “ceticismo físico” a valorização cognitiva inédita da sensação e da fisiologia, de par com o esvaziamento do sentimento de unidade, outrora garantido pela premissa suprassensível do sujeito transcendental kantiano e reproduzido pela subjetividade romântica.
Implantou-se assim com a pintura de Édouard Manet um realismo cru e desalmado, que priorizava a sensação. Apareceram a diversidade das coisas e o conflito dos interesses. O desencantamento da luz, ao comportar a individuação e a materialização de cada cor, corresponde à experiência estética no mundo descontínuo; mundo sem unidade apriorística e, enquanto convertido em objeto de cálculo, passível apenas de unificação abstrata.
Conclui-se que o realismo republicano de Édouard Manet veio para instalar contra o unitarismo criacionista e contra o ilusionismo do “ancien régime” cromático o primado de uma disputa ou concorrência das cores. Se o branco e o preto reduzidos à sua inscrição como quantidades deixavam de simbolizar o espírito e as trevas, estabelecia-se o regime do livre-mercado das cores, francamente dissonantes como termos análogos de sensações distintas.
Para o entendimento do alcance histórico e político de tal passo, permitam-me insistir e até repisar que a unidade da luz constituíra uma verdadeira pedra angular para a tradição europeia dos dois séculos anteriores. Recordemos que o discurso pictórico do “luminismo” estabelecido ao longo do arco histórico iniciado por Caravaggio (1571-1610) e desenvolvido por Rembrandt (1606-69) e sucedâneos, e que se estendia pelo menos até a pintura romântica do “sublime”, ligava-se organicamente à ideia cartesiana de alma como substância ou natureza pensante e constituía, pois, o duplo ou o equivalente do ponto de vista judicativo do sujeito da razão.
A substituição na economia simbólica de tal dispositivo por outro – no qual o modelo monárquico e monocular da luz veio dar lugar ao choque das cores entre si, isto é, à impossibilidade da visão transitar suavemente de uma cor para outra – tem paralelo com mudanças radicais nas ordens econômica e social. Desse modo, a passagem difícil e abrupta de uma cor clara para outra, por exemplo, entre o branco, o creme e o rosa em Olympia, significava o fim do protocolo das conciliações tonais. Noutros termos, essa passagem escancarava a queda do olhar, precipitado das alturas em que prevalecia o “direito divino da infinitude e da transcendência” – integrando e unificando todas as cores –, para cair na sensibilidade crua da cartografia materialística dos interesses rivais – encarnados nas particularidades cromáticas.
Mas, em síntese, apesar da prevalência do princípio de oposição violenta sugerir uma situação conflituosa na qual se avivavam as diferenças como ruptura e caos, não se tratava ainda da fundação de um novo sistema visual. No caso, a cena assinalava antes desagregação generalizada e crise da ordem pictórica conturbada pela competição desenfreada das cores entre si.
Totemismo das cores
Antes de chegarmos à colagem – que pareceu à primeira vista constituir uma revolução na pintura –, passemos por outro momento de sua preparação no reino das sensações. Van Gogh (1853-90) e Gauguin (1848-1903) potenciaram mediante novos usos e técnicas cromáticas a tendência elaborada antes por Manet, de constituição de entes cromáticos que se repeliam.
Desse modo, dissociaram o uso da cor da gramática do plano, vale dizer, da lógica da profundidade e da unidade, esvaziando criticamente a possibilidade ou a credibilidade do dispositivo da chamada “cor local”, ou seja, da cor subordinada à função de índice natural ou de autenticidade do objeto, independentemente da espontaneidade do sujeito da percepção. Assim, Van Gogh introduziu uma nova concepção da cor e dessa operação crítica titânica nasceram os muitos céus de sua pintura, vazados em cores e traços táteis, de proximidade e tons nunca vistos antes na pintura europeia.
Desse modo, depurada e potenciada analiticamente a ponto de absorver as funções legisladoras do desenho, a cor tornou-se o novo fundamento da representação espacial. Com efeito, ao ganhar com Van Gogh a espessura e o estatuto de matéria, a cor viabilizou um novo modo de representação espacial dos volumes e da distância entre as coisas. As relações de massa e distância passaram a se traduzir em correntes de energia evidenciadas pela cor e pelos vestígios materiais das pinceladas – estas, não mais signos, mas índices físicos, sinais tal um rastro de um evento material sobre uma superfície.
A substituição da linha pela cor como novo padrão de medida do espaço não deve ser subestimada: a obra madura de Cézanne (1839-1906) nasceu entre outros fatores também dessa espécie de luta das cores, esboçada na estadia de Van Gogh na Provença, destronando – tal uma horda primitiva que trucida o pai – o império do desenho (como duplo do entendimento e da razão) sobre as demais faculdades plásticas. No caso a cor passou a valer como o “fio de Ariadne”. Conduziu Van Gogh e Cézanne ao triunfo contra o labirinto das aparências. Permitiu-lhes – tal como outros meios analíticos também permitiram a Marx (1818-83) e a Freud (1856-1939) – ir além de uma ordem espiritualizada de representações sobre o homem e a vida social e assentar os pilares de uma nova economia e sintaxe pictórica em bases materiais.
Por isso talvez se possa falar na elaboração de novos princípios e nova regulação para a pintura a partir do direito natural de seus insumos (suportes, cores, pinceladas etc.). Assim, quando doravante o espaço aparecer implicado, será não mais como forma mental apriorística, mas antes como instância de teor afetivo-corporal – por exemplo, os fluxos de energia evidenciados por Van Gogh –, espaço, pois, resultante da determinação recíproca entre sujeito e objeto.
Foi a partir desse novo patamar tanto quanto de uma releitura dos vitrais pelo pintor e escritor simbolista Émile Bernard (1868-1941), que Gauguin se lançou, para reconceber a ordem pictórica em termos de campos de cor independentes e descontínuos, ditos “cloisonnés“. Hoje também podemos distingui-los como uma protocolagem. Dessa colagem primeva nasceu uma nova espécie de luz objetivada no quadro. Tal operação constituiu o vetor principal do discurso de Matisse (1869-1954). Liberto do tabu que o enobrecia, o desenho também renasceu, mas doravante não mais como reflexo do entendimento, e sim filho de extração plebeia da tatilidade – mas esta é outra história, a da garatuja como linha-lúmpen, que nos levaria por outras vias.
Em conclusão, a questão da representação da luz ou da produção do valor pictórico, inerente à tradição religiosa e metafísica da pintura ocidental, foi superada neste novo patamar histórico pela de sua fabricação segundo relações exclusivamente cromáticas e de choque – ou seja, relações estabelecidas somente a partir do trabalho vivo das cores e da sua articulação ao modo de colagem, como porções descontínuas. Desse modo, na economia do novo regime cromático materialista, passou-se à produção da luz gerada da própria pintura, e não a partir da representação ou da alusão a um fenômeno extra-pictórico e altamente simbólico, senão até abertamente metafísico. Em duas palavras, passou-se a contar desde então com uma luminosidade direta nascida, não alhures, mas fabricada do próprio contraste, ou seja, do atrito recíproco das cores na tela.
Com Matisse, deixou de haver verossimilhança na evocação de qualquer unidade prévia, seja aquela da luz metafísica que supunha o tonalismo, seja aquela da fluência orgânica e própria do tempo do fazer artesanal. As composições de Matisse apareceram como constituídas de superfícies evidentemente apartadas e heterogêneas. Só que essas partes interagiam provocativamente constituindo uma colagem ou uma nova síntese entre partes distintas, e que permaneciam enquanto tal – daí talvez a felicidade erótica ou a utopia materialista que as obras de Matisse prometiam.
Entretanto quero sublinhar que uso nesta breve suma da história da pintura moderna tempos verbais do pretérito, porque o efeito de todas essas telas na era atual do totalitarismo neoliberal, e também do dito “fim da história”, é bem outro do que a narrativa da irrupção materialista que acabo de lhes fazer. Mas a liquidação das condições de possibilidade da experiência estética é também outra história, que ora não cabe abordar. Falei-lhes até agora de um mundo e de uma sensibilidade que desapareceram.
*Luiz Renato Martins é professor-orientador dos PPG em História Econômica (FFLCH-USP) e Artes Visuais (ECA-USP). É autor, entre outros livros, de The Conspiracy of Modern Art (Haymarket/ HMBS).
Para ler o primeiro artigo da série clique em https://aterraeredonda.com.br/o-regicidio-e-a-arte-moderna/
Extrato da versão original (em português) do cap. 11, “De um almoço na relva às pontes de Petrogrado (notas de um seminário em Madrid): regicídio e história dialética da arte moderna”, do livro La Conspiration de l’Art Moderne et Autres Essais, édition et introduction par François Albera, traduction par Baptiste Grasset, Paris, éditions Amsterdam (2024, prim. semestre, proc. FAPESP 18/ 26469-9).
Notas
[i] Uma das manobras características de Manet, nesse sentido, consistia em explicitar o teor fabricado da representação da luz, mediante o contraste de cores foscas com brilhantes; por exemplo, em Street Singer (ca. 1862, Boston, Museum of Fine Arts) e em Un Moine en Prières (Monk in Prayer, 1865, Boston, Museum of Fine Arts).
[ii] «L’auteur nous représente, sous le nom d’Olympia, une jeune fille couchée sur un lit, ayant pour tout vêtement, un noeud de ruban dans les cheveux, et la main pour feuille de vigne. L’expression du visage est celle d’un être prématuré et vicieux; le corps d’une couleur faisandée, rapelle l’horreur de la Morgue (…)
/ A côté d’erreurs de tous genres et d’audacieuses incorrections, on trouve dans ce tableau un défaut considérable, devenu frappant dans les oeuvres des réalistes. En effet, si la plupart de leurs tableaux affligent tant la nature et nos yeux, c’est que la partie harmonique qui tient aux rayonnements de la lumière et à l’atmosphère est pour ainsi dire complètement sacrifiée. A force d’éliminer le sentiment de l’âme, ou l’esprit de la chose, dans l’interprétation de la nature, les sensations des yeux ne leur donnent, comme aux Chinois, que la couleur locale nullement combinée avec l’air et le jour. On dirait du septicisme physique.” Apud T. J. CLARK, The Painting of Modern Life – Paris in the Art of Manet and His Followers, p. 96, n. 62 à p. 288, New Jersey, Princeton University Press, 1984.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA