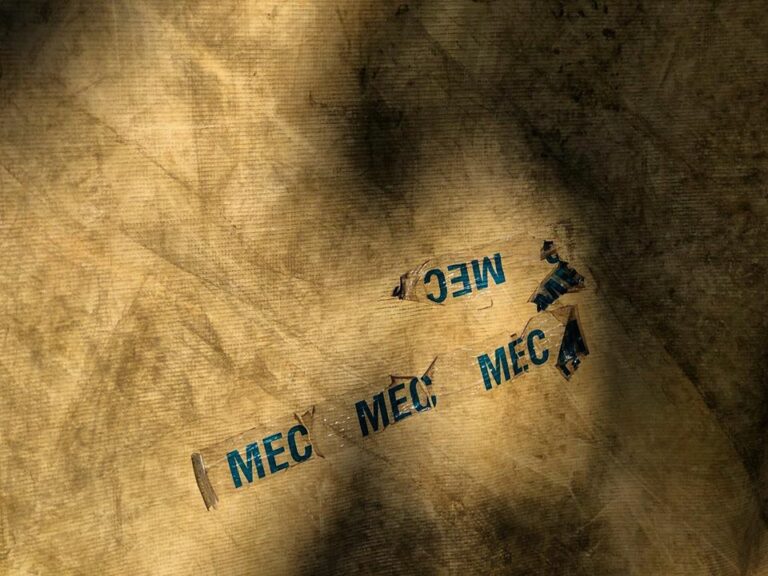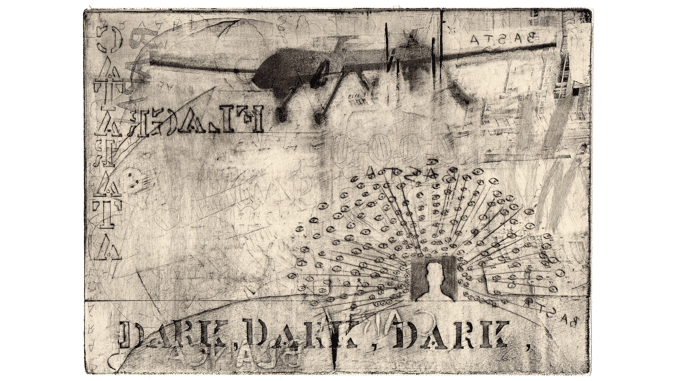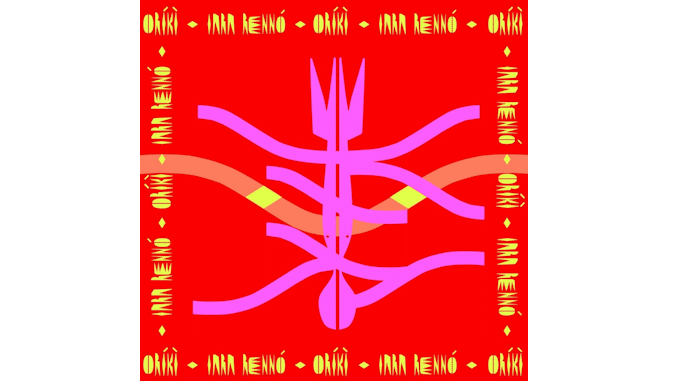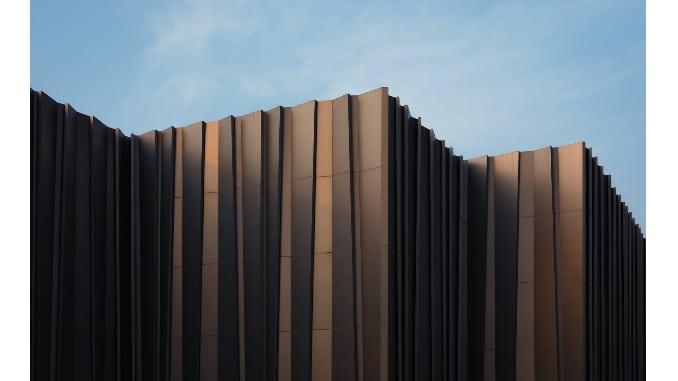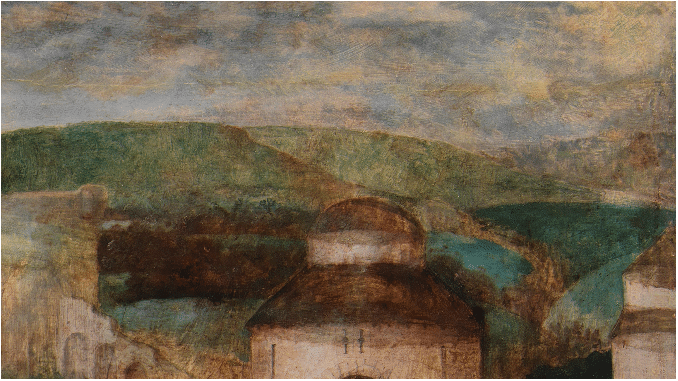Por GABRIEL CARVALHO*
O colonialismo é extremamente violento e deve ser combatido com o mesmo rigor que o nazismo
Certa esquerda antissemita aplaudiu de pé a fala de Lula equiparando o massacre em Gaza com o Holocausto, dizendo que ele busca “despertar os judeus”, através do choque da sua declaração, para o que está acontecendo. Muito se fala da forma sem observar o conteúdo da sua fala. É claro que um campo reacionário pró-Israel não aceita a caracterização de genocídio. Mas essa esquerda antissemita rejeita as críticas de judeus de esquerda ao conteúdo da fala de Lula como um todo, que não se trata da caracterização de genocídio, mas da linguagem que o presidente escolhe para fazer sua crítica. Vamos por partes.
Em primeiro lugar, Lula diz que a única coisa comparável ao massacre em curso em Gaza em toda a história, é o Holocausto, cometido contra os próprios judeus pelo nazismo. Nessa afirmação, Lula ignora uma série de genocídios recentes e que ainda estão sendo perpetrados e distorce a história do Holocausto para pintar Israel como o mal absoluto na Terra. Esse discurso já está tendo reverberações nefastas. Porque o efeito do discurso de Lula não é chocar as pessoas e chamar a atenção para um massacre em curso perpetrado por um governo genocida, mas a alimentação da ideia de que existe um mal singular e inigualável, a malevolência judaica, o signo máximo da maldade, só igualada pelos seus próprios algozes, os nazistas.
Pouco importa se Lula tinha a intenção de alimentar um discurso de equalização dos judeus aos nazistas e de banalização do Holocausto. O que importa é que esse é o efeito prático do seu discurso. Um crescimento de falas odiosas contra judeus, negacionistas e revisionistas do Holocausto e de discursos conspiratórios. O pacote completo do antissemitismo. Ora, se Israel é o “mal absoluto na Terra”, nada pode se comparar a esse povo que sofreu um genocídio com o qual “não aprendeu nada” e, contra um “povo genocida” que não aprende nada (como se o Holocausto tivesse sido um misto de colônia de férias com programa educativo de direitos humanos), tudo é válido e, diante dele, tudo é banal.
Inclusive os genocídios em curso hoje, muitos deles, diga-se de passagem, perpetrados pelos aliados geopolíticos do governo brasileiro. Se Israel é o “maior inimigo da humanidade”, hoje, é perdoável abraçar genocidas, autocratas, caudilhos e ditadores do “eixo da resistência” e dos “países não-alinhados”, esse campo fantasioso de anti-imperialismo dos imbecis (para emprestar um termo da militante síria Leila al-Shami, parafraseando um termo do judeu comunista August Bebel), que só existe nos delírios das viúvas carpideiras da guerra fria.
A reserva reacionária da esquerda festeja a bravata de Lula, exercendo seu antissemitismo socialmente aceito, com declarações inequívocas de hostilidade contra a comunidade judaica do país, fortalecendo o culto à personalidade de um presidente que não consegue entregar o que prometeu no seu programa eleitoral, mais uma vez e, dessa vez, adere ao ferramental comunicativo do bolsonarismo, apostando em pautas geopolíticas para mobilizar sua base, quando as pautas internas não saem do lugar. O interesse de Lula é inequívoco: ele quer aparecer como uma figura central na política mundial e, para isso, tenta costurar suas alianças para se consolidar como líder do “sul global”.
Isso não passa de uma compensação ideológica para sua base, haja visto que o governo não entrega o que promete como projeto eleito da dita “reconstrução democrática”. O genocídio ianomâmi em continuidade é só um dos sintomas de que o governo petista não está trabalhando no sentido do que prometeu. A vida dos brasileiros não está muito melhor do que há dois anos atrás. Então, ele precisa de um mecanismo de distração. E a política externa é esse espelho falso de radicalismo político de um governo que segue reproduzindo as políticas neoliberais dos seus antecessores, defletindo essa realidade com a ilusão de que temos um estadista disposto a “peitar o imperialismo”. E isso é um prato cheio para oposição de direita oportunista, que instrumentaliza a barrigada diplomática de Lula pelos seus próprios interesses políticos escusos.
Mas essa mobilização da oposição de direita não anula o fato de que, no Brasil, existe uma esquerda estéril, tosca e míope, que se agarra em bravatas de um anti-imperialismo de goela, sobre um conflito a dez mil quilômetros de distância, sobre o qual não têm qualquer influência ou envolvimento direto, para satisfazer seu ego ferido diante da sua própria incapacidade de construir qualquer tipo de mudança ou melhoria de vida na prática, dentro de casa.
Mas a questão aqui é mais profunda do que isso. A esterilidade da esquerda mundial, sobretudo a esquerda ocidental, que acumula décadas de derrotas políticas e não entrega qualquer alternativa revolucionária desde o ocaso do “socialismo real”, se agarra desesperadamente a um conflito externo, o conflito israelense-palestino, como uma última esperança de “mostrar serviço” diante da vacuidade do seu programa “anti-imperialista”, que coleciona alianças espúrias com regimes reacionários e, sobretudo, abertamente contrarrevolucionários, como os de Vladimir Putin, Bashar al-Assad e a ditadura dos aiatolás no Irã.
Esse desespero por ter, nessa geração, um Vietnã ou uma Sierra Maestra para chamar de sua, faz com que uma grande parcela da esquerda enxergue em organizações reacionárias como o Hamas ou o Hezbollah, a última salvação da humanidade contra o mal supremo do sionismo. Mas essa equiparação do nacionalismo judaico (ou, pelo menos, a alternativa de nacionalismo judaico que sobreviveu ao extermínio nazista, já que, antes, o projeto de emancipação nacional dos judeus se dividia entre, pelo menos, duas alternativas preponderantes, o sionismo – e, aí, estava contido o sionismo marxista do Poalei Zion – e o nacionalismo judaico diaspórico do Bund) com o imperialismo e o colonialismo não é uma posição si ne qua non do marxismo, surgida ex nihilo no interior do programa comunista, como o homem do barro na narrativa bíblica ou os vermes da abiogênese num pedaço de carne podre em laboratório. O antissionismo tem uma raiz e um ponto inicial específico na história do movimento comunista.
Na história do movimento comunista do início do século XX, a oposição ao sionismo se imiscuía numa posição generalista antinacionalista, fundamentada num internacionalismo radical: o sionismo não é uma alternativa para a libertação dos judeus porque o Estado-nação não é a resposta para a emancipação judaica. Marx, de forma um tanto premonitória (já que, vale lembrar, o sionismo ainda não existia na primeira metade do século XIX), já sublinhava essa problemática em Sobre a Questão Judaica.
A política é um campo de alienação e apostar na política como via de emancipação humana é apostar no fracasso anunciado. Assim, um lar nacional judaico não necessariamente resultaria na emancipação dos judeus. No entanto, a despeito dessa posição preponderante no meio comunista, na primeira metade do século XX surgiram movimentos marxistas sionistas. Judeus comunistas que viam um Estado judeu como a única alternativa contra o antissemitismo na diáspora judaica. Enquanto outros socialistas judeus, marxistas e não-marxistas, apostavam, ou num nacionalismo judaico diaspórico como o do Bund, ou numa adesão ao programa dos revolucionários bolcheviques.
Quem estava certo pouco importa, o que importa é que, diante do forte antissemitismo que se imiscuía no movimento revolucionário, judeus bolcheviques e não-bolcheviques, como os comunistas do Poalei Zion e os judeus socialistas do Bund, capitularam ao governo soviético como forma de tentar combater, ocupando o aparelho do Estado soviético, o antissemitismo dentro das fileiras do próprio movimento bolchevique, sobretudo no exército vermelho, que, durante os anos da guerra civil, esteve envolvido numa série de pogroms realizados na zona de assentamento judaico no território russo e na Ucrânia, como na brutal onda de pogroms de 1919 liderada pelo militar desertado do exército vermelho, Nikifor Grigoriev.
Cito tudo isso para lembrá-los que, mesmo diante de violências, negligências e, simplesmente, sabotagens da própria direção revolucionária, os judeus não abriram mão do compromisso com a revolução socialista. Mesmo com a perseguição política de caráter abertamente antissemita do regime stalinista a militantes revolucionários judeus, os judeus soviéticos permaneceram defensores fieis da revolução socialista. E, na guerra contra o nazismo, foram ferrenhos e aguerridos defensores do Estado soviético.
Após o fim da segunda guerra mundial, diante do extermínio de dois terços da população judaica da Europa e um terço dos judeus a nível global, era impossível ignorar a questão do antissemitismo genocida. À vista do genocídio nazista, a recém-fundada Organização das Nações Unidas, com o aval da maioria dos países latino-americanos e da própria União Soviética, recomendou a fundação do Estado judeu no território do antigo mandato britânico da Palestina. As lideranças árabes se opuseram a isso. Uma guerra violentíssima entre judeus e árabes foi travada entre 1947-1948. O que se seguiu, é de conhecimento geral. Mas, por que a URSS passou de defensora e, mais do que isso, garantidora militar da fundação do Estado judeu (já que, vale lembrar, os israelenses foram armados contra os árabes pela República Socialista da Tchecoslováquia com aval da União Soviética) para uma ferrenha opositora de Israel?
A história do antissionismo contemporâneo começa em 1956, quando o conflito entre Israel e os países árabes passou a ser projetado como uma extensão do conflito da guerra fria, quando os soviéticos passaram a se aproximar cada vez mais do nacionalismo árabe e Israel dos países ocidentais, capitalistas. Mas a ruptura completa só se dá em 1967, após a derrota de Nasser na guerra dos seis dias. Coincidentemente, também foi em meados da década de 1960 que a OLP foi fundada. E essa é uma data importante porque, vale salientar, aqui, a ideia de uma nacionalidade palestina só passou a ser reivindicada no final da década de 1960.
O conflito árabe-israelense era precisamente isso: um conflito entre árabes e judeus. Parece uma afirmação polêmica, mas basta ler as declarações das lideranças árabes, em especial as de Nasser, para verificar que o conflito não se tratava de uma luta pela autodeterminação nacional dos palestinos, mas uma luta contra a fundação de um Estado judeu no coração do mundo árabe.
A partir daí, a posição do movimento comunista alinhado à URSS foi o de uma oposição ferrenha ao sionismo. E tal oposição tinha como uma de suas principais ferramentas a distorção histórica. De um projeto nacional para um povo perseguido por milhares de anos na diáspora, a população judaica de Israel passa a ser pintada pela propaganda antissionista como um projeto imperialista de colonização do Oriente Médio. Toda essa distorção histórica ignora que a imigração judaica para a Palestina foi pesadamente barrada pelo imperialismo britânico, em aliança com as lideranças árabes, com os judeus sob a ameaça mortal do nazismo. E que o imperialismo britânico armou essas mesmas lideranças árabes contra os judeus na guerra de 1947-1948.
E, é claro, esse antissionismo, lá, como hoje, teve reverberações antissemitas. Na URSS, judeus eram acusados, julgados e condenados falsamente por “complô” com Israel, na Tchecoslováquia, a mesma que havia armado os judeus contra os árabes em 1947-1948, judeus veteranos da luta contra o nazismo, da velha guarda do movimento comunista, eram presos e torturados para confessar serem espiões em conluio com o imperialismo. Marchas antissionistas na URSS eram acompanhadas de caricaturas antissemitas semelhantes às utilizadas pelos nazistas e, até mesmo, pela imagética medieval antijudaica. A experiência histórica mostra que a linha que separa o que é “apenas antissionismo” e o antissemitismo mais inequívoco sempre foi borrada.
Mais do que duras críticas ao regime sionista, a virada de chave na geopolítica da defesa do Estado judeu para a defesa do nacionalismo árabe, reabilitou no vocabulário da esquerda uma série de tropos antissemitas. A esquerda ocidental, agora convertida em porta-voz do nacionalismo árabe diante da conjuntura da guerra fria, se via reverberando, como hoje, negacionismo e revisionismo do Holocausto, como a ideia difundida no meio antissionista de que o Holocausto foi um complô sionista para justificar a criação do Estado judeu (!).
Mas, nós só conseguimos entender a mentalidade do campismo pseudorrevolucionário com o ocaso das revoluções socialistas e de libertação nacional, que se esgotaram no fim da década de 1970 e início da década de 1980, quando o giro para o terceiro-mundismo do movimento comunista dá sua volta completa, com a adesão da esquerda ocidental à revolução iraniana. Pouco importa se o regime dos aiatolás massacrou os comunistas que apoiaram a revolução contra o Xá, essas são meras “sensibilidades eurocêntricas” e o que importa é que o Irã, agora, era mais um aliado contra o “eixo do mal”, EUA, Europa e Israel e seus aliados.
A esquerda brasileira, é claro, sempre esteve alinhada aos giros do movimento comunista, sobretudo do campo soviético. Do stalinismo, passando pelo “revisionismo” khruschevista, até a adesão à posição geopolítica da guerra fria. Só que, com o ocaso da URSS e do “socialismo real”, essa esquerda pseudorrevolucionária e antissemita ficou conectada umbilicalmente ao cadáver insepulto da guerra fria, herdando sua caricatura na forma da política de “não-alinhamento” do “eixo da resistência”.
E, com a derrota política, também, do movimento de libertação nacional palestino, o antissionismo herdou a conexão umbilical à caricatura desse movimento de resistência palestino, que são as organizações fundamentalistas como o Hamas, a Jihad Islâmica e o Hezbollah. Nenhuma dessas organizações tem como objetivo um programa revolucionário de emancipação dos palestinos, mas, como têm a destruição de Israel como seu programa máximo, são abraçadas com unhas e dentes por uma parcela da esquerda que enxerga no fim de Israel a sua última chance de redenção após décadas de esterilidade política.
No entanto, a posição de defesa da destruição de Israel como a única alternativa ao massacre contra os palestinos não foi majoritária no campo da esquerda até recentemente. Após o fim da OLP e o enfraquecimento do Fatah com a ajuda da extrema-direita israelense, que fomentou a ascensão política do Hamas na faixa de Gaza e, em especial, após a segunda intifada e o recrudescimento da violência no regime de apartheid da ocupação israelense nos territórios palestinos, uma solução de dois Estados perdeu força. O que não quer dizer que a sua conclusão lógica fosse que uma solução de um Estado único, multiétnico, laico, também estivesse fora de cogitação. Mas a miopia política da esquerda e o fetiche pelo exterminismo tem falado mais alto e, assim, muitos no movimento antissionista tem preferido erguer a voz de organizações reacionárias, ao invés de dar ouvidos às organizações de esquerda que fomentam a solidariedade entre palestinos e judeus contra a ocupação.
Essa guinada exterminista da esquerda produz uma série de posições altamente reacionárias, que se traduzem em revisionismo e negacionismo histórico. A fundação de Israel deixa de ser uma consequência do extermínio nazista e passa a ser o objetivo desse extermínio. E a afirmação da singularidade do Holocausto deixa de ser uma questão de rigor metodológico com a historiografia, sem o qual não é possível compreender a particularidade do genocídio nazista e passa a ser uma questão de afirmação de excepcionalidade do Holocausto, sem o qual não é possível defender a legitimidade de um Estado judaico.
A partir dessa distorção da realidade, os setores mais fanaticamente anti-Israel da esquerda parecem viver numa realidade paralela de negacionismo das mortes, sequestros e estupros de judeus no atentado terrorista do Hamas em 7 de outubro de 2023, onde tudo não passa de uma peça de propaganda orquestrada pelo Estado sionista para justificar uma incursão genocida em Gaza. Ao mesmo tempo, nessa realidade paralela, todos os massacres e as inequívocas ações genocidas cometidas pelos países aliados do “mundo multipolar” defendido por essa esquerda, que já se tornou anacrônica e uma caricatura de si mesmo, como o massacre em Darfur, a limpeza étnica no Curdistão, a guerra prolongada na Ucrânia e a repressão violenta contra os opositores do regime dos aiatolás no Irã, quando não são veementemente negados, são celebrados.
Nesse quadro de celebração de uma violência vazia e exterminista, uma grande parcela da esquerda antissionista abandona a solução de dois Estados ou a criação de um Estado único para judeus e árabes, para apostar na escalada da guerra, como o jornalista Breno Altman, que, recentemente, defendeu o envolvimento dos inimigos históricos de Israel numa guerra de aniquilação total. Que grande parte da esquerda não veja outra alternativa a não ser a completa terraplanagem do Oriente Médio numa guerra fratricida entre judeus e árabes é sintomático de um fenômeno do capitalismo em sua fase terminal.
A esquerda pretensamente revolucionária como partidária de uma espécie de “escatologia laica”, um momento apocalíptico em que a destruição de Israel, como último resquício do mundo colonial, será o ponto fulcral para levar adiante um movimento mundial de conscientização e luta contra a barbárie imperialista. Mas há, como já demonstrado acima pelas alianças espúrias dessa parcela reacionária da esquerda, uma série de contradições em jogo que me fazem duvidar que essa seria a Canaã a que chegaríamos.
Em primeiro lugar é o misto de miopia e hipocrisia dos que se arvoram a líderes dos povos oprimidos da Terra. Lula tem um genocídio de 500 anos debaixo do seu nariz para comparar com o que Israel faz com os palestinos. Mas por que ele escolhe comparar com o nazismo? Eu tenho um palpite. Mas eu não o tirei do nada. Existe um ensaio de Moishe Postone chamado O Holocausto e a Trajetória do Século XX, em que o historiador aponta que o antissionismo operou como uma forma de higienização da história europeia pós-Holocausto, através da projeção da situação dos palestinos sobre a própria Europa culpada pelo genocídio judaico, como oprimido pelos “judeus poderosos”, agora proprietários de um Estado-nação, fundado, como todos os países, sobre enorme violência.
Como a Europa “premiou” os judeus com um Estado fundado sob o território do antigo mandato britânico da Palestina, a esquerda europeia se achou isenta da tarefa de lidar com o seu próprio passado recente de genocídio, o do Holocausto e o colonialista. Agora, com a formação de Israel e a ocupação do território palestino após a guerra dos seis dias, a esquerda ocidental achou uma “minoria modelo” privilegiada para projetar sua culpa branca pelo passado colonialista da Europa.
Muito bem, o Brasil também é um Estado fundado sobre um massacre, e opera um genocídio contínuo contra seus povos originários. Por que, então, Lula escolhe o projeto nazista (cheio de distinções fundamentais com a história de Israel, para além da falta de tato da comparação) como paralelo? Porque, ao comparar os judeus com os nazistas, se opera uma completa higienização do passado recente de genocídio judaico. Ora, se os judeus de hoje são os nazistas de ontem, isenta-se da tarefa de lidar com o extermínio judaico, pois os judeus “não aprenderam nada” com o nazismo. (Ou aprenderam, mas para repeti-lo?) Além disso, essa projeção é mais uma forma do antissemitismo em seu traje de antissionismo, de pôr os judeus como uma força invasora, agora no Oriente Médio, a qual “não pertencem”, pois a nação judaica seria um “projeto europeu” de colonização, o que, por um lado, nega a origem dos judeus, como povo em diáspora, no Oriente Médio e, por outro, nega a legitimidade da autodeterminação judaica pois os judeus são um “povo inventado” na Europa, um projeto ocidental para invadir e colonizar o mundo árabe.
Por que Lula não traça um paralelo entre a situação dos palestinos e a situação dos povos originários no Brasil? Porque não compara o genocídio de Israel com o que é operado pelo “eixo da resistência” contra os curdos? Ou com o genocídio armênio operado pelos turcos? Não é só porque ele não quer melindrar esses países que são seus aliados geopolíticos no projeto de “contrahegemonia” dos BRICS. Quando Lula se refere aos judeus como “esse pessoal”, ele deixa claro que não enxerga a comunidade judaica como parte da comunidade nacional. Lula escolheu a comunidade judaica como inimigo interno da vez, fazendo o velho discurso da dupla lealdade judaica. Com a sua base, está colando. Os judeus, mesmo os de esquerda, já são tratados sob suspeita. E o pedágio ideológico ficou mais caro.
Além disso, quem está aplaudindo a fala do Lula ignora um fato relevante. A principal indústria de Israel é a da segurança. Porque Israel é um país envolvido em guerras. As parcerias comerciais do Brasil com Israel não começaram no governo Bolsonaro. Elas se desenharam desde o governo Lula. E essas parcerias tiveram uso justamente onde? Nas tecnologias de segurança. Lula não estava interessado nas deliciosas tâmaras do deserto da Judeia. Mas nos caveirões. Ora, se a biopolítica/necropolítica do apartheid de Israel contra os palestinos em Gaza e Cisjordânia só pode ser comparado ao nazismo, o que isso nos diz sobre a política de segurança pública com tecnologia militar israelense do governo petista?
O discurso pseudo-radical de Lula não passa de bravata. Israel “justifica” sua forte indústria militar por estar envolvido há décadas em conflitos com inimigos externos. Qual é o inimigo do Brasil para justificar que se arme tão fortemente quanto Israel? O Brasil trava uma guerra para dentro. E, nem Lula está fazendo nada de efetivo enquanto líder nacional com certo poder nos organismos multilaterais (como o conselho de segurança da ONU) para avançar o fim do massacre em Gaza, nem vai romper laços comerciais com Israel. Então, seu antissionismo é mais um exercício retórico de um bravateiro de mão cheia.
É claro que, como Lula, o governo israelense (como todo Estado-nação beligerante) também opera suas bravatas. Se a tecnologia militar israelense comprada pelo Brasil é usada nas favelas para operar o genocídio da população negra, é porque essa mesma tecnologia já foi testada pela política de ocupação do apartheid israelense nos territórios palestinos.
Mas o problema do discurso de Lula não passa apenas pela sua hipocrisia. Se trata, também, da atitude discriminatória que ele alimenta. Desde que a ofensiva israelense se iniciou em Gaza após o 7 de outubro, diversos casos de antissemitismo foram reportados no mundo. Uma sinagoga foi destruída na Tunísia, uma líder religiosa judia foi morta a facadas na porta de casa no Brooklyn, passageiros vindos de Tel Aviv desembarcando no aeroporto de Makhachkala, na Rússia, foram encurralados por uma multidão de antissemitas a caça de judeus, sinagogas e instituições judaicas têm sido depredadas e pichadas no Brasil, onde, também, a loja de uma mulher judia na Bahia foi invadida e ela agredida por uma mulher que gritava dizeres antissemitas enquanto quebrava seus produtos e avançava para cima dela. Outras “ocorrências menores” como o chamado para boicotar estabelecimentos e instituições judaicas, além da acusação a instituições judaicas nacionais de serem “estrangeiras”, que “vão contra os interesses nacionais” (como se a população judaica do país não fizesse parte da comunidade nacional), também se acirraram nos últimos meses.
Antissemitas oportunistas dizem que toda essa escalada de antissemitismo se trata de uma mera reação natural, até mesmo humanitária (!), em resposta ao massacre na faixa de Gaza. Essa é uma onda inequívoca de antissemitismo. Se toda a população judaica fora de Israel passa a sofrer ataques pelo que é cometido pelo Estado de Israel, o que observamos é uma responsabilização coletiva de um povo por uma violência cometida “em seu nome”. Essa visão da comunidade judaica como integrantes de uma espécie de “mente de colmeia”, coletivamente responsável pelas ações de um país, ressoa os clichês antissemitas do judaísmo internacional evocados pelo antissemitismo genocida.
Esse oportunismo exerce um sequestro ideológico da segurança dos judeus, para quem eles prometem que, para que sejam respeitados e vivam em paz, basta que se coloquem veementemente contra a existência do Estado de Israel, pedindo o seu fim. Mas essa premissa tem uma falha fundamental. Ora, se Israel é a causa do antissemitismo hoje, o que os judeus deveriam ter feito antes da existência de Israel para conter o antissemitismo? O que a comunidade judaica deveria ter feito para que o antissemitismo nazista não existisse? O que os judeus soviéticos deveriam ter feito para que a perseguição aos judeus pelo regime stalinista cessasse? O que os judeus do império russo deveriam ter feito para que os pogroms não fossem cometidos? O que os judeus do Oriente Médio deveriam ter feito para não serem dhimmis, cidadãos de segunda classe, nos países árabes? O que os judeus na Europa Medieval deveriam ter feito para não serem perseguidos pela inquisição, jogados em guetos e mortos nas cruzadas? Etc., etc… Qual razão os judeus têm para acreditar que basta assumir uma posição antissionista para que o antissemitismo na esquerda acabe? Nenhuma. Porque a raiz do antissemitismo moderno não é Israel. A raiz do antissemitismo moderno não é nem sequer o comportamento, cultura, religião ou o engajamento político dos judeus.
A raiz do antissemitismo moderno é o fetichismo social da sociedade da mercadoria. Como Moishe Postone vai demonstrar de forma brilhante em seu ensaio seminal Antissemitismo e Nacional-Socialismo, o ódio aos judeus é uma deflexão anticapitalista romântica, que projeta nos judeus as características mais abstratas do capitalismo. Importando signos do antijudaísmo cristão medieval e os repaginando para uma linguagem contemporânea, o antissemitismo moderno transfere a ideia da ganância, deslealdade e parasitismo judaico do mundo medieval para a ideia do complô judaico mundial por trás do imperialismo, do capital financeiro, da globalização, etc., numa visão de mundo onde os judeus são a encarnação do capitalismo. Apenas com o extermínio daqueles que incorporam o lado negativo do valor, é que a humanidade poderá ser libertada da dominação pelo abstrato.
E, de forma muito auspiciosa, a partir desse mesmo ensaio, podemos compreender o erro crasso da banalização do Holocausto cometido por Lula. A banalização do Holocausto no seu discurso não se dá porque o genocídio dos judeus é único, incomparável e inigualável (embora o próprio Lula afirme esse caráter, com a única exceção do massacre de Gaza). Mas porque o genocídio dos judeus tem uma especificidade histórica fundamental para a sua compreensão. O nazismo vitimou outros grupos? É claro. Mas é impossível compreender o nazismo sem colocar no centro da questão o antissemitismo. E por que essa centralidade? Explico.
Os nazistas vitimaram, além dos judeus, o povo romani, eslavos, negros, pessoas LGBT, deficientes físicos e, até mesmo, testemunhas de Jeová. Para eles, todos esses indivíduos eram raças inferiores, traidores da raça ariana, impuros raciais, sub-humanos, etc. Mas os judeus ocupavam um lugar especial no imaginário nazista. Para os nazistas, os judeus eram a anti-raça. Na visão antissemita nazista, o judeu era como um anti-humano, um parasita que infectava e apodrecia o mundo de dentro para fora. Além disso, o antissemitismo era o elemento que amarrava todas as contradições do nazismo. Seu anticomunismo, antiliberalismo, sua visão antidemocrática e antimoderna. Isso porque, para os nazistas, todas essas coisas a que eles se opunham eram de origem judaica.
Para o nazista, o judeu e o judaísmo eram o fundamento de tudo que enfraquecia a raça superior. As ideias universalistas e contrahegemônicas dos pensadores judeus, em todos os campos da cultura, filosofia, ciência, política, se punham em oposição direta à visão de mundo racista e supremacista do nazismo. Por isso, para eles, era fundamental extirpar a “raça judaica”, a “anti-raça” da face da Terra. E, em razão disso, foi desenhada a “Solução Final para a Questão Judaica” na conferência de Wannsee, em 1942. Os nazistas não eram meramente racistas, eles viam os judeus como o mal absoluto que ameaçava a humanidade. Tudo que tocava o “espírito judaico” precisava ser exterminado. Quando dizemos que o nazismo é uma ideologia de extermínio total dos judeus, isso não é uma hipérbole. A ideia de extermínio total dos judeus era tão radical que, até onde houvesse apenas um único judeu, os nazistas iriam para lhe dar cabo.
O antissemitismo foi um elemento tão central da ideologia nazista que toda a economia e todos os esforços materiais tecnológicos e industriais da Alemanha foram centralizados para a construção da máquina de morte impessoal e industrial nazista. A particularidade do antissemitismo e a singularidade do Holocausto não estão nos seus métodos (muitos deles emprestados da experiência colonialista europeia), mas no seu objetivo: o extermínio total, racionalizado e industrializado dos judeus, como cifras ocultas, personificações do abstrato, que entravam nos fornos crematórios dos campos de concentração para dissipar o valor de troca como fumaça nas chaminés das fábricas de destruir valor que eram os campos de concentração nazistas, deixando para trás apenas os seus valores de uso: suas roupas, seu ouro, seu cabelo e sua gordura para fazer sabão.
Sim, o Holocausto, como um genocídio, pode ser usado como parâmetro de comparação para outros eventos históricos. A questão, aqui, é como ele é usado. A comparação vem para sublinhar a barbaridade que se assemelha à do Holocausto ou para menosprezar o genocídio judaico? Quando Aimé Césaire compara o colonialismo como o Holocausto, ele não o fez para menosprezar a morte de seis milhões de judeus. Mas para demonstrar o quanto o colonialismo era extremamente violento e deveria ser combatido com o mesmo rigor que o nazismo. O aberrante é ver pessoas, hoje, utilizando as palavras de Aimé Césaire para fazer o exato oposto. Comparar números de mortos e dizer que “não morreram tantos judeus no Holocausto quanto negros no período da escravidão”, negar o caráter racista do Holocausto dizendo que ele “foi cometido contra brancos” (quando a ideologia nazista deixa explícito que judeus não são brancos aos seus olhos e, ainda por cima, ignorando os séculos de etnocídio contra os judeus na diáspora que resultaram na “branquitude” de judeus europeus, que, como para todo povo racializado, é relativa e contingente), etc.
Mas o Holocausto é um evento histórico, com suas especificidades e particularidades. Ele não é uma categoria, um “tipo ideal”, uma abstração analítica e não deve ser utilizada como tal, sob risco de perder totalmente o seu sentido histórico. O Holocausto foi um genocídio, mas ele não é sinônimo de genocídio e os genocídios só são corretamente caracterizados quando, enquanto eventos históricos, tem as suas particularidades levadas em conta.
Ao fim e ao cabo, o que está acontecendo em Gaza é, indubitavelmente, um genocídio, um massacre em absoluto, independentemente das atrocidades cometidas pelo Hamas, afinal, o morticínio de palestinos em Gaza precede a ofensiva israelense pós-7 de outubro. Resta nos perguntarmos que tipo de posição a esquerda está tomando diante disso e a quais consequências políticas essas posições têm levado. Um exemplo ilustrativo do contraste profundo entre uma crítica consequente e propositiva à ocupação israelense da Palestina e uma visão exterminista da questão (segundo a qual o conflito é um jogo de soma zero, onde a resolução só se dará com a completa destruição de um povo pelo outro), foi o caso do chamado do movimento BDS para que boicotem a organização Omdim Beyachad/Naqif Ma’an (“Permanecendo Juntos”, em hebraico e árabe), uma organização de árabes e judeus de Israel, anticapitalista e anti-ocupação, sob acusação de serem uma “organização que normaliza Israel” e que faz whitewashing do genocídio palestino.
Isso porque o BDS não admite qualquer posição crítica a Israel que não seja acompanhada de um boicote aos judeus. E, como a organização Omdim Beyachad/Naqif Ma’an preza por uma construção política de solidariedade entre judeus e palestinos, essa é uma posição inaceitável para o BDS. O que nos conforta é saber que judeus e judias comunistas não dependem da aprovação política de antissemitas de esquerda para atuar pela coexistência pacífica entre judeus e árabes. E organizações como o B’Tselem (“Feito à Imagem [de D’us]”, em hebraico)continuarão a denunciar os crimes da ocupação israelense e lutar por uma saída para o genocídio palestino e a construção da paz entre judeus e árabes.
*Gabriel Carvalho é cientista social e pesquisador científico na Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA