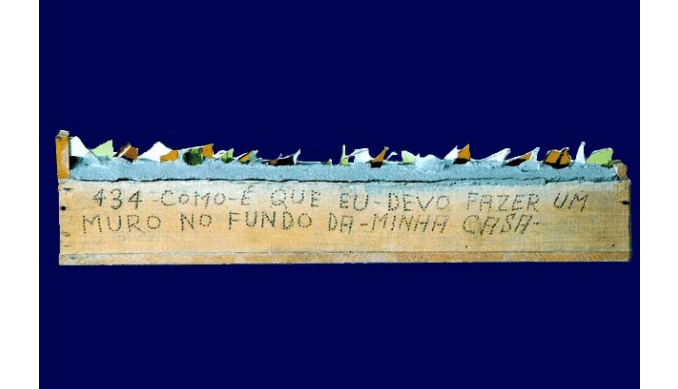Por SUSANA DE CASTRO*
A geopolítica do conhecimento impõe a todos os países do mundo a epistemologia hegemônica baseada em categorias modernas universais de pensamento
“Feminismo decolonial” nomeia uma corrente dos feminismos subalternos, contra-hegemônicos, que incluem também os feminismos pós-coloniais, negro, comunitário e indígena, cujas representantes, intelectuais não brancas, denunciam o racismo de gênero e a forma como a geopolítica do conhecimento silencia as vozes das intelectuais e dos intelectuais subalternos, isto é, todas as pessoas não brancas, indígenas, negras, chicanas, latinas, indianas, asiáticas, afrodescendentes, mestiças, imigrantes, e as vozes de sexualidade dissidente, pessoas transexuais, gays e lésbicas dos países periféricos do capitalismo (antes chamados de países do terceiro mundo, em desenvolvimento).
A geopolítica do conhecimento – dominada pelos países centrais do capitalismo, pelo continente europeu e pelos Estados Unidos – impõe a todos os países do mundo a epistemologia hegemônica baseada em categorias modernas universais de pensamento. Assim, quem está autorizado a falar em nome da raça humana e de toda a população do planeta são somente os intelectuais e acadêmicos dos países centrais, pois eles estariam mais capacitados a perceber o todo da questão, o todo do problema, de modo neutro e imparcial. As mulheres e os homens subalternos não têm autoridade e lugar de fala nessa geopolítica, porque a perspectiva a partir de um país não desenvolvido é sempre vista como parcial e incompleta, por não ter o domínio das categorias universais de análise.
O feminismo decolonial – constituído por intelectuais latino-americanas, afrodescendentes, mestiças, não brancas – denuncia a origem da geopolítica injusta do conhecimento na experiência colonial europeia nas Américas. A colonização europeia representa um marco na constituição de uma matriz capitalista-patriarcal de dominação econômica e intelectual que perdura até hoje, sustentando as desigualdades socioeconômicas e as desigualdades entre nações.
Além disso, o feminismo decolonial incorpora duas questões centrais do feminismo negro norte-americano: a não fragmentação das opressões e a desuniversalização do sujeito “mulher”.
A fragmentação das opressões é uma forma de dominação, pois nenhum oprimido subalterno sofre apenas um tipo de opressão. Todas as raças e nacionalidades subalternizadas são oprimidas pelo menos racialmente e economicamente, de modo que falar do racismo ou do sexismo sem falar da distribuição desigual de riquezas é desviar a atenção do fato de que a origem dessas opressões está no sistema capitalista mundial, ao mesmo tempo que não se questiona o próprio lugar de fala privilegiado desde o centro do capitalismo global. Além disso, a fragmentação das opressões serve também para separar e desunir, para dominar. Uma comunidade fragmentada, na qual homens e mulheres são inimigos uns dos outros, é dominada muito mais facilmente do que uma comunidade em que homens e mulheres são unidos pela solidariedade racial e de classe, e por laços comunitários.
Como o restante dos feminismos subalternos, o decolonial também não se vê reconhecido na representação do feminismo pelo feminismo hegemônico-liberal-branco-ocidental-heterocentrado. As experiências e vivências de um corpo feminino racializado, cis ou trans, e pobre, em países da periferia global é tão própria que não há como alguém que nunca viveu sob as mesmas condições saber seu significado ou poder descrever suas dores. Os feminismos, portanto, são diferentes, porque há inúmeras formas de viver em um corpo feminino. Mas quando o feminismo mainstream reivindica a universalização da opressão de gênero como se essa opressão atravessasse todas as culturas e classes sociais, e se sobrepusesse a outras formas de opressão, o que ele está fazendo, na verdade, é também oprimir. Isso é racismo de gênero.
A categoria “gênero” faz parte do sistema moderno-colonial eurocêntrico de dominação. Na medida em que o feminismo hegemônico reitera a centralidade dessa categoria de análise, ele é cúmplice e copartícipe do modelo de dominação mundial do capitalismo – que se fundamenta na separação entre ricos e pobres, entre países periféricos e centrais.
Na primeira fase do capitalismo global, iniciada com a invasão do continente sul-americano pelos colonizadores europeus no final do século 15, “gênero” foi, ao lado de “raça”, uma das categorias fundamentais usadas para exercer o controle e a dominação das populações nativa e escravizada. O poder e o domínio do colonizador sobre o colonizado, a população nativa e os negros escravizados trazidos do continente africano não se davam exclusivamente pelo uso de força e violência, mas também, e principalmente, pelo exercício do domínio psicológico e epistêmico (= colonialidade do ser e do saber).
A invasão do continente latino-americano coincide com o início da era moderna na Europa, mas normalmente os manuais sobre as histórias das ideias não associam os dois eventos. Para os intelectuais latino-americanos reunidos em torno do grupo que ficou conhecido como Grupo Modernidade/Colonialidade, no entanto, os dois eventos estão intrinsecamente ligados: a colonização é o lado escuro e oculto da modernidade. Filósofos europeus deram sustentação ao projeto exploratório colonial, pois nessa mesma época descreviam a humanidade por oposição ao natural e ao animal. O humano, diferente de toda a natureza não pensante, era pelo pensamento separado do mundo para melhor controlá-lo e dominá-lo. Dotado de uma racionalidade do tipo instrumental, a racionalidade para a qual a natureza é meio para o ser humano atingir seu progresso material e econômico, o colonizador não se apresentava mais como um conquistador de territórios e povos como antigamente, mas como um representante da cultura europeia elevada e civilizada – por oposição à cultura inferior dos povos nativos, presos à natureza. A não humanidade dos não europeus “autorizava” que os europeus os explorassem da mesma forma como faziam com os animais, sem dó nem piedade. Assim, o europeu colonizador branco identificou nos corpos não brancos de africanos e indígenas uma diferença “racial” que representava também uma diferença de graus de humanidade. Quanto mais escura a pele, mais bárbaro e não humano era o indivíduo, e isso justificava a exploração de sua força de trabalho da mesma forma que a natureza das colônias servia à economia extrativista europeia.
A sociedade colonial era, portanto, organizada a partir da divisão social e racial: negros e índios escravizados na base e europeus ricos no topo; no meio, entre eles, os brancos pobres e os mestiços. A dominação completa dependia da introjeção da ideia, pelo colonizado, de que o modo de pensamento “racional” europeu, baseado em estrutura de pensamento categorial dicotômica, europeu/não europeu, civilizado/bárbaro, humano/não humano, cultura/natureza, superior/inferior, rico/pobre, homem/mulher, era superior ao seu. Até, então, como mostra a vasta literatura sobre o assunto, as sociedades nativas, africanas ou indígenas, organizavam-se socialmente de forma completamente distinta. A base social era comunitária, todos os membros do agrupamento participavam das relações de produção e distribuição. Não havia divisão social baseada em riqueza ou pobreza. As lideranças locais eram ocupadas pelas pessoas mais velhas, e as famílias não eram estruturadas em núcleos e sob o domínio do pai, como no caso europeu.
Uma das formas de destruição desse modelo comunitário de organização foi a introdução do sistema moderno/colonial de gênero. Na medida em que as mulheres nativas eram retratadas como não humanas ou selvagens, eram assim retratadas contraditoriamente como “não mulheres”.
O sistema europeu de gênero identificava a humanidade como dividida pelo binômio de gênero homem/mulher. A feminilidade era considerada universalmente expressa pela oposição ao masculino, a mulher era o outro do homem. Isso significava que ela era o oposto do que se compreendia como característica exclusivamente do masculino: frágil, passiva, doméstica, materna, emotiva, insegura e fraca. Quem não reproduzisse esse modelo de feminilidade era evidentemente considerado não mulher e, portanto, não humana.
Mas claro que a relação entre homens e mulheres na época anterior à colonização não se baseava nessa dicotomia de gêneros opostos que se complementam, porque o modo de pensamento comunitário não era dicotômico e categorial. Não havia essa expectativa de que o sexo biológico determinasse de modo essencial a posição social e o comportamento das pessoas. A introdução do sistema sexo-gênero na colônia foi, por essa razão, uma ferramenta poderosa de dominação, pois fomentava a oposição entre homens e mulheres, pondo em risco os laços comunitários. A divisão e a fragmentação, a separação em categorias opostas, como as de gênero e raça, representam o modo do pensamento europeu moderno que perdura até hoje e que serve de estratégia de dominação e exclusão.
O feminismo surge justamente para contrapor-se a essas dicotomias de gênero e a esses ideais de masculinidade e feminilidade que colocavam as mulheres no lado doméstico e submisso. O hegemônico feminismo branco de classe média serve aos interesses de dominação capitalista patriarcal quando define a dominação masculina com base em sua experiência. Assim, por exemplo, durante um longo período a pauta do feminismo mundial foi o direito da mulher ao trabalho e à vida pública. Mas essas questões jamais fizeram parte da pauta, por exemplo, das mulheres negras ou das mulheres trabalhadoras. O feminismo negro norte-americano foi o primeiro a apontar essa falha ao anunciar que a matriz de dominação era múltipla e envolvia não apenas a diferença de gênero, mas também a econômica e a de raça.
As mulheres racializadas dos países periféricos do capitalismo global carregam no corpo a experiência da colonização. Na época colonial não foram consideradas mulheres; ao contrário, eram, na visão do colonizador, bestas sexuais, selvagens. Somente na medida em que foram “embranquecendo” ao longo dos séculos, isto é, submetendo-se ao ideal civilizado de feminilidade, foram então reconhecidas como “mulheres”. Essa ferida colonial nunca foi sarada, e o ponto de vista soberano do colonizador perdura até hoje nas relações centro-periferia. Para o feminismo hegemônico, as mulheres periféricas precisam de sua ajuda para se tornarem, como elas, mulheres economicamente independentes e autônomas – o que nos faz concluir que elas ainda nos veem com a mesma condescendência dos dominadores para com os não humanos.
O fim da colonização não significou o fim do eurocentrismo e da dominação do capitalismo global sobre a economia dos países não europeus. A população local já havia sido socialmente estratificada de acordo com o ideal de branquitude. O racismo se entranhou nas relações sociais das ex-colônias. Além disso, a relação de suposta superioridade cultural da metrópole para com a colônia foi transposta para o nível da geopolítica do conhecimento. As antigas colônias não realizaram um resgate cultural de suas raízes não europeias, valorizando seus saberes e pensamento. Muito ao contrário, mantiveram uma mentalidade de inferioridade diante da cultura branca europeia – e norte-americana, diríamos hoje. Qualquer indivíduo pode facilmente constatar como a mentalidade colonizada perdura nas sociedades latino-americanas, ao observar a mídia e a moda. Se um extraterrestre chegasse ao nosso país agora e assistisse aos programas de televisão, concluiria que a maioria da população é branca ou embranquecida – jamais imaginaria que mais da metade dos brasileiros é de afrodescendentes.
Dividir para governar: era esse o lema da matriz de dominação capitalista global. Nesse sentido, raça e gênero sempre foram tratados como temas distintos. Isso permitiu que o feminismo hegemônico branco descrevesse a opressão feminina separadamente de todos os outros vetores de dominação, como o racial, de classe ou de nacionalidade.
Sobretudo hoje, quando a crise pandêmica do capitalismo global traz à tona conflitos raciais e econômicos, fica mais patente a necessidade de o feminismo brasileiro buscar resgatar as experiências comunitárias dos povos originários, quilombolas, brasileiros, caribenhos e latino-americanos. Precisamos também resgatar e valorizar a contribuição do feminismo negro brasileiro para a crítica às categorias de pensamento ocidentais modernas, e nos alinhar ao projeto de decolonizar nossa mentalidade periférica fazendo pesquisa não de modo neutro, mas a partir da singularidade de nossas experiências.
Certamente não se trata de tarefa fácil, uma vez que o capitalismo global iguala todos os povos de modo artificial, ao nos fazer crer que pertencemos a uma aldeia global onde todos desejamos as mesmas coisas, os mesmos objetos de consumo. Valorizar as diferenças não significa excluir. Precisamos de uma nova metodologia de pesquisa que incorpore e valorize as diferenças e que não procure nivelar todas as experiências a um denominador comum: o da branquitude hegemônica, patriarcal, racista e heterocentrada. Precisamos de mais estudos sobre a branquitude, que nos mostrem por que o corpo branco não é racializado, enquanto todos os corpos não brancos são. Não falamos de feminismo branco, mas sim de feminismo negro e feminismo indígena. Por que será?
*Susana de Castro é professora do Departamento de filosofia da UFRJ. Autora, entre outros livros, de As mulheres das tragédias gregas: poderosas? (Manole).
Publicado originalmente no site Outras Palavras.