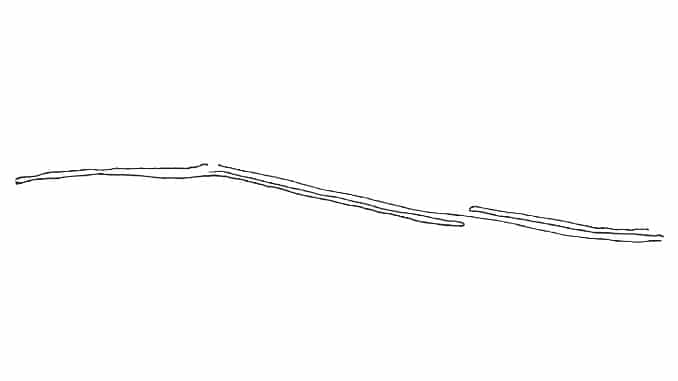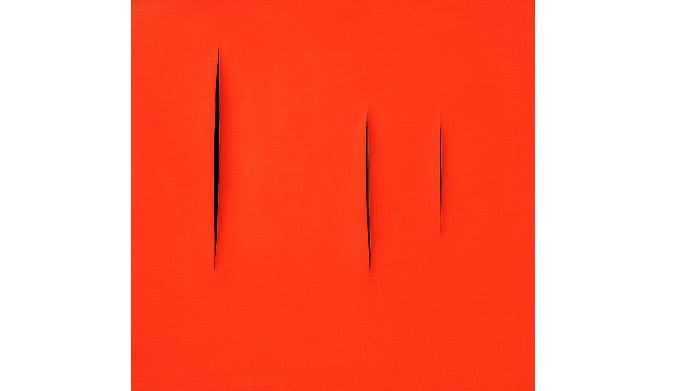Por CAIO VASCONCELLOS*
Processos de convergência cultural não se limitam a uma simples transformação tecnológica
Em Cultura da convergência (Aleph), Henry Jenkins anuncia o início de uma nova era na produção e no consumo de comunicação e de entretenimento. Embora profundamente imbricados à popularização de computadores pessoais, aos televisores e telefones celulares com acesso à internet e ao surgimento de novas plataformas digitais, processos de convergência cultural não se limitariam a uma simples transformação tecnológica.
Na confluência entre o relativo barateamento dos preços dos dispositivos técnicos envolvidos na produção, circulação e consumo de conteúdos audiovisuais e a concentração da propriedade dos grandes meios de comunicação de massa – segundo o autor, tendência já verificada nos Estados Unidos no início dos anos 1980 –, o fenômeno se desdobraria em um conjunto complexo de transformações, atingindo os grandes conglomerados empresariais, coletivos de mídia alternativos e até mesmo o público, em seus hábitos e atividades de consumo.
Se, no início dos anos 1990, Nicholas Negroponte previa em seu A vida digital o colapso das formas e estruturas das mídias tradicionais e a total hegemonia das novas tecnologias interativas de comunicação, a era da convergência é marcada pelo embate e pela coexistência de múltiplas plataformas, processos e atores, abrindo espaço para que cada um crie suas próprias imagens e mitologias a partir de fragmentos de informações do inesgotável fluxo midiático.
Além do conceito de convergência, Jenkins destaca ainda duas outras categorias para analisar uma realidade nova, mutante e, conforme sua avaliação, digna de ser venerada. Um dos precursores das pesquisas sobre cultura dos fãs, Jenkins coloca o papel do público ou do consumidor de entretenimento em primeiro plano. Ao contrário das leituras sobre a passividade da audiência ante produtos da mídia tradicional, essa nova era seria também o tempo da participação ativa dos sujeitos e das interações entre eles sob regras que ninguém dominaria inteiramente.
Embora em concorrência com alguns dos maiores conglomerados da história do capitalismo, os indivíduos fariam parte de uma espécie de inteligência coletiva (Lévy, 1999), possível fonte alternativa de poder – na mídia, na cultura e na sociedade. Essa produção coletiva de significados no mundo cibernético alteraria práticas e mecanismos de comunicação não apenas na imprensa ou na publicidade, mas também na política, no direito, na educação, nas religiões, nos exércitos, etc.
A convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. A convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento. Lembrem-se disto: a convergência refere-se a um processo, não a um ponto final. Não haverá uma caixa preta que controlará o fluxo midiático para dentro de nossas casas. Graças à proliferação de canais e à portabilidade das novas tecnologias de informática e telecomunicações, estamos entrando numa era em que haverá mídias em todos os lugares. A convergência não é algo que vai acontecer um dia, quando tivermos banda larga suficiente ou quando descobrirmos a configuração correta dos aparelhos. Prontos ou não, já estamos vivendo numa cultura da convergência. (Jenkins, 2013: 43)
Muito influente nos estudos contemporâneos de cultura, comunicação e entretenimento, as análises de Jenkins revivem temáticas recorrentes em interpretações sobre processos de massificação cultural. Apesar de abordarem fenômenos diversos e de suas profundas diferenças teórico-conceituais, autores como Mike Featherstone, Stuart Hall, Jesús Martín-Barbero, Néstor García Canclini entre tantos outros, constroem suas perspectivas de crítica a partir de um ponto de vista comum, qual seja, o sujeito que resiste ao encantamento das mercadorias culturais. Mesmo sem ignorar o caráter mercantil dos produtos e atividades de entretenimento, esse prisma de análise pressupõe uma cisão entre as determinações social-objetivas da produção de artefatos socioculturais e a esfera subjetiva de sua recepção.
Talvez a formulação teórica mais instigante, Hall enfatiza a relativa autonomia entre codificação e decodificação nos processos de comunicação. Contra uma visão tradicional que pressuporia certa linearidade nas relações entre emissores, mensagens e a recepção, Hall busca compreender a articulação entre produção, circulação, consumo e reprodução, por exemplo, dos discursos televisivos.
Diferentemente dos destinos de outros tipos de produtos em sociedades capitalistas, uma mensagem discursiva quando posta em circulação exige que esse veículo de signos seja construído dentro das regras da linguagem, ou seja, que ele faça algum sentido. Embora iniciem e sejam fundamentais no circuito de uma mensagem televisiva, as rotinas de produção, as habilidades técnicas, conhecimentos institucionais, ideologias profissionais, definições e preconceitos sobre a audiência –i.e., toda a sua estrutura produtiva – não formam um sistema fechado (Hall: 2003, 392).
O circuito produção-distribuição-produção não se reproduz mecanicamente, e interpretar a passagem das formas de um momento ao outro seria crucial. Embora relacionadas, a produção e a recepção de uma mensagem televisiva não são idênticas. O discurso que se constrói de acordo com as regras e intenções das rotinas de produção é recebido pelos diversos grupos que compõem o público de acordo com a estrutura de diferentes práticas sociais. É verdade que, em uma situação de identidade profunda e completa entre sujeitos dos mais diversos grupos sociais, poderia haver uma sintonia perfeita entre a emissão de conteúdos e sua recepção. Porém, em uma sociedade complexa e diferenciada, distorções e mal-entendidos tendem a ocorrer com muito mais frequência – e seriam essenciais para analisar, entre outras coisas, o significado político ou ideológico de qualquer mensagem.
Apesar das contribuições que essas perspectivas ainda possam agregar à interpretação dos fenômenos socioculturais contemporâneos, McGuigan em Cultural populism (1992)chama atenção para vieses importantes nos chamados estudos culturais da Escola de Birmingham, especialmente a partir dos anos 1980. Inspirado em princípios da semiótica de Umberto Eco, o argumento segundo o qual a codificação de textos e artefatos culturais não dita sua decodificação levou a uma espécie de populismo cultural, que se descola das intenções críticas e radicais que animaram, por exemplo, as abordagens de Raymond Williams – e, em certa medida, do próprio Hall – sobre cultura popular.
Enquanto o projeto original se propunha valorizar a cultura das classes trabalhadoras e as lutas por transformações políticas radicais, o texto icônico de Hall desencadeou um novo olhar que, ao sublinhar certo comportamento ativo do público, perdeu a capacidade de interpretar criticamente as produções socioculturais hegemônicas. Em consonância com a ideologia pós-moderna e multiculturalista que, no final dos anos 1980, ainda poderia ser capaz de confundir os mais incautos com ares supostamente progressistas, o populismo cultural se ancoraria na noção de soberania do consumidor, figura lendária originalmente criada por economistas neoclássicos do século XIX, e que o neoliberalismo adoça com um cintilante cinza objetivo.
Atualmente, os setores mais dinâmicos da exploração industrial de entretenimento colocam em circulação mercadorias culturais que parecem estar situados além do escopo desse modelo crítico. Se, diante do nascimento dos grandes monopólios culturais, Adorno e Horkheimer sublinharam um primeiro movimento de expansão da reificação com a organização do tempo livre pelo capital, que levou a heteronomia das relações industriais para a esfera da vida privada e cotidiana; hoje em dia, pode-se dizer que essa não-liberdade se espalha por meio da participação ativa do público nos processos de valorização do capital.
Além de fatores externos como a onipresença de dispositivos tecnológicos e altíssima concentração de capital em um mercado dominado por um número absolutamente pequeno de colossos transnacionais, o encantamento fetichista próprio da mercadoria cultural me parece o elemento fundamental para a interpretação dos condicionantes internos do ardoroso envolvimento individual-subjetivo dedicado a essas atividades e produtos de entretenimento. Longe das tramas de uma simples manipulação, o poder da indústria cultural sobre os consumidores permanece mediado pela forma de um desejo sempre postergado. A certeza de que “um cachorro em um filme pode latir, mas não pode morder” (Hall: 2003, 392)informa um modelo de crítica que soa inofensivo diante de um tipo de sedução que faz os indivíduos se contentarem com a leitura do cardápio, logrando os consumidores justamente com aquilo que lhes promete (Adorno & Horkheimer: 1985, 114).
O doce comportamento do público não é passivo, mas sim castrado. Como principal logro da Indústria cultural consiste em afastar os sujeitos da coisa mesma, o que se mantém implícito ganha primazia sobre o conteúdo levado ao ar ou projetado nas telas de cinema. Os seus setores mais atentos permitem que quase tudo seja dito e feito em suas produções, desde que as entrelinhas sejam plenas de sentido. Os estímulos para os sujeitos amarem as engrenagens de suas cadeias não cessam por um instante. Embora seus produtos muitas vezes não tenham preço, nada é gratuito. O que importa é que os papéis permaneçam os mesmos e sempre deixem o público pronto para correr para os cinemas para desfrutar do último lançamento das antigas parcerias costumeiras. Para reproduzir perfeitamente a mecânica que comanda o mundo, a pressa é a melhor amiga e conselheira. Além da violência aberta, a sugerida cumpre sua função esgotando qualquer possibilidade de ponderação. Sem a correria que impede que as pessoas se desviem dos caminhos habituais, uma sociedade organizada para que a afluência não seja produzida para eliminar a fome, mas para mantê-la, não duraria um segundo a mais.
O prazer com a violência infligida ao personagem transforma-se em violência contra o espectador, a diversão em esforço. Ao olho cansado do espectador nada deve escapar daquilo que os especialistas excogitaram como estímulo; ninguém tem o direito de se mostrar estúpido diante da esperteza do espetáculo; é preciso acompanhar tudo e reagir com aquela presteza que o espetáculo exibe e propaga. Deste modo, pode-se questionar se a indústria cultural ainda preenche a função de distrair, de que ela se gaba tão estentoreamente.(Adorno & Horkheimer, 1985, p. 113)
Obviamente, seus mecanismos e recursos não permaneceram intocados ao longo das décadas, mas tampouco a Indústria cultural deve ser tratada como uma usina de novas ideias e grandes novidades – há, na verdade, uma complexa dialética entre aspectos dinâmicos e elementos estáticos que perpassa tanto suas produções em particular como a sua organização enquanto sistema. Nesse sentido, é interessante notar que, em “Sobre o caráter fetichista da música e a regressão da audição”, Adorno já se voltava a interpretar o caráter ilusório da atividade levada a cabo pelos sujeitos em seus processos de consumo de mercadorias culturais.
Esta pseudoatividade não é um desenvolvimento posterior das técnicas de reprodução mecânica de obras de arte ou da produção industrial de cultura, nem mesmo a conquista de um espaço de participação – ou de alguma influência – do público sobre os produtos e os rumos dos grandes monopólios da cultura. Se é verdade que, assim que entram em cena como mercadoria, os produtos do trabalho humano se transmutam em coisas sensorialmente supersensíveis, há um comportamento individual correspondente que se adequa ao ciclo das trocas comerciais. Igualmente falsas, a sedução objetiva e a regressão subjetiva são os pressupostos necessários em uma sociedade que naturaliza a dominação e a opressão social.
Assim, ao se concentrar na produção da música como mercadoria, o frankfurtiano sublinha a regressão da escuta e a sua fixação em escala infantil. A causa desta regressão não é o aumento do número de pessoas que, à época, podiam ouvir música sem conhecer suas tradições, convenções estéticas e regras de composição – o elitismo que tanto acusam Adorno não figura em sua crítica. O primitivismo surge daqueles que foram privados de qualquer liberdade efetiva de escolha e são forçados a adaptar seus desejos e anseios ao que existe e está presente por todos os lados.
Coagidos pela onipresença do que faz sucesso comercial, o ouvinte se vê obrigado assumir o papel de mero consumidor, deixando morrer dentro de si a possibilidade de sonhar com algo melhor e verdadeiro. Lutando para se identificar com os clichês e jargões que presidem a produção da arte e cultura como mercadoria, os indivíduos não veem outra saída senão ridicularizar seus próprios desejos e odiar o que os diferencia dos demais. Tal identificação nunca é perfeita, e o gozo desse falso objeto de desejo deve ser desviado do conteúdo concreto e se tornar atento às minúcias que afastam das promessas.
Enquanto pareça impossível estabelecer relações com outras coisas que não mediadas por um título de propriedade, os indivíduos são incapazes de romper o círculo de sedução que os mantém cativos. Se o mecanismo objetivo que produz fetiches não for desbaratado, as tentativas desesperadas de sair dessa condição de desamparo aprofundam o abismo que afasta a humanidade da verdadeira liberdade. O entusiasmo que as pessoas se sentem compelidas a representar toma conta da situação – certo ativismo irrefletido tornou-se um fim em si mesmo. O modelo desse amor pela mercadoria é uma prática obsessiva, tal como a desempenhada por fãs que escrevem cartas – elogiosas ou agressivas, mas sempre compulsivamente – aos programadores de rádio para simular o controle sobre a parada de sucessos.
Sempre atentos ao comportamento manifesto do público, os especialistas da Indústria Cultural têm seu trabalho facilitado, e têm apenas que lançar slogans que espalhem por todos os lados: Just do it ou Broadcast Yourself– e, a partir daí, as coisas parecem caminhar sozinhas como se fossem mesas que dançavam por si próprias, tal como em uma pré-história ainda não superada.
“O rádio tem em alta conta esse tipo de ás do passatempo artesanal. É ele quem, com infinita minúcia, constrói aparelhos cujos principais componentes as lojas fornecem prontos, a fim de vasculhar os ares à caça dos mais recônditos segredos, que na verdade inexistem. Como leitor de livros de viagem e de aventuras indígenas, descobriu terras nunca dantes navegadas, que conquistou abrindo trilhas através da mata virgem; como amador, transforma-se em descobridor das invenções que a indústria quer que descubra. Não traz para casa nada que não lhe poderia ser entregue em domicílio. Os aventureiros da pseudoatividade já estão catalogados aos montes em pilhas reluzentes. Os radioamadores, por exemplo, recebem cartões de certificação pela descoberta de estações em ondas-curtas e promovem campeonatos nos quais vence quem prova possuir a maior quantidade desses cartões. Tudo isso é preordenado desde cima com o maior zelo. Dentre os ouvintes fetichistas, o jovem amador talvez seja o exemplar mais bem acabado. É-lhe indiferente o que escuta, e até mesmo como escuta; basta-lhe escutar e inserir-se com seu aparelho privado no mecanismo público, sem que por isso exerça a mínima influência sobre ele. Com o mesmo propósito, incontáveis ouvintes de rádio manobram o seletor de frequência e o volume de seu aparelho, sem manufaturarem um eles mesmos” (Adorno: 2020, 90–91).
*Caio Vasconcellos é pesquisador de pós-doutorado no departamento de sociologia da Unicamp.
Referências bibliográficas
Adorno, Theodor. (2020), “Sobre o Carácter Fetichista Na Música e a Regressão Da Audição.” In Indústria Cultural. São Paulo: Editora da Unesp.
Adorno, Theodor&Horkheimer, Max. (1985),Dialética Do Esclarecimento. Fragmentos Filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.
Hall, Stuart. (2003). “Codificação/Decodificação.” In Liv Sovik (org.) Da Diáspora. Belo Horizonte: Editora UFMG.
Jenkins, Henry. (2013),Cultura Da Convergência. São Paulo: Aleph.
Lévy, Pierre. (1999),Cibercultura. São Paulo: Editora 34.
McGuigan, Jim. (1992),Cultural Populism. London and New York: Routledge.
Negroponte, Nicholas. (1995), A vida digital. São Paulo: Companhia das Letras.