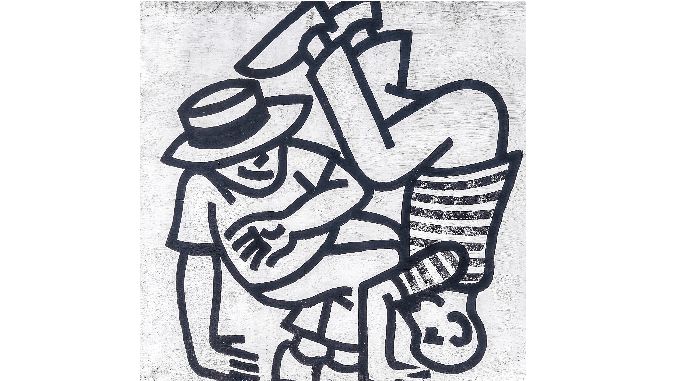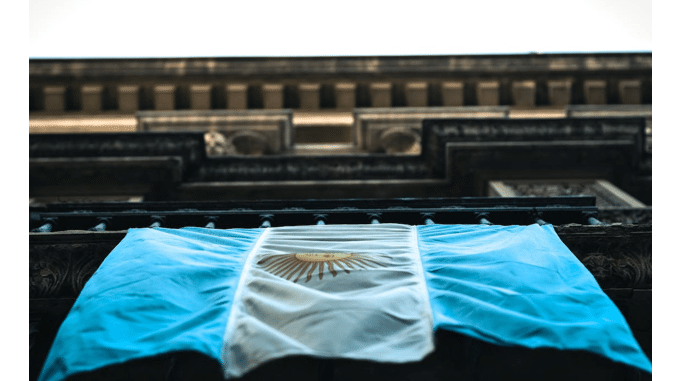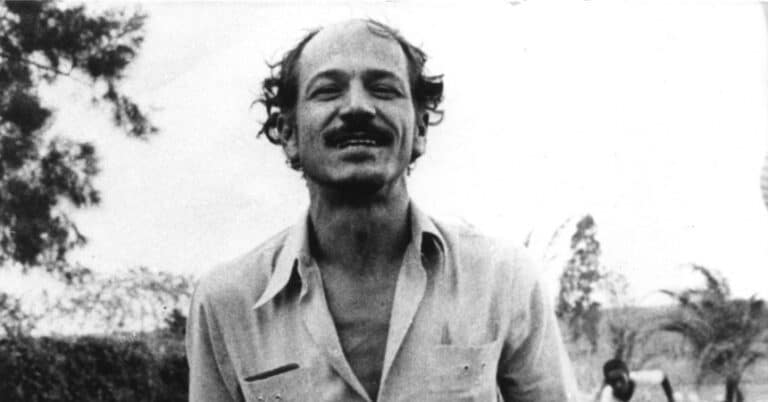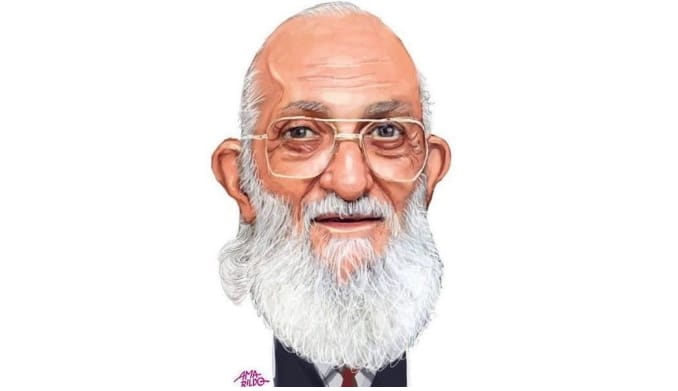Por ROBERT ALTER*
Introdução do livro recém-editado de Frank Kermode
As páginas que seguem são um registro de Sir Frank Kermode das Palestras de Tanner, ministradas na Universidade da Califórnia em Berkeley, em novembro de 2001, e das vívidas discussões a respeito delas geradas por três contestadores.
A questão do cânone, e o que pode ser suspeito ou mesmo insidioso no cânone, vem sendo muito discutida nos círculos acadêmicos desde o início da década de 1990. Esse debate em regra é ditado pela generalizada politização dos estudos literários mencionada de várias maneiras por Frank Kermode, Geoffrey Hartman e John Guillory. Se a formação do cânone for motivada, como os críticos acadêmicos costumam afirmar, por uma espécie de “colusão com os discursos do poder”, na suma de Kermode dessa visão, o próprio cânone tem de ser visto com os frios olhos da desconfiança como um veículo potencial de coerção, exclusão e dissimulada manipulação ideológica.
Kermode rejeita claramente tais noções, e, de fato, nenhum dos participantes da discussão se mostra inclinado a defendê-las, com a marginal exceção de um gesto bastante vago em direção ao político no fim do ensaio de Hartman. Aliás, uma das virtudes das propostas de Kermode quanto ao pensar no que torna as obras literárias canônicas é que, em vez de se envolver de maneira polêmica com a definição ideológica do cânone (uma disputa que tem sido travada com muita frequência), ele simplesmente se esquiva dela, talvez por ser indigna de debate, e trata de apresentar um conjunto diferente de termos. Dois de seus três termos centrais – prazer e mudança – aparecem como títulos de suas duas palestras, e o terceiro é acaso.
Eu observaria que esse termo mal chega a ser abordado nas três respostas, talvez por causa de sua aparente estranheza, porém mais provavelmente porque ele não se presta prontamente a teorias explicativas gerais. Ele pode muito bem merecer ter mais peso do que a presente discussão registra. Porque todos nós gostamos de ter alças firmes em que segurar quando tentamos compreender fenômenos complexos, as suposições usuais que fazemos acerca do cânone são de que ele é de algum modo intencional, possivelmente por parte dos escritores que aspiram a nele entrar e claramente por parte das comunidades de leitores que fixam o cânone, e que, em consonância com essa intencionalidade, reflete certas qualidades intrínsecas nas obras incluídas, sejam elas formais, estéticas, morais, sociais, psicológicas ou ideológicas. Kermode, citando alguns exemplos, sugere que essa formação de cânone mais parece um jogo de xadrez no qual, de vez em quando, as peças são movidas por uma foça cega de circunstância.
Há, por exemplo, 150 salmos na coleção bíblica canônica, aparentemente uma espécie de antologia que abrange vários séculos de produção poética. Alguns desses poemas são magníficos. Pelo menos alguns outros são mais formulares e é possível que muitos leitores modernos os achem relativamente medíocres. Esses poemas lograram ingressar no que viria a ser o cânone bíblico porque os antigos editores os consideraram os 150 melhores exemplos de poesia salmódica em hebraico, ou porque expressavam de maneira mais adequada as devoções do monoteísmo israelita?
É óbvio que alguns desses salmos foram preservados por se terem fixado permanentemente na antologia canônica. Um deles é perseguido pela ideia de um salmo hebreu tão sublime quanto o Salmo 8 ou tão eloquentemente comovedor como o Salmo 23, que não sobrevive como parte do cânone apenas porque o rolo em que estava registrado se transformou em pó seco em uma velha urna antes que os editores pudessem incluí-lo na coleção oficial. A noção de acaso de Kermode certamente deve ser levada em consideração como uma salutar admoestação contra a insípida confiança em quaisquer generalizações acerca do cânone que possamos fazer.
Quanto aos outros dois conceitos propostos nas palestras, a noção de mudança não provoca nenhum debate real nas respostas. Parece escorreito que, quando as eras culturais mudam e nós mudamos individual ou mesmo idiossincraticamente, o cânone que imaginamos estar lendo também muda, tanto no referente a como vemos as obras quanto no que diz respeito a quais obras são incluídas. Convém notar que a mudança no cânone não se associa de modo algum à antiga dispensação de crítica literária a que Kermode se refere um tanto elegiacamente no início de sua primeira palestra (e, a meu ver, tanto Hartman quando Guillory imaginam um vínculo demasiado substantivo entre esse prelúdio elegíaco e as proposições acerca do cânone que se seguem).
Pelo contrário, os críticos da antiga dispensação tendiam a supor um grau de atemporalidade no cânone que passou a ser rejeitado por quase todos os observadores contemporâneos, inclusive por Kermode. Matthew Arnold concebia suas pedras de toque, extraídas de textos como a Ilíada, a Divina comédia e as peças de Shakespeare, como duradouramente válidas, não sujeitas a mudança. Os críticos revisionistas da juventude de Kermode, como F. R. Leavis, com sua famigerada lista de apenas quatro grandes romancistas ingleses (dentre os quais duas mulheres), ou, nos Estados Unidos, Cleanth Brooks, com sua polêmica marginalização dos poetas românticos, compuseram novas listas canônicas não em franca concessão à mudança inevitável, mas, ao contrário, supondo que seus equivocados predecessores haviam errado e que o cânone que agora proclamavam seria, dali por diante, reconhecido como válido.
A mudança, como Kermode a delineia, é um sinal do caráter provisório dos cânones, uma ideia não muito favorável sob a antiga dispensação. Precisamente nesse aspecto, creio que Guillory erra ao afirmar que Kermode advoga um “regresso à noção de pedra de toque”. Muito pelo contrário, ele dedica a atenção que dá na segunda palestra às pedras de toque de T. S. Eliot explicitamente para ilustrar a força da mudança e, nesse caso notável, a peculiar e distorcedora sensibilidade individual que coloriu as leituras de Eliot dos textos canônicos. Como o próprio Guillory diz apropriadamente, as “pedras de toque de Eliot são cânones um pouco idiossincráticos, exatamente o que os cânones não devem ser”.
O principal tema de debate nessa discussão é o prazer. Talvez isso seja inevitável porque os tipos de prazer proporcionados pela leitura de uma obra literária, em contraste com o tipo de prazer que se obtém com uma taça de xerez, podem ser basicamente resistentes à descrição e à definição. Em todo caso, Kermode preferiu uma abordagem episódica e reflexiva, mas não sistemática, do tema do prazer literário, concluindo com um exemplo de Wordsworth que, embora sugestivo, não chega a ser inteiramente transparente, e, por consequência, seu contestador compreende de diversas maneiras o que ele quer dizer com “prazer”, com certa quantidade de conversas cruzadas entre si, coisa comum em tais discussões. Não pretendo apresentar uma grande síntese do que o prazer na literatura implica, mas gostaria de tentar resolver algumas das questões apontadas.
John Guillory defende com vigor uma espécie de democracia dos prazeres e se opõe ao que ele considera um argumento favorável a um “prazer superior” na leitura da literatura na primeira palestra de Kermode.
Eu desconfio que, por trás dessa objeção, há certa inquietação porque Kermode, como um crítico educado sob a antiga dispensação literária, talvez queira nos levar de volta à época antediluviana em que Matthew Arnold e muitos de seus seguidores reivindicavam uma “autoridade superior” (palavras de Guillory) para a literatura como uma espécie de substituta secular da religião revelada. Na verdade, Kermode não fala em “prazer superior” (ainda que a expressão ocorra em uma citação que faz de Wordsworth), apenas menciona um prazer específico e bastante peculiar na leitura de obras canônicas, que é precisamente o que Guillory defende, e ele tampouco associa esse prazer à ideia de autoridade. Não há a menor necessidade de supor uma hierarquia dos prazeres para reconhecer que há algo diferente no prazer proporcionado por uma grande obra literária. Nem mesmo uma distinção entre prazeres simples e complexos é inteiramente útil nesse aspecto. O prazer de um chuveiro quente é, sem dúvida, mais simples do que o prazer de ler Proust, mas não há evidência de que, por exemplo, o prazer da consumação sexual, em especial quando a relação entre os parceiros é intensa, seja menos complexo do que a experiência da leitura, ainda que decerto seja de tipo muito diferente.
A natureza precisa da diferença continua sendo esquiva. Kermode inicialmente invoca a noção do estruturalista tcheco Jan Mukařovský de que “parte do prazer [da obra literária] e o valor que sua presença indica e mede provavelmente estão no poder do objeto de transgredir, sair, interessante e reveladoramente, dos modos aceites de tais artefatos”. Embora não se torne uma parte central do argumento, esse conceito pode perfeitamente ser mantido como um ponto de partida útil. Afinal, um cânone se constitui como uma comunidade trans-histórica de textos, e vive sua vida cultural por uma interação constante e dinâmica entre cada novo texto e um número imprevisível de textos anteriores e normas e convenções formais. Como Kermode observa no início da segunda palestra, “cada membro [do cânone] só existe na companhia dos outros; um membro qualifica ou nutre o outro”.
Em uma linha de pensamento relacionada, Carey Perloff nos lembra adequadamente que são os escritores ressuscitando, transformando e interagindo com seus predecessores, que tanto perpetuam quanto modificam o cânone, não os professores ou críticos a compilarem listas de autores aprovados. Esse impulso de inovação ou mesmo, como propõe Kermode, de transgressão em uma comunidade de admirados predecessores pode distinguir o prazer do texto de pelo menos tipos mais simples de prazeres extraliterários. Se você gosta de um chuveiro quente depois do exercício, pode ficar desconcertado com uma perceptível alteração da pressão ou da temperatura da água. Se for admirador dos romances de Philip Roth, certamente não há de querer que O teatro de Sabbath lhe dê exatamente o mesmo prazer que você teve ao ler O avesso da vida ou um romance de qualquer outro escritor, e sua tão surpreendente fusão de obscenidade, hilaridade e sombria seriedade existencial é inovadora e transgressora exatamente como Kermode, parafraseando Mukařovský, sugere que uma obra literária deve ser.
Mas, se algum tipo de novidade proposital, junto com uma afirmação necessária de pertencimento à comunidade textual existente, apontar para o contexto definidor do prazer da obra canônica, qual será seu caráter diferencial, seu teor especial? Em relação a essa questão central, a discussão fica um tanto obscura em todos os lados. Guillory, com bastante sensatez, quer que tenhamos em mente a especifidade do prazer que experimentamos através da literatura, mas não faz nenhuma proposta quanto ao que isso pode ser. Hartman, que, ao contrário dos outros contestadores, se sente incômodo com a própria associação de prazer a cânone, teme que o termo e o conceito de prazer “se precipitem no abismo”. Não oferece mais do que uma insinuação oblíqua do que isso pode significar, embora pareça reagir à introdução da discussão de Kermode sobre a noção de jouissance de Roland Barthes com sua sugestão de uma resposta tão intensa que estilhace a identidade.
Os teóricos franceses costumam ter certa predileção por exageros surpreendentes e metafisicamente violentos, e é possível que o horror de Hartman pelo abismo aberto pelo conceito de prazer tenha sido influenciado por tais hábitos de pensamento. Kermode, aqui e em toda a sua obra, expressa uma sensibilidade mais comedida (talvez britânica), mas pode ser que retenha algum vestígio do vocabulário de crise ontológica de Barthes quando, ao considerar sua citação descontextualizada de Wordsworth, propõe uma conjunção de felicidade e desalento como qualidade distintiva do prazer derivado da leitura de um texto canônico.
O elemento de desânimo ou perda certamente contrapõe a leitura à dança e ao xerez, e suponho que seja parte integrante do caráter “filosófico” da literatura canônica, no pressuposto de que qualquer reflexão filosófica sobre a condição humana se limita de algum modo a reconhecer a perda inelutável, a dissolução e a dolorosa disjunção entre as aspirações humanas e as circunstâncias arbitrárias da existência. O entrelaçamento da felicidade com o desalento decerto ocupa muito espaço na literatura canônica. Funciona perfeitamente em “Resolução e independência”, e é evidente em uma ampla gama de textos desde o Livro de Jó até Rei Lear, Moby Dick e Os irmãos Karamázov. Ao ler tais obras, temos uma forte sensação de euforia no poder magistral (e na coragem) da imaginação poética juntamente com uma dolorosa experiência de angústia na visão de sofrimento ou mal gratuito ou destrutividade articulada na obra. Hartman por certo tem razão em vincular essa combinação peculiar com aquilo que em outras estruturas conceituais se chama o sublime.
O problema óbvio é que nem todas as obras canônicas são expressões do sublime. Duas grandes categorias da literatura que incluem muitos textos canônicos eminentes têm pouquíssimo a ver com o sublime e não podem ser vinculados com a experiência de perda ou desalento, a não ser mediante muito esforço interpretativo. A primeira, que se manifesta em certos tipos de romance, de poesia satírica e de drama, é uma literatura mundana do cotidiano. Nesse tipo de escrita, os autores abordam a rede de instituições sociais, geralmente contemporâneas, e o espectro de tipos de personagens, com suas diversas fraquezas e virtudes, que podem ser vistos colidindo e interagindo dentro desses contextos sociais. A inteligência de observação é estimulada por tais textos e é essencial para o prazer de lê-los, e esse exercício de inteligência é inseparável do hábil manejo da forma literária pelo escritor – o estilo, a invenção narrativa, o diálogo, as estratégias para a complicação do significado mediante a ironia, e assim por diante.
Entre os exemplos mais notáveis dessa literatura de mundanidade em inglês figuram a poesia de Alexander Pope – pode-se pensar especialmente em seus extraordinários “Ensaios morais” – e os romances de Jane Austen. O prazer proporcionado por tais escritos é de um tipo particularmente adulto (o que não quer dizer “superior”), que é mais social e moral do que filosófico. Não envolve a dissolução do eu nem um abismo existencial, e sim um delicioso jogo de percepção, um convite a ponderar motivos e a fazer discriminações sutis a respeito dos dilemas de comportamento, caráter e moral. Como um prazer da faculdade de inteligência exercida por meio da linguagem engenhosa, ele se distingue dos prazeres extraliterários, sejam simples, sejam complexos. Às vezes, essa perspectiva mundana pode ser proeminente em uma obra literária que também expressa perda ou desalento, como em Stendhal ou Proust, mas esse não é necessariamente o caso.
A outra categoria de expressão literária em grande parte alheia ao sublime é a comédia. Pode-se admitir que há obras em que a comédia se faz sentir como um triunfo sobre a perda e que, portanto, parecem corresponder à descrição de Kermode de uma mescla de felicidade e desalento: no Ulysses de Joyce, a animada peça cômica e a grandiosa afirmação final de amor e vida são afirmações corajosas em face do desastre do casamento dos Bloom, da lembrada morte de seu filho pequeno e do declínio da masculinidade de Leopold Bloom; em Tristram Shandy de Stern, a perspicária divertidíssima e a pura farsa são em parte uma reação nervosa aos medos da impotência, da castração e da ameaça de morte por tuberculose que persegue o narrador.
No entanto, muitos exemplos de literatura cômica não são afetados por tais ansiedades. A ficção de Rabelais, algumas peças de Molière, se bem que não todas, e, no próprio cânone bíblico, o Livro de Ester (uma fusão de conto popular e farsa satírica) dão prazer graças à alta exuberância da invenção verbal e narrativa. Tom Jones é outro exemplo característico: o banimento temporário do protagonista de Paradise Hall, a sombra de um possível incesto e de prisão não podem ser levados muito a sério na estrutura cômica do romance, que constantemente se delicia com o exercício sutil da ironia espirituosa e do desdobramento inventivo de incidentes divertidos e de tipos humanos. Se a literatura, como todos os participantes dessa discussão supõem variavelmente, envolve uma espécie de luta livre com os diversos aspectos da condição humana, inclusive os mais profundamente inquietantes, ela também é uma forma de jogo com a linguagem, a história, a fala representada, e a própria jocosidade, exibida por um mestre da arte, e pode nos dar, já que somos criaturas da linguagem, da história e da fala, um prazer permanente de um tipo que nos faz querer reter tais obras em um cânone.
O abandono da comicidade pode ser um sintoma de nosso clima intelectual sombrio. Não há lugar para isso, por exemplo, em O cânone ocidental de Harold Bloom, que vê o canônico em termos de luta e confrontação constantes, e, posto que não haja bloommianos entre os participantes dessa discussão, eles parecem compartilhar sua ideia de que a literatura é um ofício existencialmente sério, e não dão muito espaço para a possibilidade de o prazer do texto canônico às vezes também carecer de seriedade ou até mesmo ser “baixo” (embora talvez ao mesmo tempo complexo).
O âmbito dessa discussão sobre o cânone é naturalmente acadêmico, mas até certo ponto isso pode ser um problema, porque nenhum grupo vocacional que me ocorra é mais inclinado do que o erudito a confundir os contornos de seu mundo profissional com os contornos do mundo. Assim, Hartman se pergunta por que “a mudança no estudo da literatura, registrada e deplorada por Kermode, é acanônica”, ao passo que o que é acanônico certamente deveria pertencer às próprias obras literárias, não às atitudes e aos métodos aplicados na análise da literatura em nossas instituições de ensino superior, e não creio que Kermode pretenda sugerir que os estudos literários se tornaram “acanônicos”, apenas que desenvolveram algumas visões esquisitas daquilo que faz um cânone. Um programa de estudos ou uma lista de leituras obrigatórias para determinado grau é algo muito estabelecido pela autoridade acadêmica, mas os professores muitas vezes confundem o que fazem no campus com o funcionamento da realidade cultural ou mesmo política fora do perímetro do campus.
Nesse aspecto, a intervenção de Carey Perloff oferece um bem-vindo corretivo à discussão geral. Perloff, que não é acadêmica, e sim diretora artística do Conservatory Theater de São Francisco, oferece uma perspectiva da linha de frente, na qual as obras antigas são preservadas ou revividas para públicos vivos e onde as novas começam a entrar no cânone. A partir dessa perspectiva prática privilegiada, ela vê o cânone moldado e redirecionado por artistas que reveem e utilizam as obras recentes de outros artistas, sem mediação professoral. Sua visão do cânone é esperançosa, não obscurecida pela prostração existencial, porque ela é testemunha de como a vida dele é reiteradamente renovada pela energia criativa de artistas individuais conscientes de seus predecessores, e pode-se supor que sua noção do prazer transmitido pelas obras canônicas é muito concreta porque, se as peças que Perloff põe no palco não dessem prazer ao seu público, ela perderia o emprego.
De modo que o prazer mostra ser um critério razoavelmente útil para o canônico, embora, como essas discussões indicam, ele tenha lá suas ambiguidades. Não se deseja afirmar, como acho que todos os debatedores concordariam, que esse prazer do canônico está associado a alguma autoridade única inerente aos textos canônicos. A literatura agrada em parte porque nos convida a enxergar, através dos recursos da linguagem, mais sutilmente ou mais profundamente quem somos e como é nosso mundo, e essa visão pode ser desanimadora, aprazível ou as duas coisas.
Naturalmente, há outros modos de ver que podem ter profundidade própria. Seja qual for seu assunto, seu humor e sua forma, a literatura também agrada porque sentimos deleite ou exultação ao presenciar o exercício da pura magia das palavras e o domínio arquitetônico da imaginação. Quando as obras outrora valorizadas deixam de agradar à medida que os tempos e os gostos mudam, elas vão para as margens do cânone – como aconteceu com os romances de George Meredith ou com a poesia de James Thomson. O prazer da leitura, claro está, não é puramente estético nem puramente a consequência das propriedades formais do texto e, muitas vezes, é influenciado pelos valores articulados na obra. Assim, a evolução do cânone não pode ser explicada unicamente em termos das qualidades intrínsecas do texto literário, mas também tem de estar ligada a considerações bem complicadas de história social e cultural, como sugere a noção de mudança de Kermode. Entretanto, tais considerações nos levariam além do horizonte da discussão coletada neste volume, que pelo menos oferece alguns vislumbres de iluminação sobre uma questão que é urgente para a cultura.
*Robert Alter é professor de hebraico e literatura comparada na Universidade da Califórnia-Berkeley. Autor, entre outros livros, de A arte da narrativa bíblica (Companhia das Letras).
Referência
Frank Kermode. Prazer e mudança: a estética do cânone. Organização: Robert Alter. Tradução: Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo, Unesp, 2021, 146 págs.