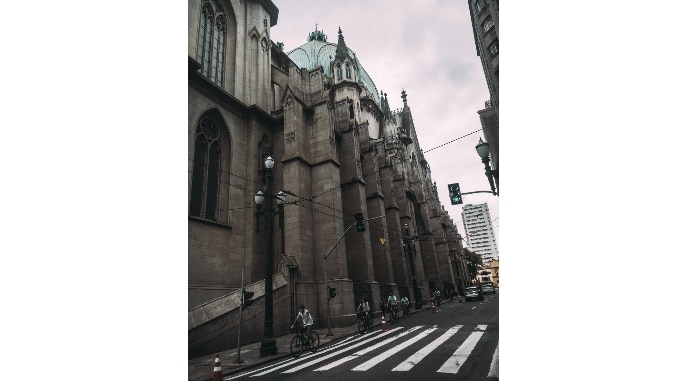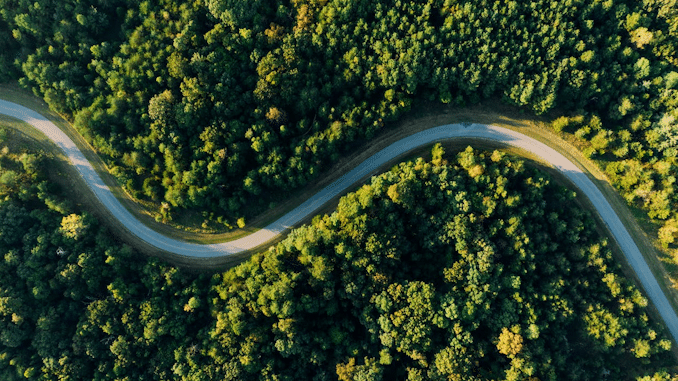Por EVA ALTERMAN BLAY*
Ao se alinhar ao grupo terrorista Hamas, a esquerda abdicou de seus valores morais e intelectuais
Em 1961 fui para Israel com um grupo de estudantes. Nunca tive educação religiosa, sou fruto da escola pública brasileira e, como os outros colegas de viagem, tinha curiosidade de conhecer a velha Jerusalém, inclusive o Muro das Lamentações. Se até o Papa o visita! Repentinamente, fui proibida de chegar perto do Muro, pois ele ficava no território da Jordânia! Para mim, uma jovem orgulhosa da minha brasilidade, foi estranho ser impedida de chegar perto do Muro. “Você não pode, pois é judia”, me jogaram na cara! Hoje, anos depois e tendo sido discriminada por ser judia, enfrento novamente expressões de ódio e exclusão.
Expande-se em várias partes do mundo uma política de ódio aos judeus, e não se errará ao afirmar que esse ódio atingiu particularmente os judeus de esquerda, alijados pelos companheiros com os quais compartilham os mesmos ideais, a defesa da democracia, dos direitos humanos, das minorias, das mulheres. Intempestivamente todos os sionistas, judeus que apoiam a existência do Estado de Israel, se tornaram cúmplices do “assassinato de crianças”, suportes da direita israelense. Eva Illouz, professora na Universidade Hebraica de Jerusalém mostra que, ao se alinhar ao grupo terrorista Hamas, a esquerda abdicou de seus valores morais e intelectuais – e que isso já ocorreu em outros momentos.
Ela cita, por exemplo, o caso da feminista somali Ayaan Hirsi, que em 2014 apresentou na Universidade de Brandeis seu doutorado que contestava o casamento infantil e a mutilação genital feminina. Era uma luta inclusive pessoal, posição que os movimentos feministas compartilham. No entanto criou-se um impasse: apoiar a somali Ayaan Hirsi poderia “agredir os sentimentos dos estudantes muçulmanos, seus valores religiosos e étnicos”. Os estudantes fizeram um abaixo-assinado, apoiado pela universidade, e o doutorado da feminista somali foi rejeitado. Ou seja, prevaleceram a dominação patriarcal e a violência contra as mulheres. Ayaan Hirsi não teve como enfrentar a oposição da universidade e acabou imigrando para a Holanda.
A liberdade de escolha fica cada vez mais restringida numa sociedade racista e autoritária. Em 2017, o movimento de mulheres lésbicas fez uma marcha em Chicago portando suas bandeiras coloridas. Um dos grupos acrescentou em sua bandeira uma estrela de Davi. A repulsa a estas “judias-sionistas” foi descrita pela professora Karin Stögner, citada por Eva Illouz: “Os judeus seriam bem-vindos à manifestação, desde que adotassem uma posição antissionista”. Foi a única odiosa exclusão.
A discriminação contra judeus sionistas abalou vários movimentos feministas. Os casos se multiplicam, e o ódio obscurece desde simples militantes até renomadas autoras, como Judith Butler. Eva Illouz lembra a posição de Judith Butler e seu grupo na defesa dos assassinos muçulmanos que mataram 12 pessoas em Paris, na redação do Charlie Hebdo, relacionados com a caricatura de Maomé. Judith Butler os defendeu, “explicando” que a ação deles era uma revolta à “hipocrisia” do Ocidente que desrespeitava o Islã; os cartoons com a figura de Maomé não expressavam a liberdade de opinião, mas um modo de o Ocidente hipocritamente desrespeitar o Islã. Para Judith Butler, apoiar o Islã era denunciar o Ocidente mesmo que significasse afinidade ao misógino conservadorismo religioso islâmico.
Concordo com Eva Illouz quando afirma que esses exemplos revelam opções não democráticas: a “sensibilidade” muçulmana contra o feminismo; queers-antissionistas contra queers-sionistas; validam-se estados governados pela lei da Sharia contra a laicidade ocidental da separação entre o Estado e a religião. Estas escolhas privilegiam uma dada orientação e impõem exclusões, desde que sejam excluídos os judeus. Tenho certeza de que, ao ler essa conclusão, encontraremos vozes que reportarão o velho chavão: “os judeus tudo tomam com antissemitismo”. Pergunto então: se não é antissemitismo, o que é?
Vitória Baldin e Daniela Ramos, duas pesquisadoras da Escola de Comunicações e Artes da USP, mostram como a cobertura jornalística reconfigura a narrativa e os desdobramentos do conflito entre Palestina e Israel. Mostram como o noticiário influencia ativamente, seja a construção, seja a interpretação dos conflitos. Apliquemos essas explicações ao papel das universidades, levando em conta que essas têm em essência a análise e compreensão dos fatos sociais.
Assisti, pela internet, a um seminário organizado pelo Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ouvi belos depoimentos de escritores e poetas árabes, ao lado de raivosas manifestações antissionistas e antijudaicas. No encerramento do seminário, confirmando a reflexão de Baldin e Ramos, jovens estudantes fizeram uma performance, desfilando com embrulhos envoltos em tecido branco com manchas vermelhas simulando sangue. Ou seja, teatralizaram o tristíssimo enterro de crianças mortas em bombardeios que nos comovem a todos. Repetiram o que encontramos nos jornais, na televisão.
O que pretendiam com essa teatralização senão acirrar o ódio aos israelenses? Esqueceram que todos nós que assistíamos sofríamos o impacto dessas mortes, queríamos que não morressem jovens de ambos os lados, pensávamos que numa guerra todos perdem. Depois de quatro meses de destruição no Oriente Médio, a África do Sul, com apoio de outros países, pediu a intervenção da ONU através da Corte Internacional de Justiça. Criou-se expectativa mundial quanto às decisões, pois a Corte julgaria a guerra consequente ao ataque do Hamas contra o Estado de Israel, em 7 de outubro de 2023, e o violento revide. O grupo terrorista Hamas, naquela ocasião, assassinou 1.200 pessoas e sequestrou 320, desde bebês até pessoas com mais de 80 anos. A reação institucional de Israel fora violenta, usando forte aparato militar.
A opinião pública passou a esperar a decisão da Corte. A oposição à guerra e às inúmeras mortes era acompanhada pelas redes sociais, pela TV, jornais e diuturnas manifestações. As narrativas se dividiam entre a condenação do esquema militar israelense superidealizado e responsável pela morte de inúmeros civis, particularmente mulheres e crianças, e a suposta frágil resistência paramilitar do Hamas, que ainda retinha 120 sequestrados e que nunca parou de atacar com mísseis. Apesar da diferença das forças, a guerra se prolongava, apoios vinham de outros países árabes, do Irã e dos Estados Unidos. O conflito tinha uma imagem cada vez mais internacional, mas, para nós, o público, o que se difundia na mídia eram os soldados israelenses com seus tanques de guerra.
Entre informações sempre contestadas, foram descobertos túneis construídos pelo Hamas em várias partes de Gaza, inclusive sob hospitais e escolas. A mídia era econômica em revelar as bombas disparadas pelo Hamas, ou o deslocamento de enormes parcelas da população israelense que tinham de fugir dos ataques, ou o número de mortes e feridos israelenses. Raramente se viam enterros, em especial de jovens soldados israelenses, uma ação muito discreta talvez pela tradição judaica de respeito aos mortos, talvez por uma tática política; mas mais de 500 soldados entre homens e mulheres foram mortos, além dos sequestrados cujos corpos são procurados pelos israelenses para um enterro ritual.
Os mísseis continuam a cair dos dois lados: ainda hoje, quando escrevo esse texto, os mísseis do Hezbollah, aliado ao Hamas, continuam a atacar várias cidades (Sderot, arredores de Haifa, ou no entorno de Tel Aviv). Enfim esse era o clima de emoção que vivíamos, à espera da decisão dos juízes da Corte, que após uma cuidadosa análise concluíram que: o governo de Israel deve tomar todas as medidas cabíveis para “prevenir um genocídio na Faixa de Gaza” e “não acolheu um pedido de cessar-fogo imediato nos conflitos entre Israel e o Hamas no território palestino”. Portanto não houve acusação de genocídio e não houve solicitação de cessar-fogo.
Analisando como repercutiu na imprensa o pronunciamento da Corte, observa-se uma divisão em dois grupos: um, repetindo a linguagem da Corte, não acusava Israel de genocídio e publicava, paralelamente, o contraditório de várias tendências. Outro segmento da mídia tomava a liberdade de interpretar o pronunciamento da Corte, colorindo-o conforme o próprio gosto.
Exemplifico essa segunda vertente através das expressões usadas pelo cientista político Paulo Sérgio Pinheiro. Em lives autodefinidas como de esquerda, o entrevistado traduzia a expressão da Corte “prevenir um genocídio” já que Israel tinha uma “intenção genocida”. E acrescentava, “aliás, Israel não respeita nada”. Para incrementar essa sua versão, citava frases infelizes de um membro do Gabinete israelense (não o Gabinete todo), chamando de animais os atacantes que, no dia 7 de outubro, violentaram e cometeram atrocidades contra mulheres e meninas.
Desnecessário qualificar que essas expressões vinham de um ex-diplomata. A consequência dessa valorativa narrativa é sentida até agora: incrementou-se o ódio contra os israelenses e os judeus, aumentou a disposição de ataques à diáspora judaica e às propriedades e instituições judaicas.
Oportunamente alguns políticos importantes vieram a público com frases que lembram a Inquisição e o nazismo: propunham boicotar o segmento comercial, industrial de propriedade dos “judeus”, nas palavras de José Genuíno, aplaudido e apoiado por deputados como Paulo Teixeira e Luiz Marinho e pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A lista continua, incluindo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que duvida da identidade nacional dos judeus, professores foram obrigados a interromper suas aulas, alunos mal-informados fizeram manifestações racistas, e assim por diante. Manifestações ocorrem em todo o mundo, inclusive em Israel, contra as mortes nos dois lados. Em Israel há manifestações contra o governo e pela soltura dos reféns mantidos pelo Hamas. Têm-se parcas notícias sobre reações entre os palestinos de Gaza. Crescem o ódio e as acusações de ambas as partes.
Mas uma luz começou a aparecer entre jovens. Refletindo sobre essas duas bolhas de ódio, eles começaram a conversar e a perceber que seria possível o diálogo entre esses grupos, pelo menos entre segmentos deles. Todos querem a paz, querem acabar com a guerra. Formou-se o grupo Stand Together, como descreveu Renato Beginsky, em entrevista no canal do YouTube do Instituto Brasil-Israel em 15/2/2024. Esse segmento já tem cinco mil membros, incluindo judeus da diáspora e de Israel e palestinos de Gaza e da diáspora. Esses grupos propõem, literalmente, “fiquemos juntos, somemos”. Começaram a atuar pela libertação dos reféns. Caminham agora para a construção de um acordo bilateral entre israelenses e palestinos. Idealismo jovem? Não necessariamente. O que pode aproximá-los é delinear um governo voltado para a paz, a igualdade e o bem-estar social. Podemos nos juntar a eles.[1]
*Eva Alterman Blay é professora titular aposentada do Departamento de Sociologia da USP e ex-senadora. Autora, entre outros livros, de O Brasil como destino: raízes da imigração judaica contemporânea para São Paulo (Unesp)
Publicado originalmente no Jornal da USP.
Nota
[1] Agradeço a Paula Stroh e Albertina Costa pela leitura deste texto.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA