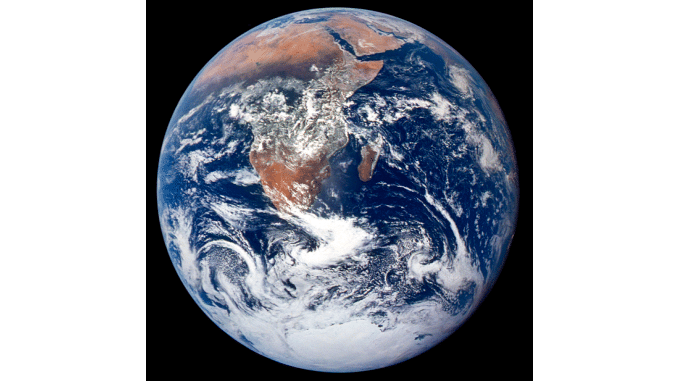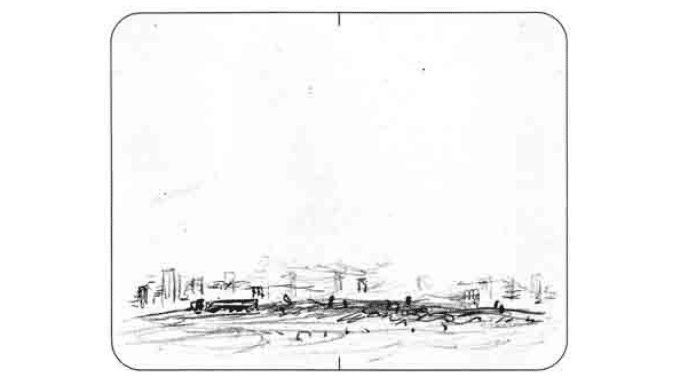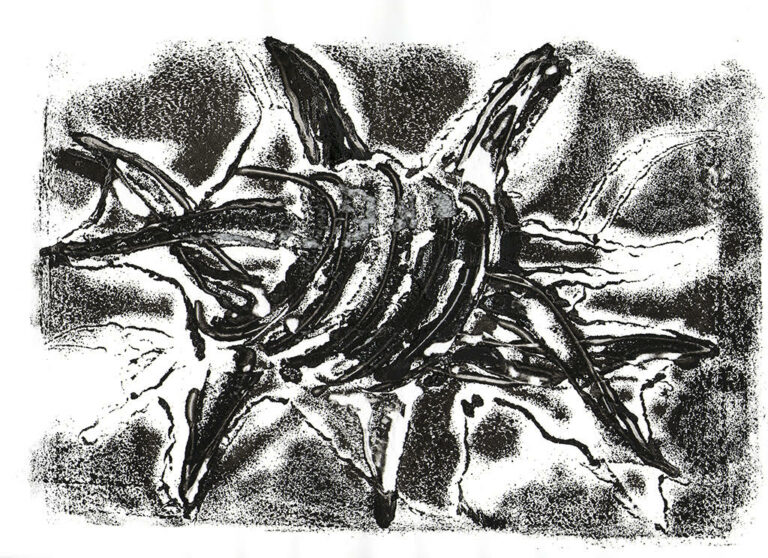Por SANDRINE AUMERCIER*
Uma revolução não pode consistir em outra coisa senão na decomposição das condições existentes e a ruptura com elas, sem antecipação sobre o futuro e sem qualquer benefício de natureza política para ninguém
À medida que se aproxima de seus limites internos e externos, a mercantilização do mundo tenta relançar a acumulação de capital de forma cada vez mais enfurecida, como se estivesse diante de uma máquina que está parada, mas que deve continuar funcionando a todo custo.
A violência desse esforço, que não para diante de qualquer esfera da existência social que quer anexar, só é igualada pelo inevitável esgotamento de suas fontes de movimento. Diante desse horizonte totalitário, a teoria crítica que pretende compreender esse funcionamento não pode almejar menos do que abraçar o nível da totalidade.
Voltando-se para esse propósito, ela tem de desafiar a fobia daqueles que diagnosticam sempre alguma tendência totalitária escondida no próprio conceito de totalidade. Mas também é preciso renunciar ao fruto venenoso dos amanhãs cantados a que o conceito de totalidade parece convidar.
O que significa voltar ao conceito de totalidade, renunciando acessar os seus frutos venenosos?
Os conceitos são muitas vezes pensados como meras abstrações e é por isso que alguns se afastam deles com certa indignação. Monopolizados pelos intelectuais em razão de sua função social, os conceitos parecem distantes da realidade prática, da “vida real”. Mas lembremos: Hegel, ao contrário, chamou de abstração aquilo que é o mais imediato, o mais concreto, o mais cotidiano, o mais “óbvio”.[i] Nesse sentido, estamos envolvidos na vida cotidiana por uma nuvem de abstrações em que predominam as coisas dadas como certas.
É normal pegar uma mercadoria de uma prateleira; é normal tirar dinheiro para pagar coisas que compramos; é normal levantar-se cedo para ganhar o dinheiro para poder gastar; tudo isso é bem normal. Contudo, as crises se afiguram como percalços no curso dos acontecimentos cotidianos; as elites políticas, então, são apontadas como responsáveis por elas quando acontecem: ora, isso também se afigura como normal, já que “o poder corrompe” quem dele participa.
Em consequência, nada que organiza essa realidade deve contradizer a falsa naturalidade do tríptico cotidiano: trabalhar, consumir e votar, tudo bem temperado com alguma indignação circunstancial. Pois, a moralidade também está voltada para a naturalização das relações sociais.
O conceito filosófico de totalidade é inseparável do método dialético com o qual Hegel abriu um caminho na época moderna. Ele não encontra “por trás” das aparências sensíveis, por meio de um lampejo, uma verdadeira essência; o método não dá acesso iniciático às essências. Note-se: esse tipo de procedimento sempre foi denunciado por Kant e Hegel como dogmatismo.
O método dialético consiste, antes de tudo, em negar a aparente positividade do ser que aí está. Perfaz o movimento do conceito, que é o movimento da própria coisa, ou seja, o movimento da coisa que não é simplesmente o que parece ser. Hegel afirma desse método que ele contém a “inquietude do negativo”. O conceito consiste em um movimento de ultrapassar as determinações da abstração do ser fenomênico, a qual equivocadamente tomamos como a coisa “mais concreta”.
A identidade especulativa do conceito e da realidade contraria a afirmação de que o que penso é idêntico à minha experiência sensível. É exatamente o contrário. Eis que há uma relação dialética nessa duplicidade. Assim, essa relação nunca pode ser posta de forma imediata e, portanto, há uma exigência de que o pensamento se exponha às cisões do negativo.
Não é à toa que essa não coincidência entre ser e pensamento se tornou um verdadeiro fardo para a filosofia moderna. Eis que ela se manifesta: subsiste assim um pressentimento correto de que o capital tende a absorver a totalidade da realidade em sua lógica de acumulação, ao mesmo tempo em que atomiza cada vez mais finamente os elementos de seu próprio processo de acumulação para os reconfigurar de acordo com sua dinâmica.
A psicanálise dá uma nova interpretação a essa obsessão com a discrepância entre ser e pensamento: “penso onde não sou e sou onde não penso” (Jacques Lacan). [N.T.: a autora, citando Lacan, refere-se aqui à divisão entre consciente e inconsciente, respectivamente.]
Ora, essa divisão formalizada por Lacan não endossa a existência de duas esferas separadas e sem contato entre si: uma em que se é e uma outra em que se pensa. A psicanálise advém porque é preciso apreender essa divisão – não com a finalidade de aboli-la, mas para lhe dar um tratamento compreensivo – ou seja, para “processá-la”. Embora o sujeito não seja, de forma alguma, o autor voluntário e consciente dessa divisão, ele é responsável por ela, assim como pelo tratamento dos seus sintomas.
Na verdade, na perspectiva lacaniana, o sujeito é o efeito inconsciente dessa divisão; no entanto, mesmo assim, ele responde por ela. As abstrações cotidianas não pretendem dar conta dessa divisão; elas produzem um desejo de consertar “o que está errado”, de “pegar os pedaços” da divisão, daí a infinidade de terapias comportamentais que treinam todos a controlar seus sintomas e funcionar sem problemas, em vez de decifrá-los.
Por sua vez, a tradição marxista muitas vezes pensou o conceito de totalidade na forma de uma teleologia mecânica da história. Às vezes obliterou mesmo a sua abertura dialética.[ii] À determinação objetivista da totalidade que assombra o pensamento marxista, a psicanálise acrescentou uma determinação subjetiva. E ela mostra que há também uma divisão “no coração do sujeito conhecedor – e não mais apenas uma divisão entre o sujeito do conhecimento e o objeto a ser conhecido. Mesmo se tem sido negligenciada pela tradição marxista, essa contribuição teórica não deve ser considerada como supérflua.
Pois o marxismo tradicional, no amago de seu pensamento, nunca desistiu de moldar um futuro comunista, em nome da própria práxis revolucionária; fez, portanto, um mau uso do conceito de totalidade que consistiu em avançar a “solução” comunista com uma flor na ponta do fuzil. A utopia revolucionária transformou a crítica negativa ao nível teórico, que é necessária em si mesma, em crítica afirmativa, em vez de manter persistentemente a negatividade. Assim posta, a utopia revolucionária parece ter uma capacidade especial de organizar o mundo de modo melhor do que aquele que está aí ao redor.
Essa utopia acredita justamente na possibilidade de uma reconciliação imediata, quando há impossibilidade estrutural tal como alertam tanto a dialética hegeliana, assim como, também, a psicanálise. É por isso que a megalomania, a tirania e a repressão aguardam o desenvolvimento dessa utopia na esquina.
O mesmo acontecerá novamente enquanto não descobrirmos o núcleo autoritário dessa pretensão que consiste em pretender abraçar a totalidade do conceito para moldar o mundo à sua imagem no falso imediatismo de uma totalidade finalmente posta em repouso. Esse fenômeno, obviamente, parece justificar aqueles que ficam aterrorizados diante do conceito de totalidade.
A renúncia à formação de um mundo pós-capitalista vem como consequência do fracasso das revoluções modernas. Elas se ocuparam justamente – só e tão somente – em reorientar a totalidade capitalista. Eis que a haviam apreendido quase sempre intuitivamente, como uma nova ordem completa. Mas ela se tornou igualmente totalitária, já que adotou a dinâmica de desenvolvimento do sistema produtor de mercadorias.
Ao fazê-lo, os revolucionários trabalharam apenas para a sua renovação, já que a matriz operatória original foi preservada. O “socialismo real” apenas estabeleceu uma versão concorrente do sistema que rejeitou; este foi substituído por um sistema que manteve o nível prévio de totalidade real e que, portanto, não era menos totalitário.
Alertados para esse risco, muitos autores pós-modernos acreditam que podiam, como que por um ritual de pensamento mágico, abolir a totalidade, proibindo-se de pronunciar seu nome. Mas é desnecessário dizer que, se eles mesmos se abstêm doravante de invocar o diabo, “o todo [diabólico] não os esquece” (Terry Eagleton).
A dinâmica totalizante do capital é aquela que deve ser abolida – não se deve, portanto, proibir o uso do conceito de totalidade, já que é o único que pode dar conta dessa situação histórica. Contudo, é preciso renunciar, no manejo desse conceito, trocar a crítica negativa pela afirmação de uma totalidade substituta que venha a ser tão totalitária quanto aquela que agora está sendo criticada.
À sombra de uma totalidade social cujo funcionamento escapa aos seus próprios criadores, prosperam as “fixações do entendimento” (G. W. Hegel). Resultam em críticas atomizadas, as quais concorrem entre si há mais de dois séculos na cena do pensamento burguês. São as manifestações imanentes do pensamento instrumental, assim como de sua moral consequencialista: o capital é, assim, instado a reintegrar os seus efeitos perversos em seu próprio conceito. Ora, isso equivale a aperfeiçoar o conceito de totalidade, fazendo com que subsuma gradualmente toda a ordem simbólica como se fosse inerente a ela.
A recuperação da crítica é, portanto, parte de seu princípio de funcionamento.
A falsa humildade teórica, a insistência na verificação empírica e a consciência da complexidade da realidade não exime ninguém de articular conceitos necessários para teorizar esse movimento totalizante. Não está no poder de ninguém tomar a coisa apenas em seus pedaços, a não ser com a finalidade de ajustá-la à fantasia individual de cada um.
Escusado será dizer que o contingente, o não idêntico, o caráter “cindido” (Roswitha Scholz) da totalidade não deixa de estar presente numa análise superficial. Eis que ela não abole a máquina totalitária do “sujeito automático”. Embora o conceito de totalidade contenha em si seus momentos negativos, ele não deve ser assim repudiado. Se se fala de uma “totalidade é porque, sem dúvida, fala-se dela sem totalização”.[iii]
O conceito de totalidade não apresenta uma imagem fechada e imóvel da realidade, que absorveria tudo no conceito articulado. Ele teoriza, outrossim, a dinâmica da realidade, que não pode ser abordada a partir do pressuposto de peças dispersas e desconexas. Ou melhor, estes são seus pontos de parada e, ao mesmo tempo, pontos de reavivamento.
Se essa abordagem deve ser rejeitada porque se expõe ao risco da “grande teoria”, então é realmente melhor ir colher trevos de quatro folhas do que começar a refletir sobre o que está aí e é totalitário. A alergia ao pensamento satisfaz-se, assim, com a suposta relação direta com seus objetos, na qual acredita ver o resultado imediato de uma transformação que não é outra senão a ilusão narcísica de ter agido sobre o mundo.
Qualquer prática oposicionista deve, portanto, primeiro se perguntar se não está reproduzindo – involuntariamente – a imanência do “constrangimento mudo” que estabelece os limites de sua intervenção e o sentido de suas ações. Seria, então, forçado pelo seu próprio objeto a conceder o direito ao conceito de totalidade, pois é a ele que conduz a questão da matriz capitalista de ação individual supostamente autônoma.[iv]
Assim, a insistência de Adorno no momento da não-identidade não justifica, ao contrário da sua própria intenção, transformar o negativo em celebração do fragmentário e da política do mal menor. Adorno não almejava qualquer positivação de seu conceito de negatividade.
O aforismo adorniano de que “o todo é o não-verdadeiro”, que inverte o aforismo de Hegel segundo o qual “o todo é o verdadeiro”, não é nem a sua face oculta nem vem a ser um convite para que se busque um refúgio na satisfação pequeno-burguesa da própria mesquinhez. Ao contrário de todas as aparências, os dois aforismos dizem a mesma coisa, numa vez do ponto de vista do movimento infinito da própria coisa, na outra vez do ponto de vista de seu momento particular, para sempre irredutível ao todo, permanecendo, no entanto, como momento desse todo em movimento.
A exigência teórica de pensar a totalidade nada tem a ver com uma falsa modéstia que, por antecipação, cria uma imagem do objeto à sua própria medida para não perder nada do objeto. O refúgio na abordagem do objeto à medida individual mostra antes as feridas no narcisismo do homem que foram infligidas pelas três revoluções conceituais modernas (copernicana, darwiniana e freudiana), às quais é preciso adicionar a revolução marxiana.
Marx analisa a autonomia moderna dos processos sociais que agora confrontam o trabalhador separado de seus meios de produção e, ao fazê-lo, inflige mas uma ferida nesse narcisismo, uma lesão final que atinge a própria ideia de soberania política. É assim que ele fala das crises capitalistas:
“Que os processos que se confrontam autonomamente formam uma unidade interna significa igualmente que essa própria unidade evolve por meio de oposições externas. Quando a autonomização externa das coisas que não são internamente autônomas, uma vez que se complementam, chega a um certo ponto, essa unidade afirma-se de forma violenta – por meio de uma crise”.[v]
Enquanto cada sujeito acredita que está perseguindo seus interesses privados e, portanto, crê estar no controle de seus atos econômicos, ele está de fato alimentando a máquina que o oprime e se volta contra ele, destruindo constantemente os fundamentos da sociedade.
Ele não quer saber nada sobre isso, não atenta para o seu lugar marginal no universo, para a sua emergência contingente na evolução, assim como para a sua dependência de processos inconscientes. A conjunção desses quatro deslocamentos não é de forma alguma um álibi para o sujeito se esconder em um buraco de rato “porque o mundo é muito complexo”. Trata-se, contudo, de um desafio enorme para ele. Na falta da articulação conceitual sobre o caráter interno dos processos que parecem empiricamente alheios entre si, mas que não o são verdadeiramente, a crise só pode ser interpretada por meio das ideologias nascidas da própria crise.
A suposta modéstia do cidadão “de baixo” esmagado por poderes alheios a ele é facilmente revertida em onipotência pessoal que advém desses mesmos poderes. É o equilíbrio equipotente dessa onipotência e dessa impotência que o descentramento radical do sujeito interrompe, introduzindo nele a lógica do objeto. E isso vale também para a crise subjetiva, cuja análise as abordagens psicotécnicas do sofrimento buscam evitar.
A impossibilidade de o conceito absorver em si mesmo toda a realidade não é, portanto, de forma alguma o pretexto para a manutenção da ignorância, mas constitui a força motriz por trás de uma investigação que se torna, por isso, ainda mais necessária. A sua incapacidade estrutural de se imobilizar não é superada pela petição de princípio que pressupõe uma igualdade a si mesmo, que seria alcançada pela “ideia absoluta” (segundo uma versão triunfalista da dialética de Hegel). Não é superada, também, por uma outra petição de princípio que quer enterrar o próprio empreendimento dialético para não mais ter que sofrer a impossibilidade de o conceito encontrar repouso na forma de uma verdade obtida.
Está na moda, agora, lamentar a capacidade aparentemente indefinida do capitalismo de usar qualquer crítica para se reciclar. Eis que essa aparente regeneração lhe é servida de bandeja pelas próprias insuficiências de uma crítica que se afasta do cumprimento de sua própria tarefa.
Parece que o fracasso em teorizar – e ainda mais em concretizar – uma revolução à medida do sistema produtor de mercadorias – eis que agora ele colonizou todo o planeta e todos os cantos da existência – é atribuível, portanto, ao caráter contraditório da tarefa revolucionária, um espelho invertido do sistema que trata de derrubar: visa negativamente a totalidade atual; deve se recusar, ademais, a se beneficiar dela em nome de suas próprias formações ideológicas (que são inevitáveis). Estas, sem exceção, são irremediavelmente marcadas pelo caráter competitivo do sujeito da mercadoria, do qual são o reflexo cintilante no reino das “ideias”.
Este é o núcleo da corrupção pelo qual o sujeito revolucionário ressuscita, em um nível ainda pior, a totalidade da qual dizia querer se livrar. Por mais ansioso que esteja para se adornar com as armadilhas da crítica radical, o fato é que ele “não reconhece nessa desordem do mundo a própria manifestação de seu ser real. […] Seu ser, portanto, está fechado em círculo, a menos que o rompa por alguma violência na qual, desferindo seu golpe contra o que lhe parece ser uma desordem, golpeia a si mesmo por meio de um contragolpe social”.[vi]
Portanto, uma verdadeira teoria da revolução, renúncia também, abertamente a formular o menor esboço de uma sociedade pós-capitalista global, que assumiria o lugar do extinto sistema em nível planetário. Não se justifica moralmente propor tal cenário, pois não se está em condições de fazê-lo. É bem certo que o futuro jamais se assemelhará a tais elucubrações, a não ser no campo infinito das imaginações literárias e artísticas em que todas elas são permitidas. Nisso, a crítica deve valer-se de Hegel para se saber passável – parafraseando, assim, uma frase de Lacan sobre a função do pai!
Em outras palavras, uma revolução não pode aspirar a construção de uma totalidade positiva. Ora, qualquer proposta nesse sentido tem de desencadear a mais profunda suspeita. A revolução não pode consistir em outra coisa senão na decomposição das condições existentes e a ruptura com elas, sem antecipação sobre o futuro e sem qualquer benefício de natureza política para ninguém. A reconquista pelos humanos de sua própria socialidade não é uma determinação a priori das formas que essa socialidade assume, uma determinação in abstracto que constituiria a própria negação dessa libertação.
Não há um “grande Outro” que poupe os humanos da tarefa (conflituosa) de se organizarem. Só uma lógica de acumulação capitalista autotélica pode, por vezes, levar a pensar que essa tarefa está sendo feita, “espontaneamente”, por uma realidade tornada absoluta. A reapropriação social passa pela recusa da submissão a essa realidade e não pela afirmação autoritária de uma forma acabada que deveria suplantá-la, sempre já marcada com o ferro da forma capitalista.
Essa exigência também se aplica às lutas antirracistas, antissexistas, decoloniais etc. que acreditam poder impor um princípio de libertação, o qual, na verdade, está sendo extraído da moral liberal individualista. Eis, pois, o problema: como livrar o mundo de suas dominações sem tocar nas estruturas que as produzem, senão propagando apenas a ideologia do indivíduo que não precisa fazer mais do que confessar as suas tendências antissociais? É o que os rituais de purificação que se consolidaram hoje dentro de uma certa esquerda que só sabe procurar piolhos no indivíduo (ou seja, a admissão de privilégios brancos e masculinos, linguagem inclusiva, vigilância e autovigilância paranoica de ações e gestos…).
Resta, portanto, dizer que um sujeito socialmente emancipado não seria emancipado das estruturas sociais, que são sempre reconstituídas em suas costas. O projeto de emancipação, que visa abolir o domínio totalitário do capital, apenas restitui aos sujeitos a disposição de sua capacidade de emancipação, por meio de uma luta que nunca termina. Não lhes dá as chaves para um Estado emancipado de uma vez por todas, um Estado para o qual não há definição universal nem garantia.
A definição de emancipação que hoje é considerada universal é a de democracia liberal, ou seja, o direito de escolher um programa político segundo o modelo de escolha de uma mercadoria na prateleira. Tal programa também acaba sempre esbarrando em uma ou outra das polarizações da contradição fundamental. Traduz conflitos de interesse em ideologias aparentemente antagônicas dentro de uma lógica que estabelece limites intransponíveis. As máscaras de caráter não são donas das bases materiais da ideologia com que revestem sua identidade social.
O que deve ser liberado são as múltiplas possibilidades para a humanidade formar uma sociedade, mas também para o indivíduo se ligar aos outros tendo em vista formar uma nova sociabilidade. Tal objetivo, que pode ser descrito como minimalista, não define preventivamente a forma da associação de indivíduos: essa associação não se destina por natureza a ser geográfica, étnica, religiosa, socialista, econômica, anarquista, produtiva ou qualquer outra forma de associação ideológica. No entanto, não se pode descartar que tais ideologias trabalhem o laço social e o estabilizem com o consentimento das partes envolvidas. Elas são os repositórios últimos da emancipação social e ninguém pode poupá-las do esforço de se nela envolver.
Uma sociedade liberta da compulsão para valorizar o valor não verá uma explosão de possibilidades. Não parecerá, assim, um fogo-de-artifício libertário. As possibilidades não são ilimitadas, hoje menos do que nunca; basta dizer que elas são muitas e que essa multiplicidade é desejável frente a um mundo cuja lógica motriz é “unidimensional”.
Essa pretensão mínima, que poderia ser chamada de critério mais baixo da revolução, não pretende moldar o mundo à imagem de uma nova ideologia da totalidade erguida sobre os escombros da forma totalitária de socialização. Depois de prestado um serviço, o conceito dialético de totalidade poderia, assim, tornar-se uma peculiaridade datada da história do pensamento, peculiar a uma época que o tornara necessário, mas também, enfim, inadequado para acompanhar outras condições históricas.
*Sandrine Aumercier é psicanalista, membro da Psychoanalytische-Bibliothek de Berlim e cofundadora da revista Junktim. Autora, entre outros livros, de Tous écoresponsables?
Publicado originalmente no site Critique de la valeur-dissociation. Repenser une théorie critique du capitalisme.
Notas
[i] Georg F. W. Hegel, Qui pense abstrait ?, Paris, Hermann, 2007 [1807].
[ii] Ver, em particular, Georg Lukács, Histoire et conscience de classe, Paris, Minuit, 1960; Karel Kosik, La dialectique du concret, Paris, Éditions de la passion, 1988.
[iii] Gérard Lebrun, La patience du concept, Paris, Gallimard, 1972, p. 353.
[iv] Robert Kurz, Grey is the Tree of Life, Green is Theory, Albi, Crisis and Critique, 2022.
[v] Karl Marx, Le Capital, Livro 1, Paris, Gallimard, 1993, p. 129.
[vi] Jacques Lacan, “Propos sur la causalité psychique”, Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 172.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA