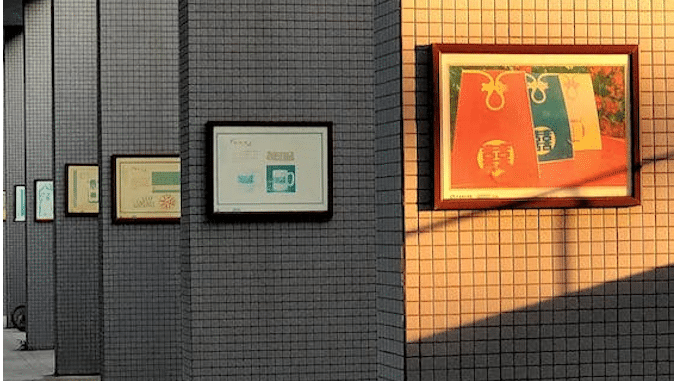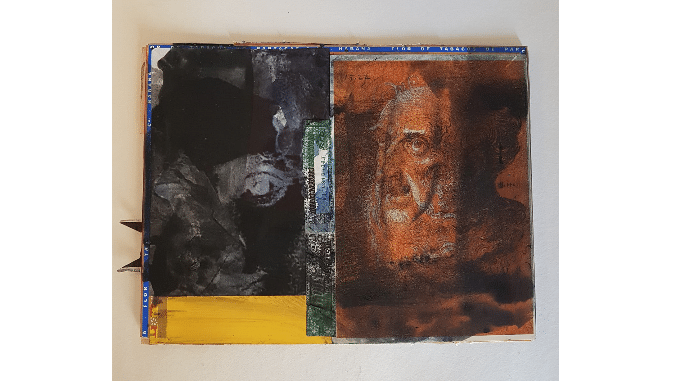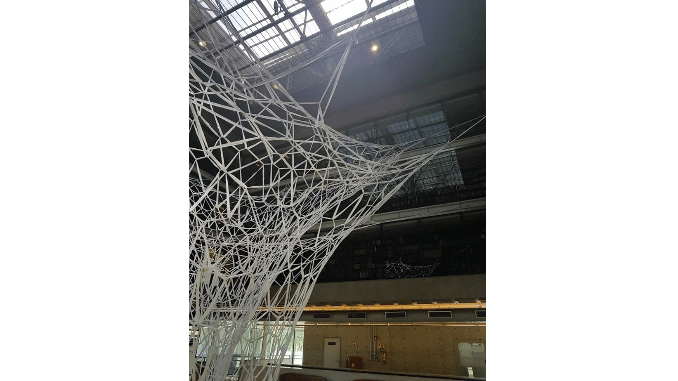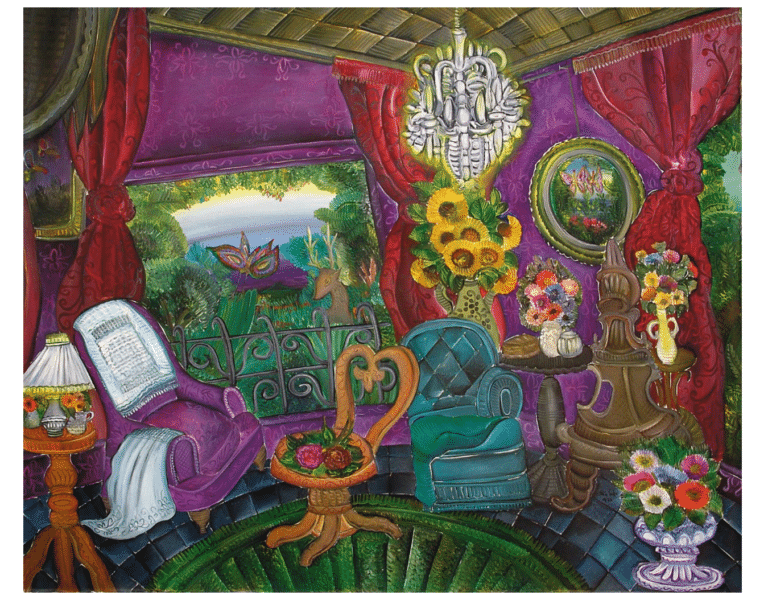Por JEAN MARC VON DER WEID*
Não mudamos de rumo com o golpe militar de 1964, mas a intensificação das piores características da nossa nacionalidade representou um ponto de inflexão
1.
Pontos de inflexão definem momentos de alteração de rumos precedentes. Todos nós, indivíduos, assim como povos e nações, podemos elencar esses pontos em uma linha do tempo. O golpe militar 1964 foi, tanto na minha vida pessoal como na história do Brasil, um desses pontos. Mas há outros no passado que iluminam este momento histórico. Avaliar quais foram estes pontos e as dimensões da mudança é um exercício interessante e, certamente, os leitores terão suas próprias apreciações.
Sem querer ser exaustivo e sem pretensões a um aprofundamento científico (se é que se trata de ciência), quero lembrar elementos da nossa história que foram conformando o contexto dos chamados “idos de março”.
O Brasil foi gestado como um dos primeiros empreendimentos capitalistas do mundo. A colônia portuguesa se estabeleceu como uma empresa de produção de uma commoditie, o açúcar, na qual o trabalho era imposto aos negros escravizados. Este padrão se manteve, trocando-se a commoditie segundo as condições de mercado (açúcar, café, cacau, algodão, charque, outras) ao longo da maior parte da nossa existência enquanto país. Após o fim da escravatura, o ciclo se prolongou, vindo a incorporar, mais recentemente, produtos como soja, milho, carnes, suco de laranja, celulose, outros.
O resto da economia nacional era pouco relevante, sendo que os produtos consumidos pela elite branca eram importados e os consumidos pela mão de obra escravizada ou pelo resto da população eram produzidos por um campesinato de pequeno porte, ocupando as áreas marginais dos empreendimentos exportadores com ou sem mão de obra escravizada. Com o tempo foi se gestando um mercado de consumo local suprido quer por escravizados quer por artesãos livres.
Este padrão socioeconômico ficou intocado até a segunda metade do século XIX, quando uma incipiente industrialização começa a ocupar espaço, como mostram as iniciativas do Visconde de Mauá. Mas a elite econômica brasileira era composta, sobretudo, pela classe dos proprietários de terras e estes sabotaram, com o suporte do Imperador, todas as iniciativas industrialistas e modernizantes e levaram o nosso primeiro capitalista moderno à falência.
Alguns consideram que o nosso primeiro ponto de inflexão histórico foi a independência, embora a forma como ela se deu tenha significado mais uma continuidade do que uma ruptura. No entanto, pode-se especular se este processo não teria sido o que permitiu a nossa existência como uma unidade quase continental, contrastando com a proliferação de países resultantes da dissolução do império espanhol.
Outros analistas apontam para o fim da escravidão como um ou mesmo o grande ponto de inflexão na nossa história. Apesar da oposição dos latifundiários, a emancipação dos escravizados foi aprovada pela maioria dos parlamentares, mas o preço cobrado foi o fim do império, já no ano seguinte. Pode-se dizer que a Lei Áurea foi uma oportunidade perdida para uma verdadeira inflexão, por não ter enfrentado a questão do direito dos libertos a terras para sobreviverem dignamente.
A questão da terra e sua propriedade seguiu sendo a chave para a existência de um país profundamente desigual, gerando o enorme contingente de pobres marginalizados, urbanos e rurais, que se mantém até hoje.
2.
A República, proclamada através de um golpe militar, o primeiro de muitos, perpetuou o modelo socioeconômico vigente no império, alterado apenas pela adoção do trabalho “livre”, em parte significativa exercido pela migração europeia ou, no começo do século XX, pela japonesa. Esta força de trabalho era composta de camponeses empobrecidos pela crescente capitalização do agro nestes países.
Até a crise mundial de 1929, éramos essencialmente um país agrário, povoado por massas incultas e miseráveis, baseado em uma economia agroexportadora e com um mercado interno restrito. Discute-se, até hoje, se a revolução de trinta foi, de fato uma revolução, ou uma quartelada desorganizada. Do ponto de vista da estrutura produtiva, entretanto, o regime de Getúlio Vargas mobilizou recursos que se voltaram para um processo de industrialização, centrado na substituição de importações. A explicação deste fenômeno modernizante tem mais a ver com a perda de influência da elite agrária, empobrecida pela derrubada dos preços do café, açúcar, borracha, cacau.
A nossa burguesia industrial tem origem no capital da elite agrária que buscava alternativas para seus negócios e nos recursos amplos do Estado, que assumiu os empreendimentos mais vultuosos e arriscados, como a siderurgia e, mais tarde, a exploração de minérios e de petróleo, além de financiar generosamente os privados. Uma incipiente classe média começa a tomar forma e ganhar espaço, mas é bom notar que a marginalização das amplas massas rurais e urbanas continuou sendo um marco permanente.
A queda de Getúlio Vargas não se dá por qualquer programa avançado do presidente, do ponto de vista do projeto econômico. Foi outro golpe militar que não alterou as bases da produção nacional, mas que abriu ainda mais a economia para os investimentos estrangeiros, ainda na maré da substituição de importações, acelerada pelas contingências do período da segunda guerra mundial.
Getúlio Vargas volta ao governo em 1950, na onda do apoio do recém-criado PTB, de uma classe operária que vinha crescendo rapidamente, mas carregando um acordo com o setor agrário enquistado no PSD. O Getúlio Vargas do segundo governo veio mais ousado (vide a criação da Petrobras) e abrindo caminho para uma participação política mais ativa do proletariado através de concessões que fizeram a popularidade (e o repúdio) do seu ministro do trabalho, João Goulart. Mas nesse período também cresceu o protagonismo de uma classe média emergente, alinhada no liberalismo e no americanismo, cuja expressão maior foi a UDN, que combinava contraditoriamente ideais democráticos com um direitismo autoritário.
O suicídio de Getúlio Vargas fez gorar mais um golpe militar no Brasil e permitiu a retomada de um processo democrático. Na sucessão, a expressão modernista de Juscelino combinou-se com a manutenção de todos os privilégios da elite agrária. A questão da reforma agrária continuou uma chama ardendo em fogo abafado, atenuado pela intensa migração rural-urbana, promovida pelos investimentos estatais ou privados que atraíram milhões para as obras públicas que se multiplicaram nos “cinquenta anos em cinco”.
3.
A era Juscelino foi um ponto de inflexão? Nem tanto. As marcas do processo de industrialização iniciado por Getúlio Vargas continuaram se combinando com as fortes marcas da economia rural latifundista. O que este período traz de novo é um movimento cultural renovador e progressista no conteúdo e na forma. E os movimentos sociais, sobretudo sindicais urbanos, passaram a ganhar uma evidência e contundência maiores, desafiando a hegemonia conservadora das elites.
Apesar destes avanços, é bom lembrar que o vitorioso nas eleições presidenciais de 1960 foi o conservador populista Jânio Quadros. Mas também é bom lembrar que a eleição de Jânio Quadros se deveu à dobradinha informal com o candidato a vice da chapa trabalhista, João Goulart. Votava-se para presidente e para vice separadamente e a “chapa híbrida”, Jan-Jan, ganhou a eleição, mostra do poder de fogo das massas populares, embora também mostre a miopia política dos seus líderes.
Jânio Quadros tentou um golpe para governar de forma autoritária, mas fracassou e abriu espaço para outra tentativa de golpe, esta das Forças Armadas, visando impedir a posse de Jango. A resistência popular encabeçada por Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, apontava para um momento de inflexão, ao provocar a divisão das Forças Armadas e um forte surto de participação das classes oprimidas. Tudo isto foi debelado por mais uma conciliação das elites, com o Congresso votando a emenda parlamentarista e as Forças Armadas aceitando a posse de Jango, com poderes muito diminuídos, mas com possibilidade de retomá-los em um plebiscito. Nenhum militar foi punido por golpismo.
Que teria ocorrido se Jango recusasse o acordo e comandasse o movimento legalista apoiado pela nossa mais poderosa unidade militar, o Terceiro Exército? É bem provável que as outras unidades acabassem capitulando e que a correlação de forças políticas se alterasse muito, mas isto é apenas especulação histórica. Foi um ponto de inflexão perdido.
O governo Jango herda um quadro administrativo degradado, com um déficit público nunca visto antes, o preço pago pela construção de Brasília e as sandices de Jânio Quadros. A inflação disparou e a taxa de investimentos, nacionais e estrangeiros, caiu. Foram anos de crise sobre crise, com a classe operária lutando para preservar o poder de compra dos salários. Por outro lado, um muito incipiente movimento camponês mostrou a cara e se articulou em sindicatos, mais conservadores, e nas Ligas Camponesas, com um programa mais radical e, sobretudo, uma prática mais agressiva na luta pela Reforma Agrária.
O contexto internacional não ajudava esses processos de mudança. A guerra fria estava no seu auge, chegando à beira de um enfrentamento nuclear na crise dos mísseis russos em Cuba, em 1962. O papel de polícia política já estava consagrado e as forças armadas americanas e a CIA atuavam em todo mundo para conter qualquer avanço político que tivesse suspeitas de influência comunista.
É só nesse contexto que se pode entender, olhando com olhos de hoje, a reação feroz das elites nacionais e dos agentes do império americano, ao tímido programa de “Reformas de Base” do governo Jango. Em particular, a proposta de reforma agrária era para lá de limitada e a única ousadia era ser a primeira vez que se falava em desapropriar terras do latifúndio (mas só o dito improdutivo e só em terras que ladeassem as rodovias federais).
O que assustava a elite política brasileira era o avanço das forças progressistas nos processos eleitorais. Embora ainda fossem minoritários, os progressistas estavam avançando, sobretudo na Câmara de Deputados, apesar da derrama de dinheiro americano para financiar seus simpatizantes, em 1962.
4.
E assim chegamos ao golpe de 1964. Para muitos, sobretudo da esquerda, este teria sido um óbvio ponto de inflexão na história do Brasil. Não tenho dúvidas de que foi um momento decisivo, mas qualificá-lo como ponto de inflexão exige uma análise mais aprofundada.
Para ser um ponto de inflexão, teria sido necessário alterar o rumo que o país seguia previamente e indicar o novo rumo adotado.
Estava o Brasil a beira de um processo revolucionário? Todo o discurso da direita golpista, fardada ou não, apontava um dedo acusador para o governo de Jango, embora as ameaças não fossem sempre as mesmas. Para uma parte importante dos conspiradores e da opinião pública estávamos a caminho do comunismo. Uma piada que circulava nos anos sessenta espelhava esta posição: “no Brasil, os mais prudentes estão estudando russo, mas os mais espertos estão estudando chinês”. Por outro lado, entre as forças políticas conservadoras e na grande imprensa, a ameaça era o que se crismou de “república sindicalista”, uma espécie de varguismo com mais latitude para os movimentos sociais, ou um peronismo falando português.
A segunda acusação estava mais ancorada na nossa história e mais coerente com o personagem chave, o Jango, visto como um candidato a autocrata populista. Como dizia o meu avô, ex-deputado federal cassado por Getúlio Vargas, “ameaça comunista é um conto da carochinha, história para assustar velhinhas”. Para ele o perigo era uma ditadura varguista com outro líder. Os americanos, pouco afeitos a análises históricas mais sutis, a ameaça era mesmo comunista, açulada pela revolução cubana, realizada pouco antes nas barbas do império.
O país vivia um momento de grande mobilização política das massas, sobretudo operárias, mas também estudantis, embora as mobilizações no campo fossem de caráter mais localizado. As forças políticas que animavam este processo eram de esquerda, mas com matizes bem variados. O trabalhismo de esquerda, sobretudo aquele polarizado por Leonel Brizola, era talvez a força numericamente mais importante, por seu peso na base sindical urbana.
Já o PCB tinha uma influência mais disseminada, embora minoritária em qualquer dos setores, operário, estudantil ou camponês. A sua área de maior importância relativa era na intelectualidade e no setor cultural. Era, no entanto, o movimento mais bem organizado e disciplinado. À esquerda do PCB, a força com mais expressão era a Ação Popular, oriunda da igreja católica e com bases importantes nos movimentos de juventude, sobretudo universitária e camponesa.
E ainda havia outras organizações independentes das citadas, como o movimento das Ligas Camponesas, lideradas por Francisco Julião, e que disputava as bases rurais com o PCB e a AP. Expoentes destas correntes tinham lugar no governo, a AP com uma presença acima de sua influência real e ocupando ministérios e programas de grande alcance político e social.
Embora o avanço destes movimentos fosse significativo é preciso matizar o balanço de forças em 1964. Para começar, o Congresso, sobretudo o Senado, era dominado por forças conservadoras e Jango tinha que negociar com o centro e até fazer concessões à direita para governar, mesmo depois de anulado o regime parlamentarista e tendo recuperado os plenos poderes da presidência.
Em segundo lugar, o movimento sindical, embora agressivo em seus movimentos reivindicativos, não era politizado a ponto de assumir um programa revolucionário do tipo “controle operário” ou qualquer coisa de caráter socialista ou comunista. Em terceiro lugar, as bases camponesas organizadas, mesmo incluindo as mais conservadoras orientadas por setores mais atrasados da igreja católica, eram muito minoritárias e não há dúvida de que a imensa maioria do campesinato estava sob controle político, ideológico e social das elites rurais, os chamados “coronéis”.
Era um mundo ameaçado pelo despertar da consciência provocado pelas forças de esquerda, mas ainda solidamente sob o controle da parcela mais à direita da sociedade brasileira, o latifúndio. Em quarto lugar, tanto a classe média como uma boa parte das classes populares estavam sob influência da igreja católica, sendo que a ala progressista que começava assumir a linha da teologia da liberação era muito minoritária.
E para concluir este contrapeso avaliativo sobre o papel da direita em 1964, temos que levar em conta a força da ideologia conservadora e da influência americana nas Forças Armadas brasileiras. Agregue-se a tudo isso uma mídia controlada por meia dúzia de famílias, todas muito conservadoras, e uma elite exacerbadamente liberal na economia, conservadora nos costumes e autoritária na política para que se juntassem os componentes que levaram ao golpe, com ajuda preciosa, financeira, moral e organizacional da CIA e da embaixada americana.
5.
Em outras palavras, pode-se notar que não me parece que estivéssemos em um processo revolucionário no Brasil, nem de longe. Mas sim, acredito que vivíamos um processo de politização intenso, com crescente participação das massas. É claro que, se compararmos com situações como as do Chile ou da Argentina em 1973, o Brasil ainda estava longe das condições da luta de classes destes países. Nos dois casos, havia processos revolucionários avançados em curso e os golpes respectivos (Pinochet e Perón, seguido pelo golpe militar) quebraram estas dinâmicas.
Não é por outra razão que a nossa “ameaça comunista” ou de “república sindicalista” ruiu como um castelo de cartas, enquanto nos citados países foi preciso um massacre de grandes proporções para impor o poder da direita. Não estou aqui minimizando a repressão no Brasil, tal como um conhecido historiador da direita o fez, ao cunhar a expressão “ditabranda”. Só podemos aceitar uma relativização quando comparamos os processos de repressão nos três países.
Os golpes citados, e muitos outros, geraram regimes ditatoriais em quase todos os países da América Latina, incluindo Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Nicarágua, El Salvador, Guatemala, República Dominicana. A nossa ditadura foi menos sangrenta, sobretudo se colocarmos os números em proporção com o tamanho das populações brasileira e dos outros países. Mas do ponto de vista da nossa evolução política o efeito foi o mesmo: destruição dos movimentos sociais e controle das suas formas de organização, censura nas comunicações e nas artes, controle dos processos de organização partidária e eleitorais.
Foi um enorme retrocesso ao intenso movimento de politização e participação do início dos anos 1960. Entre 1964 e 1978, os movimentos grevistas operários se contaram nos dedos de uma mão, enquanto as manifestações camponesas tiveram alguma expressão até o AI-5, embora estritamente localizadas e desconhecidas no resto do país (e pesadamente reprimidas). As grandes manifestações contra o regime militar entre 1966 e 1968 foram obra do movimento estudantil (ME), que foi capaz de arregimentar o apoio (inorgânico) da classe média urbana, mas este sucesso provocou uma repressão exacerbada que reduziu a quase nada o ME até a retomada de 1977.
O regime militar no Brasil esgota o seu ciclo no poder menos pela ação da oposição democrática ou da esquerda, armada ou não, mas por suas contradições internas. O projeto de abertura do general Ernesto Geisel foi acelerado e alargado pela pressão da sociedade civil, mas na sua essência ele foi gestado, aplicado e controlado pelo próprio regime, com exceção do desfecho, a sucessão do general João Figueiredo.
Enquanto vivíamos nas sombras do regime repressor, a economia passava por um processo de aceleração que intensificou o já antigo movimento de substituição de insumos e ampliou o papel da indústria e dos serviços, com uma redução do lugar do agronegócio, inclusive nas exportações. Ao contrário das análises iniciais dos economistas progressistas o Brasil não se “pastoralisou”, neologismo criado por Celso Furtado, em 1965. Sob o tacão da repressão que permitia uma superexploração da mão de obra, a economia cresceu a taxas chinesas (antes seriam os “tigres asiáticos”) de 11 a 13% ao ano, puxadas pelo acelerado crescimento industrial. Não durou muito devido ao choque do petróleo de 1973, que provocou o endividamento externo galopante que nos levou à moratória na década seguinte.
Mesmo o agronegócio mudou de rumo, em parte. O regime militar adotou uma política de favorecer (e pressionar) a modernização do agro, com a criação da EMBRAPA e da EMBRATER e com os pesados subsídios para o financiamento do uso de adubos químicos, sementes melhoradas, agrotóxicos e maquinário. Tudo isso teve um efeito maior a longo prazo e resultou na criação de um poderoso segmento econômico de alcance internacional dos anos 1990 em diante.
Os anos do regime militar viram a migração de perto de 30 milhões de rurais, com uma forte transferência de mão de obra de baixo nível de educação e de formação profissional, tanto para a área da construção civil como para a indústria. Este processo esvaziou, por um tempo, a pressão por mais terras do campesinato, também aliviada pela migração para a fronteira agrícola ao norte e à oeste. Os conflitos por terra se multiplicaram sobretudo nestes novos espaços de expansão do agro, com o latifúndio disputando com a agricultura familiar o Cerrado e a Amazônia. Não é menos importante, neste processo maciço de migração rural, o fato de que o agro tradicional em transformação livrou-se de uma categoria de camponeses, os moradores e os meeiros que viviam à sombra dos latifúndios e que praticamente desaparecem entre os censos de 1960 e 1990.
6.
Este Brasil modificado profundamente na sua base social pelo regime militar é o que herdamos na redemocratização. E o muito reprimido movimento camponês ressurgiu com toda a força, retomando aos poucos as suas organizações sindicais e criando novas formas como o MST, recolocando a luta pela terra no centro da política de desenvolvimento. O agronegócio readquire seu papel preponderante na economia e na política, mas o contraponto dos movimentos sociais também está moldando o país que temos.
Para completar esta curta sinopse das mudanças impostas desde o golpe de 1964 é de se notar que adotamos o tipo de desenvolvimento rural aplicado na Europa e nos EUA, chamado de revolução verde, com todas as suas consequências: altos rendimentos imediatos, mas altos custos de insumos e energia e intensa destruição ambiental. É um sistema insustentável no médio e longo prazo e estes prazos estão se esgotando.
Concluindo, apesar de não ter havido uma inflexão na economia, a intensificação do modelo trouxe significativas mudanças sociais, sempre mantendo o caráter excludente das amplas massas urbanas e rurais. Somos recordistas mundiais em má distribuição de renda, em população em insegurança alimentar, em destruição ambiental, em baixo nível de educação, em problemas de saúde, saneamento e insegurança pública. Em contraste, estamos entre os oito países mais “desenvolvidos” do mundo (pelo critério do tamanho do PIB), com uma minoria privilegiada entre as mais ricas do planeta.
Não mudamos de rumo com o golpe, mas a intensificação das piores características da nossa nacionalidade representou, sim, um ponto de inflexão. Isto não quer dizer, é óbvio, que se não tivesse havido o golpe teríamos o melhor dos mundos ao nosso alcance. Mas uma trajetória embrionária de mudanças sociais, mesmo moderada, foi interrompida e isto moldou o nosso presente e futuro.
A história do Brasil foi feita com uma sucessão de arreglos entre setores das classes dominantes de tal forma que as mudanças de forma serviram para mascarar a manutenção de um mesmo conteúdo. O país segue em sua trajetório de pilhar os recursos naturais e destruir o meio ambiente, superexplorar o trabalho e manter um dos maiores níveis de desigualdade de renda do mundo.
E, last bur not least, alternando períodos de relativa liberdade democrática com períodos de recuos nestes direitos e repressão, com alienação do mundo do trabalho. Este modelo histórico nos conduz à nossa situação atual, onde as crises de todos os tipos, economicas, sociais, ambientais e políticas vão se agravando e interalimentando, sem que surja uma alternativa de futuro viável.
*Jean Marc von der Weid é ex-presidente da UNE (1969-71). Fundador da organização não governamental Agricultura Familiar e Agroecologia (ASTA).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA