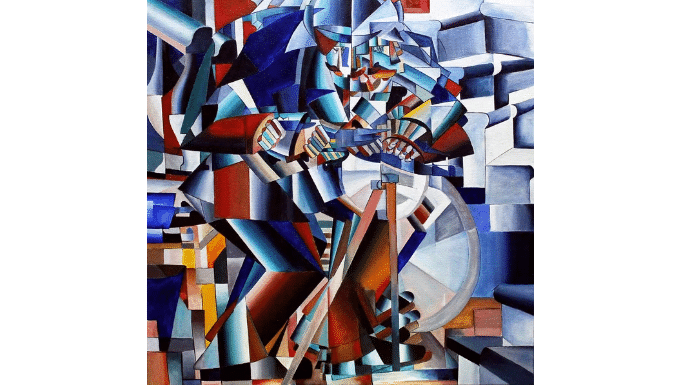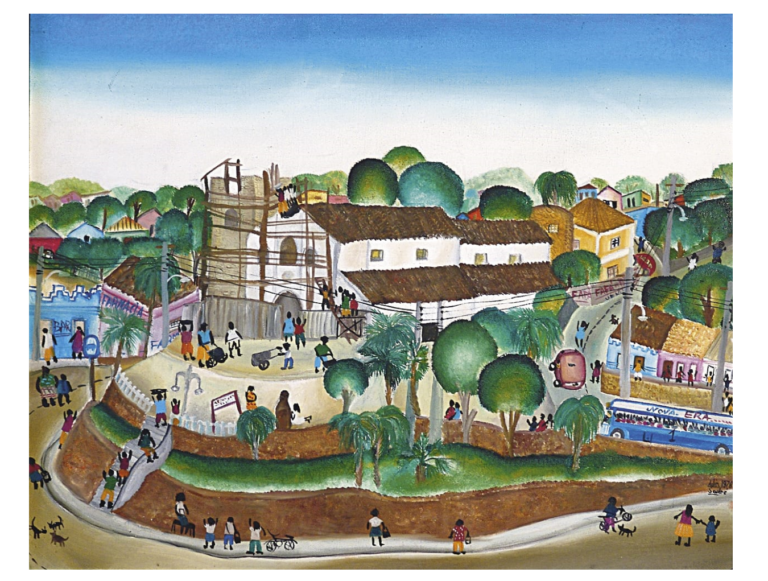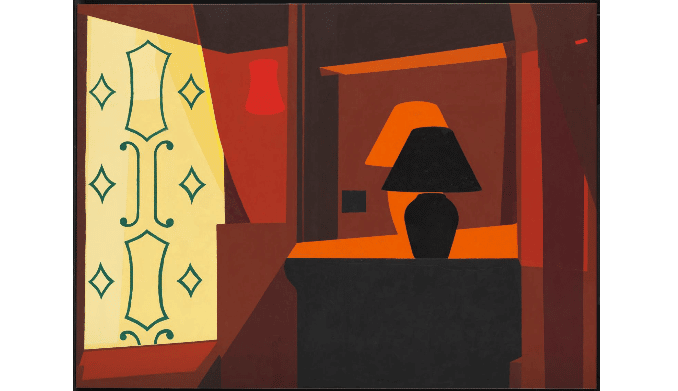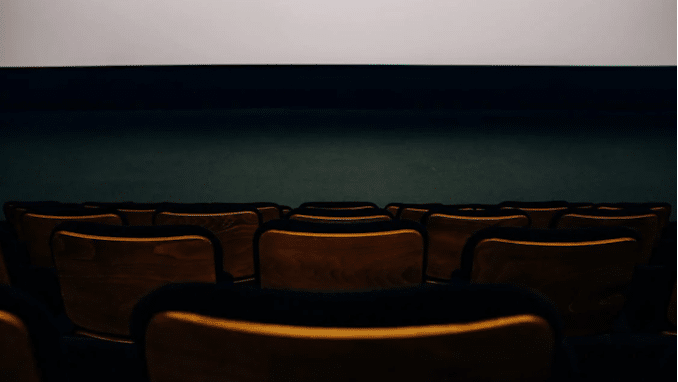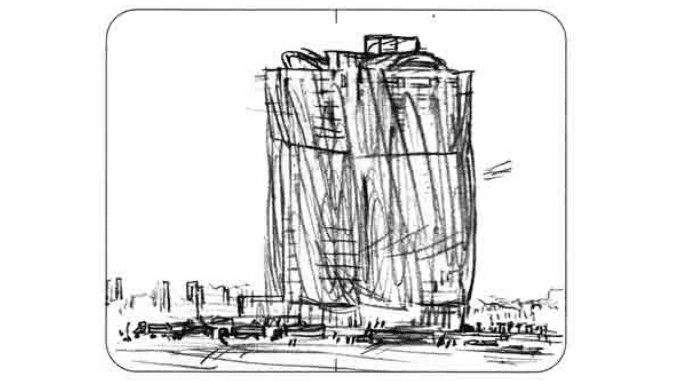Por FLÁVIO R. KOTHE*
É preciso abandonar a pretensão de abarcar tudo com uma, quatro ou dez categorias do conhecimento
Para Platão, Aristóteles ou Vitrúvio, a escravidão não era um problema e sim uma solução que nenhuma pessoa de bom senso e honesta deveria questionar. O patrão só não deveria tratar o escravo muito mal, para não suscitar vinganças, nem bem demais, a ponto de ele querer se igualar ao dono. Era, portanto, pio, honesto e decoroso ser dono de escravos, negociar gente. Para o Direito Romano, o escravo equivalia a um muar e podia, portanto, ser açoitado e até morto pelo dono sem que houvesse pena. Platão admitia escravizar povos vencidos em guerras.
A arte que servisse para enaltecer a grandeza dos senhores e mostrar a baixeza dos escravos estava aí dentro dos padrões da “veritas aesthetic logica”. Isso pode ser comprovado em Aristófanes e Plauto, como em Homero e Platão. O cristianismo contrapôs a tese de que todos os humanos teriam alma, mas soube conviver com a escravidão durante séculos, inclusive sacramentando-a como vontade divina (baseando na suposta maldição de Noé). Baudelaire fez, porém, no poema sobre “A raça de Caim”, a inversão do discurso bíblico. Quando se fala sobre a escravidão antiga, parece que o problema não nos afeta: nosso “correto” não vê o assalariado, o desempregado e quem vive de bicos como escravos modernos, mais baratos que os antigos. Não nos preocupamos com o que incomoda.
Se não havia problema moral em admitir a escravidão como instituição social, não haveria problema em a arte ser subserviente e usada para legitimar e auratizar a dominação. Isso era “normal”. Na Poética, Aristóteles garante que a divisão de gêneros em elevados e baixos dependia das personagens serem de origem aristocrática ou baixa. A poética dos gêneros internalizava a escravidão. Ela não admitia um nobre em posturas ridículas, embora tivesse o exemplo de Ajax caindo, ao disputar com Ulisses as armas de Aquiles (nenhum soldado poderia entrar na disputa), na bosta de bois sacrificados na véspera, ou um personagem de extração social baixa ter perfil heroico. Na Ilíada, o soldado Térsites ousa apresentar na assembleia reivindicações e reclamações dos soldados. O “líder sindical” é apresentado como deformado e ridículo. A perspectiva de Homero era aristocrática, não democrática.
As quatro definições de Kant sobre o belo e as quatro sobre o sublime atendem ao ditado pela tabela das categorias, que ele adotou sem questionar: qualidade, quantidade, modo e finalidade. Se tinham sido dez em Aristóteles, sete na lógica de Port Royal e quatro na época de Kant, hoje parecem reduzidas a uma só, a quantidade, o que significa, na prática, que a obra parece valer quanto custa. O problema é que a obra é a mesma quando vale milhões de dólares e quando não valia praticamente nada. Portanto, a quantidade não resolve o problema da qualidade da obra (noção que precisa ser recuperada nos diversos sentidos propostos por Aristóteles).
Tão importante quanto a finalidade é a origem, pois ela não é o mesmo pelo avesso, a outra ponta da meada: como origem define o que dela vai decorrer. Quando aparece em Heidegger, no ensaio A origem da obra de arte, é para dizer uma banalidade: a origem da obra de arte é o artista, assim como a obra de arte faz com que ele seja artista. Os dois existem aí sozinhos no mundo, não há receptor, não há mediador, não há ação do poder na validação e circulação das obras. Um segue o outro, um vê a nuca do outro, com a pretensão de, girando em círculos hermenêuticos, discernir o que ficaria no meio: a artisticidade. Nessa abordagem não existem história, organização social, política, luta ideológica, embora sejam vetores decisivos na sobrevivência dos autores. O fantasma da arte não se deixa exorcizar. Ele é um mistério apenas sugerido. Assim dança essa tribo.
Para falar em Dichtung (a composição densa, em tom elevado), embora Heidegger pudesse ter apelado para Homero ou Horácio, preferia poetas de língua alemã: Hölderlin, Trakl, George, Rilke. Ficam descartados Petrarca, Shakespeare, Baudelaire, Mallarmé, Mandelstam, Fernando Pessoa. A resultante da reflexão depende dos fatores levados em conta. Não se chega aos mesmos resultados com vetores diferentes. Ele não vê problema em Hölderlin morrer de saudade dos deuses gregos, não contrapõe ao espírito aristocrático de Rilke o popular de Brecht, o evanescente de Mallarmé em contrapartida ao de Trakl. Hegel achou que a poesia seria o gênero de arte mais elevado por ser de acesso mais universal: não levou em conta que ela depende da língua em que foi escrita.
Em Sein und Zeit, Heidegger pretende ter feito a analítica do Dasein, sem aceitar que seria uma antropologia filosófica marcada pelas tensões da República de Weimar. Sem ter essa clareza, embaça a visão política, confunde a atmosfera do país com o “modo universal do humano”. Ao enfatizar a supremacia ontológica, perde a noção da marca ôntica. Também a perdem discípulos que confundem ontologia com o que europeus disseram.
Platão não desconstruiu essa pretensão de “universalidade” do filósofo ao fazer dele um ambicioso do poder, a ponto de negar a evidência de que bonequeiros e escravos já tinham saído antes dele da caverna, seja para copiar modelos externos, seja para buscar lenha para alimentar a fogueira ou alimentos para os senhores amarrados. Não há a menor gratidão pelo esforço escravo, não se pensa em remunerar seu trabalho. Platão era membro da aristocracia escravagista ateniense e, ainda que mostrasse a classe patrícia presa à acomodação, não podia admitir que escravos e artesãos pudessem ter a pretensão de pensar por si e governar. Não seria um eleitor do partido dos trabalhadores, embora detestasse tiranos. O escritor foi nele mais longe que o ideólogo, ao deixar transparecer que escravos e artistas tinham saído antes da caverna: isso não entrou, porém, na argumentação do pensador. Pode-se entender que os filósofos seriam aí enganadores ao pretenderem saber mais e ao propor o sol como centro do universo.
O que parece ser a distinção entre detentor da verdade e dominado pela aparência é apenas uma aparência de verdade: o sol não é o centro do universo, critério proposto para contrapor episteme e doxa. Já que somente membros da aristocracia podiam aí tornar-se “filósofos”, tratava-se antes de uma ideologia aristocrática do que de filosofia. Eles podiam chegar ao poder porque já estavam no poder. Quando chegassem ao poder por via do “mérito”, tratariam de se manter no poder. O bem comum seria ditado por eles no sentido de “meus bens”. O neoplatonismo não viu isso. Ele era um desvio ideológico, que não quis fazer a crítica pertinente. O sistema universitário dos Estados Unidos reserva o melhor ensino para a plutocracia. O prestígio das “grandes universidades” é ditado por interesses da oligarquia, embora elas tudo façam para provar que merecem.
Para Homero, Platão, Aristóteles, Vitrúvio e tantos pensadores antigos, não poderia ser filósofo, comandante militar ou governante quem tivesse origem fora da aristocracia. Achavam normal a escravidão, acreditavam que a oligarquia tinha origem divina. Os estratos sociais mais baixos não tinham formação escolar, assistência médica, chance de ascensão social. Com a reforma na educação introduzida na Prússia por Frederico II – ensino obrigatório, internatos gratuitos para jovens talentosos, universidades públicas –, a Alemanha se tornou uma potência.
Kant era filho de um carpinteiro; Fichte era pobre, sobrevivia dando aulas a filhos de aristocratas; Hegel teve de ser diretor de ginásio para se sustentar. Napoleão era de extração social baixa e dominou a Europa. Há grandes compositores de origem pobre: Mozart, Beethoven, Liszt. A Alemanha mantém o ensino superior gratuito para dar oportunidades iguais a todos.
Não precisar trabalhar e ter tempo para se dedicar à filosofia, à arte ou à política facilita a vida de quem faz esse tipo de opção, mas não é por si garantia de que vai produzir bem. Não se fabricam gênios em série. Em O vermelho e o negro, Stendhal colocou como protagonista um Don Juan que não tinha origem aristocrática. Flaubert, em Madame Bovary, contou a tragédia de uma mulher da baixa burguesia que tinha uma imagem idealizada da nobreza; Zola narrou as condições dos mineiros; Proust zombou da aristocracia.
Em nenhuma das reiteradas leituras de Platão ou Aristóteles, Heidegger vê problema em serem escravagistas ou aristocráticos. Os “estudos clássicos” eram oligárquicos. Nesse sentido, sua obra desvela uma tendência direitista, que lhe permitiu simpatizar com o nazismo em 1933-34, embora depois tenha escrito textos antitotalitários, como quando fez da liberdade a essência da verdade. Nietzsche, que era contra o igualitarismo socialista, só usava o termo “filósofo” com ironia. Por mais que divirja em suas escolas, a filosofia não costuma questionar os próprios pressupostos. A teoria literária, ao fazer sua leitura como texto, consegue captar esquemas ideológicos subjacentes às proposições.
O que fazer? No Brasil, quase não há teoria literária capaz de questionar os substratos ideológicos da filosofia e dos cânones literários. Entre os filósofos profissionais, quase não há abertura para o que a teoria literária avançada teria a propor. Entre duas negações, fica difícil o caminho, a ser feito fora dos cursos de Letras e de Filosofia: os técnicos de outras áreas não estão em geral aptos a entender o problema nem querem levar adiante o questionamento. Nesse contexto, quem se propõe a seguir esse percurso pretensioso é um desventurado aventureiro.
Questionar fundamentos metafísicos tem sido questionar a visão cristã de mundo, com seus valores, monumentos, instituições, pois é ela que domina a ontoteologia. É muito moinho para pouco Quixote. Essas estruturas são gigantes que controlam nosso modo de perceber, avaliar, ajuizar. Não basta somar as finalidades atribuídas à arte em diversas culturas e épocas. Não basta seguir Heidegger e Hölderlin, é preciso encarar o que significam essas estruturas, de um modo que não se costuma admitir que se faça: sem subserviência aos pressupostos e ditames da crença.
Significa também não se lamentar por estarmos num mundo abandonado pelos deuses helênicos: se os gregos idealizam nos deuses o tipo físico do patriciado em detrimento das raças dos escravos, se os “imortais” eram explicações antropomórficas para eventos da natureza, termos nos livrado deles é um progresso da liberdade e do esclarecimento. Resta hoje nos livrarmos dos deuses cristãos para se pensar com menos preconceitos. Engodo moderno é se abrigar na ilusão matemática das ciências ditas exatas, supondo que com ela apreendem de modo preciso e pleno a realidade. No todo e nos detalhes, a arte exige mais exatidão que a ciência, ela não admite médias nem se restringe à correção conforme paradigmas. A essência da arte não é o mínimo denominador comum das obras consideradas artísticas em diferentes épocas e culturas.
Inverter a questão da finalidade da arte dando espaço à origem não basta. Taine queria explicar a obra pela raça, pelo meio e pelo momento. A origem social, biográfica ou política não explica a grande obra. Duas sementes no mesmo lugar dão origem a plantas de tamanho e forma diferentes. A origem é uma série de condições: gênio é aquele que vai muito além da média. Não há sociologia que o explique. Não é redutível à finalidade que lhe querem atribuir.
Os alunos brasileiros continuam não aprendendo na escola Homero, Eurípides, Shakespeare, Cervantes e outros clássicos universais. Continuam na universidade sem tomar conhecimento deles. Tomá-los como referência e ainda ver suas limitações ideológicas não leva à deferência. A ignorância se torna arrogância, para a qual não tem importância o que ignora. A produção literária que surge para lá do horizonte do cânone não é levada em conta, não é valorizada, pois está fora do substrato que foi semeado na escola.
É preciso abandonar a pretensão de abarcar tudo com uma, quatro ou dez categorias do conhecimento. Elas se dão apenas dentro do horizonte do discurso, como se a verdade estivesse na linguagem e não fosse a própria coisa aparecendo. Há, porém, uma verdade que vai além dessa verdade: o aceno ocasional do incógnito, do Seyn como verdade do Ser, para usar termos de Heidegger.
Assim como há inconsciente no sujeito, há inconsciente na coisa, aquilo que não sabemos dela, e há coisas das quais não temos a menor noção. Não há universo, não há centro, não há absoluto. Não há um todo fechado, que dê volta sobre si mesmo e seja redutível a categorias lógicas. Não pode haver, portanto, palavra final: há apenas sugestões provisórias. A língua tupi-guarani indica o tempo da coisa com sufixos no substantivo: então é a própria coisa que se modifica, o que é mais lógico do que alocar a mudança no verbo, separado do substantivo.
*Flávio R. Kothe é professor titular de estética na Universidade de Brasília. Autor, entre outros livros, de Ensaios de semiótica da cultura (UnB).