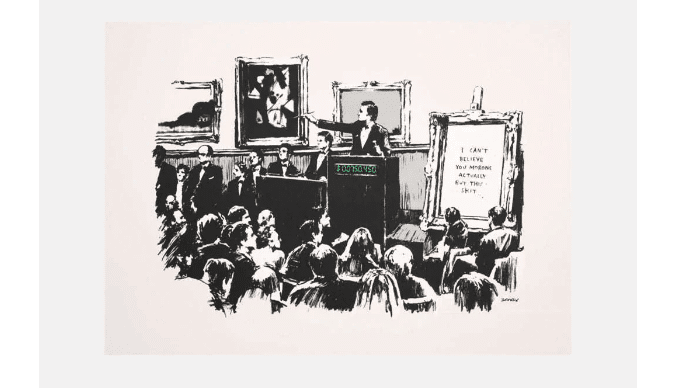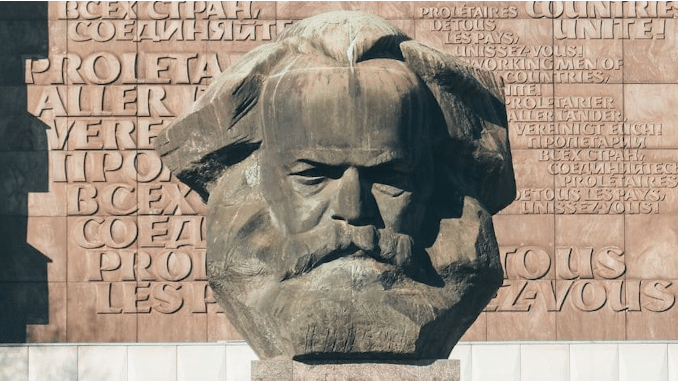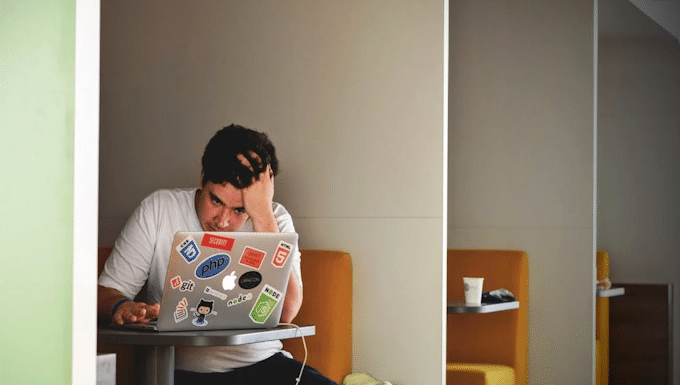Por RICARDO CAVALCANTI-SCHIEL*
Os russos finalmente parecem ter aprendido que qualquer acordo com os Estados Unidos nunca é mais do que uma farsa oportunista
1.
A queda dos impérios nunca foi pacífica. Ao que tudo indica, o traço intrínseco dos impérios é a sua arrogância. Do contrário, não o seriam (impérios). E se a arrogância é acompanhada de uma ideologia excepcionalista, quando caem os impérios, caem agonisticamente, crendo-se no direito de destruir o que quer que seja ao seu redor, afinal, para eles, o melhor destino de tudo ao seu redor não seria outro que a simples destruição, seja para o seu usufruto seja para a sua desforra.
A terceira década do século XXI insinua o início da queda de um dos mais poderosos (exatamente porque mais arrogantes e excepcionalistas) impérios da história humana. Não precisamos entrar nos detalhes da constituição cultural disso tudo agora. Alguns tantos já o insinuaram; mas talvez só tenhamos o suficiente distanciamento quando tudo acabar. Epitomizado, em sua fase final, pelos Estados Unidos e seu capitalismo ultrapredador, começamos a assistir a queda de um império policêntrico de cinco séculos que, nos termos de Immanuel Wallerstein, conformou o “sistema mundo” – império curto para os padrões históricos, mas intenso, pelas forças que desprende –, o do Ocidente colonial.
Alguns podem considerar abusiva ou mesmo meramente sensacionalista a qualificação “colonial” para todo esse âmbito sócio-histórico-cultural; até mesmo porque várias são as formas e consequências da colonialidade. O colonialismo dos séculos XVI a XVIII era fundamentalmente um colonialismo de povoamento (e isso significava sobrepor-se aos espaços nativos por meio de um transplante societário). Orientado para o Novo Mundo e para as terras ao sul da Melanésia, ele produziu resultados relativamente díspares, conforme a específica matriz cultural europeia que os geriu: seja um espaço regido pelo individualismo possesivo[I] (de pretensões “libertárias”), sopesado pelo “ruído de fundo” do puritanismo moral; seja um espaço regido pela lógica do privilégio (que pode instituir tanto a replicação interna do colonialismo quanto uma forte desigualdade social), sopesado pelo “ruído de fundo” da transculturação.
À diferença do primeiro, o colonialismo do século XIX e primeira metade do XX se tornaria um colonialismo de ocupação, traduzido, em termos genéricos, pela categoria britânica do indirect rule. E, finalmente, a última metade do século XX deu passagem ao que se poderia chamar de um colonialismo de controle, progressivamente (até hoje) aprimorado, gerido pelos mais diversos dispositivos biopolíticos,[II] e tão aparentemente diferente dos outros dois que poderia ser designado como neocolonialismo.
O que talvez valha a pena enfatizar nisso tudo é que, sob a lógica da hegemonia geopolítica do Ocidente, jamais existiu algo a que se possa efetivamente chamar de “pós-colonial”. O “pós-colonial” é apenas uma figura de retórica incorporada pelos mecanismos biopolíticos para escamotear a circunstância neocolonial. Para quem duvida desta última, a melhor demonstração é a atual resistência agonística da assim chamada “ordem internacional baseada em regras”, que carreia uma agenda regulatória liberal-progressista que tem como um dos seus garotos-propaganda exatamente a miragem discursiva do pós-colonial.
A lógica mais elementar que perpassa e une todas essas formas de colonialismo é a da suposição da superioridade civilizacional, secularizada, desde o século XIX, em termos de “progresso” técnico e social (daí o espantalho teleológico de toda forma de “progressismo”: a suposição de que, se algo é mais up to date, é também mais virtuoso). Sabemos, no entanto, que a suposição de superioridade societária, por si só, é uma banalidade antropológica recorrente para muito além da Europa moderna. O colonialismo de origem europeia exige, desde o século XVI (insinuado já mesmo desde as Cruzadas), algo mais para que seja devidamente circunstanciado. (E, não! Não é o imperativo categórico – de aparente racionalidade universal – do “interesse” do capital).[III]
Esse algo mais é o dogma messiânico (de origem judaico-cristã?) de ser a sociedade “escolhida” para reger, nos seus termos, todas as demais. Em uma palavra: excepcionalismo. E ele não constitui, necessariamente, (honrando tanto Marx quanto Lévi-Strauss) uma matriz simbólica consciente.
O que torna a queda do Ocidente Colonial particularmente perigosa para todo o resto do mundo, agora, é sua peculiar índole agonística, alimentada exatamente pelo excepcionalismo. Assim como a força que desprende, sua queda pode também ser rápida, mas potencialmente explosiva. A única esperança que suscita é que a maior parte dessa energia despendida acabe voltando-se para dentro de si mesmo; ou que assim o faça, pelas artes de algum judô (mais que de algum xadrez), o mundo ao seu redor.
2.
Passemos aos acontecimentos. A essas alturas dos fatos, só os muito tolos, os muito delirantes ou os muito hipócritas sustentam que o atual conflito na Ucrânia foi provocado pela Rússia. Essa, no entanto, é mais uma daquelas curiosas situações em que os perpetradores perdem por inteiro o controle das consequências das suas expectativas, e são engolidos por uma reação inteiramente contrária a elas, vendo-se, por casualidade, na contingência obstinada de dobrar apostas, pouco se importando se esse é um rumo potencialmente suicida. Eis aí a pulsão agonística se desdobrando.
Nos cálculos operados a partir da sua peculiar visão de mundo, eles crêem singelamente que estão imunes a qualquer rumo suicida, do mesmo modo como pensaram calcular corretamente as ações que logo antes conduziram aquelas expectativas iniciais ao abismo. O erro estaria nos cálculos? Ou estaria na matriz lógica que arranja tais cálculos? Estaríamos tratando de alguma Teoria dos Jogos, encerrada em sua autodeterminação, como tanto gostam as especulações alquímicas de uma Rand Corporation[IV]? Ou seria algo mais? Para eles, no entanto, perguntas como essas não fazem sentido. E aqui começa o judô geopolítico.
Arriscando um (como sempre imprudente e quase sempre ocioso) exercício contrafactual, não seria muito difícil reconhecer que a ordem geopolítica hoje, com seu correspondente grau de debilitamento da hegemonia ocidental, de forma alguma seria essa se não fosse o caráter de catalisador em larga escala representado pelo conflito militar na Ucrânia (e isso seguramente tem mais a ver com Teoria da Complexidade que com Teoria dos Jogos). Tudo isso em menos de três anos! Um recorde. Os historiadores do futuro talvez o comparem à Grande Guerra Mundial, em termos de abrangência, ou à Revolução Francesa, em termos de impacto sócio-histórico.
E, claro, não estamos falando simplesmente de Ucrânia. A essas alturas dos fatos, ela não é mais que um pretexto, como, a rigor, desde o princípio, sempre o foi. Assim como Taiwan o é. E a Síria também. Cada um, pretexto (ou trampolim) para um alvo maior e de riscos reconhecidamente exorbitantes, mas faceiramente desdenhados pelos poderes ainda (ou já nem tão) hegemônicos.
Desde o fim da Segunda Guerra Mundial que a CIA investe na Ucrânia como plataforma para desestabilizar, primeiro, a União Soviética e, depois, a Rússia. Nesse ponto, ideologia política, cosmologia secular e pragmatismo geopolítico convergem. Ou talvez seja melhor dizer que todos são açambarcados por uma ideologia englobante[V]: o imperialismo neocolonial, que continuou funcionando, em termos lógico-simbólicos, para o caso dos Estados Unidos, assim como seu predecessor (o imperialismo colonial) funcionara para o caso britânico.
Desde os tempos oitocentistas do Grande Jogo britânico na Ásia Central, berço discursivo da imagem conspiratória da “ameaça russa” – afinal, que o Império Russo tivesse interesses políticos e comerciais na Ásia Central é algo dedutível da mera vizinhança geográfica; agora, o que a Grã-Bretanha estava fazendo lá, já é algo dedutível apenas da lógica do imperialismo –, que uma massa territorial como a Rússia tornou-se uma ameaça para o controle imperial do mundo, tão simplesmente porque ela era isso mesmo: um território politicamente unificado grande demais (e potencialmente rico demais).
Uma vez domesticada a China pelo ópio, a “ameaça russa” sempre foi, no fundo, e desde bem antes da União Soviética, uma ameaça simbólica ao excepcionalismo que lastreia a visão de mundo imperialista e colonial. O que não dizer, agora, de uma aliança sino-russa? Não que o mundo seja movido por vetores (materiais) naturais – eles nada seriam sem a gerência cultural das governanças –, mas o fim do domínio de cinco séculos do Ocidente colonial pode ter se tornado hoje quase que uma questão de… aritmética – mas não só isso, evidentemente; e essa é a parte da história; uma história que, claro, jamais acabou.
Terminada a Segunda Guerra Mundial, o MI6 britânico (até 1954) e a CIA (permanentemente) estabeleceram laços diretos de recrutamento e patrocínio dos líderes e organizações ucranianas que haviam zelosamente trabalhado para a ocupação nazista (e exterminado eficientemente cerca de 100.000 judeus e poloneses), para que mantivessem redes clandestinas infiltradas que promovessem a instabilidade política dentro da União Soviética e difundissem ideias fascistas, que viriam a adubar a cultura política da Ucrânia ocidental e se reproduziriam até as atuais organizações neonazistas ucranianas que conformaram a tropa de choque do golpe de Estado de 2014 (o Euromaidam). A promoção e patrocínio obscuro do Estado Islâmico não foi, em absoluto, a primeira experiência “extremista” da CIA.
Tudo isso está amplamente documentado, inclusive por extensas e minuciosas publicações do governo dos Estados Unidos[VI], foi rastreado para a atualização histórica dos laços entre nazistas e elites políticas norte-americanas contemporâneas[VII], e relembrado com certa insistência (diante do negacionismo atual da mídia corporativa) por alguns ícones da mídia independente, como Max Blumenthal (Alternet e GreyZone) e Joe Lauria (Consortium News).
De outra parte, no agora famoso memorando ultrassecreto 20/1, do Conselho de Segurança Nacional norte-americano, de 18 de agosto de 1948,[VIII] que lançou as bases doutrinárias da política exterior para a Rússia nas décadas que se seguiriam, tal política foi conceitualmente definida como “militante” (à diferença, reconhece-se, de toda a atitude até então adotada pelo país), algo que, se não significasse francamente (talvez por cautela) “intervencionista”, significava, ao menos, controladora – o termo que usamos logo antes para caracterizar o neocolonialismo.
3.
Tal controle passava a ser então eufemisticamente referido por meio do conceito cunhado um ano antes pelo diplomata George Kennan: “contenção”. Na prática: quebrar qualquer possibilidade de projeção de poder da Rússia que pudesse consolidar uma visão de mundo alternativa ao paradigma liberal norte-americano. Textualmente, no memorando: “o mito que faz com que milhões de pessoas em países distantes das fronteiras soviéticas olhem para Moscou como a fonte excepcional de esperança para a melhoria humana deve ser completamente detonado [exploded] e seu funcionamento destruído”.
E, inusitadamente, mais adiante, acrescenta-se: “se não fosse Moscou que essas pessoas ouvissem, seria outra coisa, igualmente extrema e igualmente errônea, embora possivelmente menos perigosa”. Assim, por trás, e antes, da ideologia formal (a forma concreta) insinua-se um ordenamento de disposições (a forma lógica), que não é outro que aquele expresso pelo excepcionalismo. Todo o resto, como afirma o memorando, não seria mais que “irracional e utópico”.
À época em que o famoso memorando foi elaborado, os próprios burocratas norte-americanos admitiam que “a Ucrânia não é um conceito étnico ou geográfico claramente definido; (…) não há uma linha divisória clara entre a Rússia e a Ucrânia, e seria impossível estabelecer uma”. Tudo mudaria de repente, a partir da desintegração da União Soviética. Nesse momento, a operação das redes de tipo stay-behind, há muito patrocinadas pela CIA e preenchidas pelos nazistas tradicionais ucranianos, inflectiu a dinâmica política local no sentido de criar uma plataforma nacional antirrussa. Não fosse por ela, seria impossível definir uma nacionalidade ucraniana. Eis a biopolítica em ação.
A operação dessas redes representou, antes de tudo, uma cisão política na Ucrânia recém-independente. Por trás do discurso pró-ocidental estava implícito (ou francamente explícito) um virulento discurso antirrusso, com seu bastião sócio-geográfico na Ucrânia ocidental. E ainda que não houvesse um discurso abertamente pró-russo, sua posição implícita sinalizaria para um ceticismo frente à miragem do Ocidente.
Já no ano 2000 a oposição ao presidente Leonid Kuchma marcou a presença das primeiras posições pró-americanas aguerridas e belicosas, que desembocariam, quatro anos depois, na Revolução Laranja, um golpe de Estado de fato, financiado por “programas de assistência” norte-americanos, que os registros orçamentários desse país montam em 331,97 milhões de dólares, além do financiamento a “programas de democracia” nas vésperas das eleições de 2004, que montaram 88,81 milhões de dólares, canalizados a ONGs como a National Endowment for Democracy (NED) e a fundação do bilionário Geoge Soros (que mais recentemente financiou o programa de turismo acadêmico do ex-deputado brasileiro Jean Wyllys – ex-PSOL, atual PT – na Universidade de Harvard; afinal, tudo isso faz parte do mesmo jogo neocolonial).
Todos esses valores parecem ter sido totalizados nos cinco bilhões de dólares que a ex-vice-secretária de Estado Victoria Nuland declarou, ao final de 2013, ter custado o programa de “investimento” norte-americano na operação de mudança de regime que desembocou, finalmente, no golpe de Estado do Euromaidam. Eis o colonialismo de controle em ação.
Se a definição do resultado militar do atual conflito na Ucrânia configurou-se ao final do verão boreal de 2023, com a frustrada “contraofensiva” ucraniana nas estepes de Zaporozhye, hoje, a derrota da OTAN e do regime filonazista implantado naquele país com o golpe de Estado do Euromaidan já é, mais do que previsível, incontestável e, sobretudo, irreversível. E trata-se mais do que tão apenas o crescimento do ritmo de avanço das tropas russas no terreno, frente ao qual as estéreis manobras ucranianas para fins midiáticos não são muito mais que espasmos inconsequentes.
4.
Dada a conjuntura atual (e sua tendência sustentada) das condições logísticas dos contendores – Rússia, OTAN e o regime de Kiev –, quaisquer tropas europeias (como os cem mil soldados sonhados por Emmanuel Macron) lançadas em território ucraniano para assegurar ao Ocidente qualquer reserva territorial que seja (a Ucrânia ocidental, por exemplo) estarão condenadas à destruição. Até o governo polonês do presidente Andrzej Duda parece já ter-se apercebido disso.
Agora, o controle total do território ucraniano pelos russos e sua eventual incorporação completa à Federação Russa tornou-se uma decisão exclusiva dos próprios russos. A “linha divisória”, como lembrava o memorando norte-americano de 48, volta a desaparecer.
Em primeiro lugar, há critérios infraestruturais bastante elementares. Os russos sabem que, se não ocuparem até, pelo menos, o médio curso do Rio Dnieper, não terão acesso – tal como ocorria com a Crimeia – ao abastecimento de água para o Donbass, o que prolongará a crise humanitária, econômica e ambiental crônica que já se arrasta desde que o regime de Kiev cortou, para essa região “etnicamente russa”, todos os fluxos de água providos pelas antigas obras soviéticas. Desde então, todo o Donbass vive sob racionamento hídrico e custosas obras emergenciais não mais que paliativas.
No entanto, para além dos critérios infraestruturais de sobrevivência dos “novos territórios”, há critérios de segurança, os mesmos que têm norteado, desde pelos menos 2007, as considerações do presidente Vladimir Putin a respeito das suas fronteiras. Isso pode significar, por exemplo, não cometer o mesmo erro que a Síria, que aceitou a manutenção de uma reserva territorial inimiga na província de Idlib. Nesse sentido, a preservação de qualquer potencial enclave da OTAN na Ucrânia poderia significar, pura e simplesmente, uma derrota estratégica russa, mesmo depois de uma vitória operacional.
Tudo isso nos sugere que os russos não vão parar onde estão. Já se consumiu sangue demais e, mais que isso: frente à experiência histórica acumulada, corre-se o risco iminente de se consumir muito mais se tudo parar onde está. À liderança russa cabe apenas reconhecer, ou não, a experiência histórica.
Nos termos atuais do conflito, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, não pode fazer absolutamente nada frente à conjuntura acima esboçada de decisão autonômica da Rússia quanto ao destino da Ucrânia, a não ser que ceda a ela, Rússia, algo substantivamente muito precioso (qual seja, o atendimento do plano de segurança apresentado pelo presidente russo Vladimir Putin em dezembro de 2021) – o que não está nos planos do mainstream da política externa norte-americana, não é do feitio de Donald Trump e, culturalmente, de nenhum norte-americano.
Para Donald Trump, entre ceder e aceitar a derrota, a segunda alternativa poderia até ser mais proveitosa em termos retóricos, porque ela simplesmente pode ser posta na conta do Partido Democrata. E essa seria uma decisão da cúpula trumpista, e de forma alguma dos quadros institucionais do governo. Estes jamais aceitarão qualquer derrota, muito menos para a Rússia.
Apesar da birra da mentalidade excepcionalista, dizer que um presidente norte-americano não pode fazer nada frente a uma derrota militar evidente do seu país, significa dizer que os Estados Unidos não têm mais condições políticas, diplomáticas, militares, logísticas e econômicas (e, proximamente, financeiras) para manter sua supremacia global. Do ponto de vista geopolítico, mesmo sem a presença massiva de tropas americanas ali, a Ucrânia se transformou, para a crepuscular supremacia norte-americana, em um Vietnã ao quadrado.
E que seja esse ou aquele o presidente do país, só importa para quem estiver viciosamente pendurado aos Estados Unidos – o que supõe uma longa escala, conforme o grau de cessão da soberania. Liderando essa fila de infelizes está hoje a Europa, energeticamente dependente dos Estados Unidos, e não o velho quintal latino-americano. Casualmente, a razão (sobretudo econômica e comercial) para este último caso chama-se China.
Assim, as únicas esperanças de… não diria “tornar a América grande novamente”, mas… não fazê-la desmoronar (pragmaticamente) sob a obesidade da sua dívida interna e (ontologicamente) sob o colapso da sua razão colonial são: manter desesperadamente a primazia do dólar (o que já começa a se mostrar irrealista); aplicar agora a “contenção” sobre o pragmatismo econômico chinês (uma aventura que pode se mostrar tão funesta quanto a guerra na Ucrânia); e manter o resto do mundo ocupado com suas próprias inseguranças (algo seriamente complicado agora pelo fator russo).
5.
Todo esse quadro é a grande novidade do tabuleiro geopolítico a partir dessa guerra. Reconhecer sua posição bastante desvantajosa significaria, para os Estados Unidos (e também para a Europa), entrarem no mundo da negociação (e não do ludíbrio), e isso é ontologicamente absurdo para a lógica excepcionalista, uma vez que ela encerra uma verdade teleológica inegociável: a superioridade modelar do Ocidente; a mesma que pretende ditar uma ordem internacional baseada nas suas regras.
A partir dessa lógica, é como se, culturalmente, as cinco fases do luto, do popular modelo de Kubler-Ross, se resumissem, em especial para as elites americanas, apenas na primeira, a negação. Já não mais uma (cultivadamente europeia) melancolia de Saturno (verbi gratia Susan Sontag), o segundo mandato de Donald Trump pode sinalizar o início de uma (talvez) longa peregrinação histórica do país exatamente sob o signo da negação. Em ocorrendo, ela marcará a obsolescência dos postulados cíclicos – seja de Schlesinger, seja de Klingberg –, que acreditaram poder pôr ordem nas oscilações do cânone excepcionalista, naturalizá-lo e isentá-lo.
A outra face da mesma moeda é que os russos finalmente parecem ter aprendido que qualquer acordo com os Estados Unidos nunca é mais do que uma farsa oportunista (por parte dos americanos). Se a “neutralidade” ucraniana é a grande incógnita na equação russa, suas condições de possibilidade logo se esfumam quando confrontadas com os fatos encarnados nas recentes iniciativas do Ocidente neocolonial na imediata vizinhança russa: Bielorrúsia, Geórgia, Armênia e (olhando para o futuro) Moldávia.[IX] Por tudo isso, essa guerra não pode mais mudar de rumo; ela só pode escalar para outra dimensão. É aqui onde entram os sonhos mais delirantes das elites ocidentais, exatamente porque parecem acreditar que esse trampolim ainda não se quebrou.
6.
Essa ilusão parece ter sido reforçada com os saltos recentes em um outro trampolim: a Síria. Aqui, a Rússia é secundária. Além da eventual ameaça às duas bases russas no Mediterrâneo – algo que a diplomacia russa já parece ter contornado – seu prejuízo é fundamentalmente de reputação: não de ter perdido influência, mas de ter rifado um aliado economicamente sitiado, cujo governo começava a se tornar errático e até mesmo incômodo, sem que isso fosse já explícito.
Por um lado, no contexto da política do Oriente Médio, tudo isso tende a ser reconhecido como parte dos negócios contingentes. Por outro, no entanto, na Síria, o trampolim do Ocidente é para o Irã. A Turquia, protagonista dos acontecimentos em torno da queda de Damasco, tem, de sua parte, seus próprios objetivos, provavelmente inflacionados por miragens otomanistas (que, com o desenvolvimento abrupto da situação – e o oportunismo de Israel –, parecem ter caído em uma ratoeira). O vetor iraniano, se não é tão geopoliticamente decisivo quanto a Rússia, diz respeito ao contexto neocolonial agonístico da disseminação da insegurança; no caso, nessa região estratégica que é o Oriente Médio.
À mesma época em que se desenrolava a operação de desestabilização da Síria –com logística norte-americana, inteligência britânica e apoio operacional turco –, os Estados Unidos discutiam planos de um grande ataque ao Irã. No entanto, três dias antes da posse de Donald Trump, Rússia e Irã assinarão seu Acordo de Parceria Estratégica Abrangente. Mais uma vez, o tempo ruge. E certas vitórias assumem a feição de vitórias de Pirro. Mas o risco aqui continua sendo o mesmo que no caso ucraniano: uma escalada irracional (mas desejada) por parte de outro procurador (ainda que desmesuradamente atrevido e incontinentemente genocida) da decadente hegemonia ocidental e, desta feita, cegado pelo seu próprio excepcionalismo: Israel.
No mesmo ímpeto desses acontecimentos, o contra-almirante Thomas Buchanan, porta-voz do Comando Estratégico dos Estados Unidos (STRATCOM), afirmou “intempestivamente”, em uma palestra feita em 20 de novembro no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), em Washington, que os Estados Unidos estavam prontos para realizar uma troca limitada de agressões nucleares com a Rússia (que esperam vencer), para garantir a manutenção da liderança americana no mundo (palavras do almirante!).
A já velha ilusão de uma guerra nuclear limitada foi objeto de diversas análises especializadas, e vez por outra volta a circular no meio militar norte-americano. Conhecidas suas circunstâncias, não é de se descartar que ela implique em um blefe. Há mais de 40 anos, um estudo de Desmond Ball[X] estimou para então que uma eventual troca nuclear limitada implicaria imediatamente na morte de, no mínimo, 20 a 30 milhões de americanos, o que seria cerca de 12% da população do país, o suficiente para devastar sua economia e infraestrutura. (Para se ter ideia, o percentual de mortos na população da derrotada Alemanha nazista em toda a Segunda Grande Guerra foi de 8,23%).
Hoje, com vetores hipersônicos do tipo Sarmat, a devastação seria multiplicada em vários dígitos. A conclusão lógica simples é que tal aventura hipotética comprometeria qualquer liderança americana daí por diante. Que essa ideia volte à cabeça dos agentes de governo parece indicar tão apenas o grau de delírio estratégico a que se entregam. Esse delírio, no entanto, tem um fundamento cultural.
Que o mundo hoje esteja muito mais próximo que jamais antes de um confronto nuclear parece ser praticamente um consenso. Suas motivações, assim como na guerra da Ucrânia, estão longe de apontar para qualquer “ambição russa”. Se fôssemos falar em termos psicanalíticos, esse argumento se pareceria antes a uma projeção do modo de pensar dos norte-americanos. Mas não se deve aplicar mecanicamente (por mais sedutor que pareça) a psicanálise a uma suposta “personalidade nacional” (como já chegaram a imaginar alguns antropólogos americanos).
Trata-se, antes, de uma lógica cultural profunda. Segundo essa lógica, o sentido de definição do si-mesmo frente a um Outro impõe que esse Outro, mesmo sendo Outro em última instância, se subordine e seja tutelado pelos imperativos do si-mesmo enquanto ente modelar (ou seja, como presumido padrão de universalidade). Essa é apenas uma outra forma de ler a lógica do excepcionalismo, que parece ser o fundamento de todo colonialismo ocidental há muito tempo.
*Ricardo Cavalcanti-Schiel é professor de antropologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Notas
[I] Cf. Macpherson, Crawford B. 1962. The Political Theory of Possessive Individualism. Oxford: Clarendon Press.
[II] Foucault, Michel. [1979] 2004. Naissance de la biopolitique. Paris: EHESS/ Gallimard/ Seuil.
[III] Nesse sentido, escusado talvez dizer, o capitalismo seria uma consequência das lógicas culturais europeias profundas a propósito da dominação, e não a sua causa. Afinal, em todo o mundo, a existência histórica de mercados não assegurou (nem assegura) a emergência de capitalismos. Isso significa, igualmente, que um espantalho conceitual como o de “capitalismo chinês” exige uma interpretação muito mais matizada. Matizada… pela cultura.
[IV] Criado logo após a Segunda Guerra Mundial pela Força Aérea norte-americana, como uma contração da expressão “Research and Development”, o projeto RAND iniciou-se sediado nas instalações da empresa de aviação Douglas Aircraft, em Santa Monica (CA), visando, na sua característica simbiose empresarial-militar, financiar as inovações da indústria bélica. Com o passar das décadas tornou-se uma corporação e acabou por se tornar o mais influente “think tank” do complexo industrial-militar norte-americano. Desde seus primeiros estudos, incorporou a Teoria dos Jogos como parte de seu instrumental analítico, formulando com ela o princípio militar-estratégico preponderante durante a Guerra Fria, o da “destruição mútua assegurada” em cenário de confrontação nuclear. Note-se que essa perspectiva só se tornou pensável após o acesso da União Soviética a armamento nuclear. Daí o estatuto determinante do contexto, e não a mera racionalidade avulsa dos atores. E o contexto dizia também que a União Soviética fora a força decisiva e maior vencedora da Segunda Guerra Mundial, o que enchia os ocidentais de medo. Antes daquele cenário de “destruição mútua assegurada”, tanto Winston Churchill propusera, em abril de 1945, uma aliança de Grã-Bretanha, Estados Unidos e Alemanha nazista para destruir o exército soviético (Operação Impensável) quanto Harry Truman, em agosto do mesmo ano, estabeleceu um plano de ação militar (Plano Totalidade) ― que hoje os Estados Unidos tentam escamotear sob a imagem de mero plano de “desinformação” ― para bombardear com armas nucleares (assim que fossem todas viabilizadas) 20 cidades da União Soviética. Antes que isso acontecesse, a União Soviética exibiu ao mundo seus primeiros testes nucleares. Os planos ocidentais só não se concretizaram porque não asseguravam o pleno sucesso militar. A RAND Corporation teve como funcionário o matemático John F. Nash Jr., autor (a partir da Teoria dos Jogos) do seu próprio teorema do equilíbrio, que desdobra e modifica as teorias econômicas liberais do equilíbrio, de Walras e de Pareto, e pelo qual recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 1994. A Teoria dos Jogos e seu pressuposto de suficiência interativa racional entre os atores, desprezando qualquer relevância da conjuntura (como acima exemplificado) e do ambiente simbólico em que tais atores se encontram (ou, mais importante talvez, suas dissonâncias), é provavelmente uma das teorias científicas modernas mais ideologicamente determinadas e motivadas, e, a despeito do seu mecanicismo simplificador (ou talvez exatamente por conta dele), tornou-se um dos mais significativos instrumentos intelectuais do imperialismo neocolonial. Hoje, instrumentos como esse se espraiaram especialmente pelo campo das Ciências Sociais, e condicionam quase que por inteiro a agenda dos problemas pensáveis nesse campo do conhecimento.
[V] Os antropólogos reconhecerão que há aqui uma remissão implícita à teoria de Louis Dumont.
[VI] Cf. Breitman, Richard & Goda, Norman J. W. 2010. Hitler’s Shadow. Washington: National Archives and Records Administration. Disponível em: https://www.archives.gov/files/iwg/reports/hitlers-shadow.pdf.
[VII] Bellant, Russ. 1991. Old Nazis, the New Right, and the Republican Party. Domestic Fascist Networks and U.S. Cold War Politics. Boston: South End Press. Disponível em: https://archive.org/details/russ-bellant-old-nazis-the-new-right-and-the-republican-party-domestic-fascist-n.
[VIII] In: Etzold, Thomas H. & Gaddis, John Lewis (ed’s.). 1978. Containment: Documents on American Policy and Strategy, 1945-1950. Nova York: Columbia University Press, pp. 173-203. Disponível em: https://archive.org/details/NSC201-USObjectivesWithRespectToRussia/NSC_20_1_book/mode/2up.
[IX] As últimas eleições na Moldávia foram fraudadas para permitir que o governo pró-ocidental da presidente Maia Sandu continuasse no poder, da mesma forma que as últimas eleições romenas foram ilegalmente canceladas para impedir que um eurocético chegasse ao governo. O atual “complô” energético entre o regime ucraniano e o regime moldavo, para deixar a Transnístria (“etnicamente russa”) às escuras dentro de dois meses, obriga a Rússia a acelerar a tomada de Odessa, para assim poder conectar a Transnístria aos seus novos territórios. De outra parte, os antigos planos ocidentais de produzir uma revolução colorida na Bielorrússia, inclusive com desfecho militar efetivo, parecem ter sido adiados, mas não necessariamente cancelados.
[X] Ball, Desmond. 1981. Can Nuclear War Be Controlled? London: International Institute for Strategic Studies. (Adelphi Paper nº 169).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA