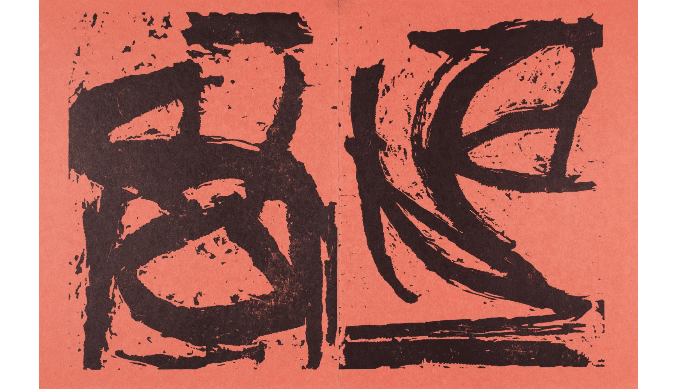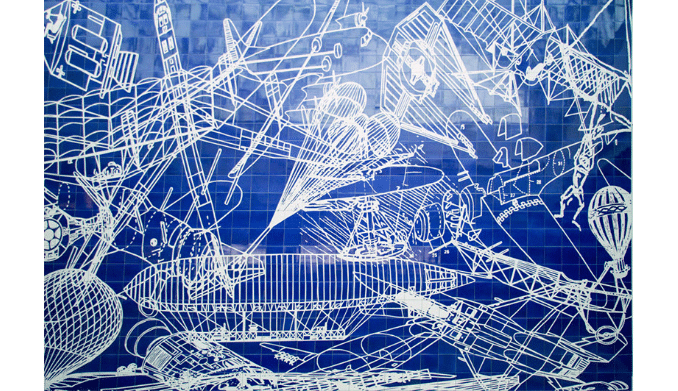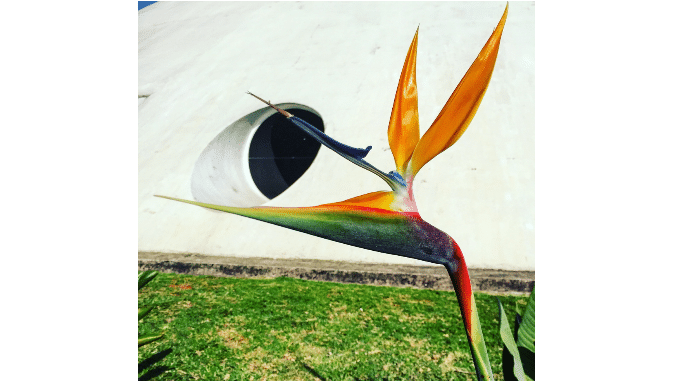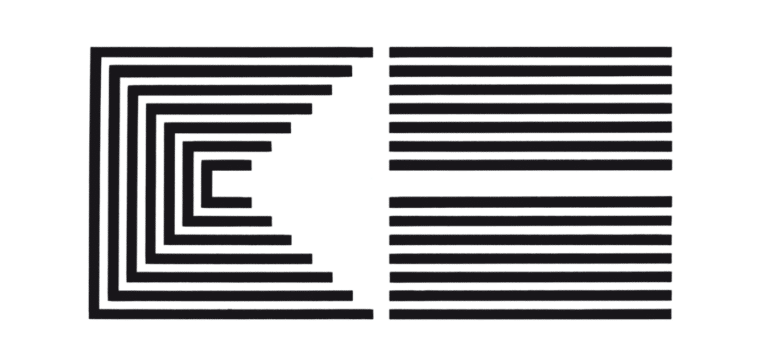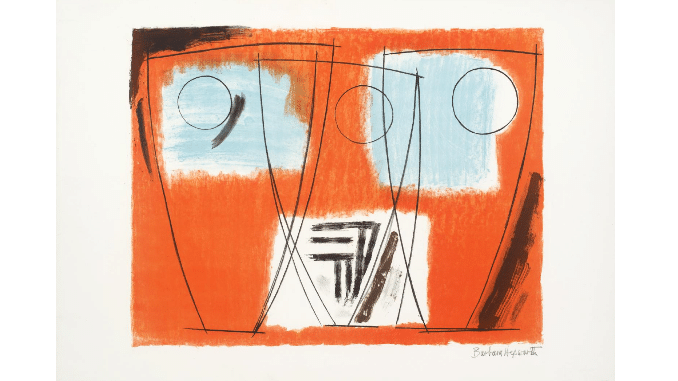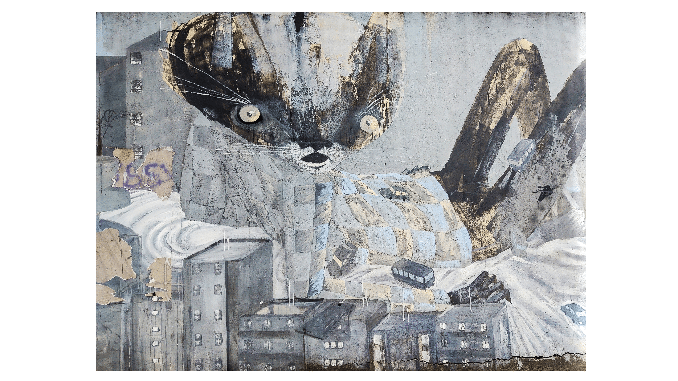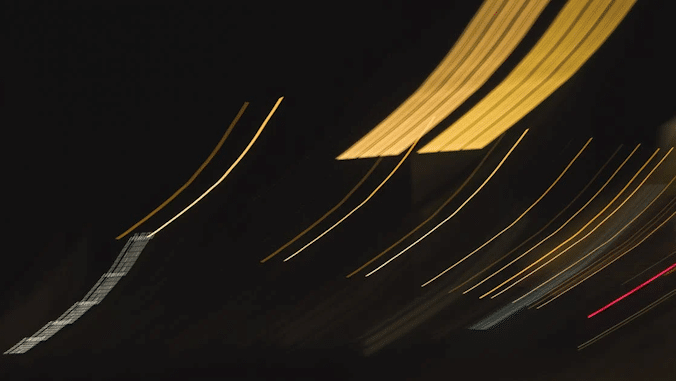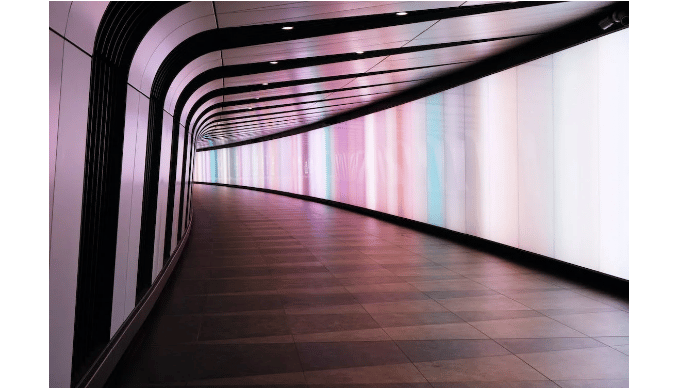Por RICARDO CAVALCANTI-SCHIEL*
A guerra que tem sido o nó górdio que parece ter vindo para atar e cingir o ocaso da hegemonia anglo-americana
Há dois anos, o conflito na Ucrânia tem sido o nó górdio da geopolítica. Sendo ainda mais preciso – apesar da controvérsia que, para muitos, isso possa produzir –, ele tem sido o nó górdio que parece ter vindo para atar e cingir o ocaso da hegemonia anglo-americana.
Seus desdobramentos foram ainda mais amplos do que se podia, à primeira vista, imaginar, sobretudo no reconhecimento do poder militar das potências internacionais e dos fundamentos econômicos e institucionais desse poder, não apenas fazendo emergir o vislumbre efetivo de uma assim chamada “ordem multipolar” como também alterando em potencial, quase que por inteiro, as coordenadas de fundo em que se moviam os aparentemente pacíficos projetos de gestão do mundo (o Great Reset, por exemplo) e as novas grandes narrativas (por mais que o excepcionalismo pós-moderno tenha por hábito descartar sumariamente como válida a ideia de “grande narrativa”, salvo para o reconhecimento da transcendência das “verdades” que lhe dizem respeito[i]). É de se esperar que ambos – projetos e narrativas –, engendrados pela ordem hegemônica até então vigente, também se vejam, cedo ou tarde, esvaziados.
Alguns poderiam se sentir tentados a acrescentar a esse quadro o atual conflito no Oriente Médio. Mas, visto este último por um olhar analítico que vá mais além da singularidade irredutível de um fenômeno concreto, o que ele sugere é que tanto os cálculos sobre as expectativas conjunturais (a nulificação política da Palestina por meio dos Acordos de Abraão) que moveram a resposta do Hamas, quanto as expectativas estratégicas comuns aos membros do Eixo da Resistência, parecem ter levado em conta não só o novo balanço de forças instaurado pelo conflito na Ucrânia como também o reconhecimento de que a “guerra do Ocidente” já não é mais eficaz para impor as vontades deste ator coletivo, o Ocidente. Não por casualidade, a resposta de Israel veio na forma clássica – senão mesmo amplificada – da “guerra do Ocidente”, sobre a qual se tratará logo adiante.
Duas fases da guerra
No que respeita ao desenvolvimento do conflito na Ucrânia, é possível caracterizá-lo pela sucessão (não estanque, mas casualmente sobreposta) de duas fases específicas. A primeira foi desencadeada pelo que se poderia consignar como uma resposta do governo russo à intimidação do Ocidente, que vinha se desdobrando havia 14 anos ou, mais precisamente – como testemunhou no mês passado, no Fórum de Davos, o ex-presidente tcheco, Václav Klaus – desde 4 de abril de 2008, momento em que a cúpula da OTAN em Bucareste, capitaneada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, e a contragosto da Europa, decidiu consumar seu avanço em direção às fronteiras da Rússia, dispondo-se a incluir a Ucrânia e a Geórgia naquela aliança militar.
À diferença dos países bálticos, ao norte, o caso ucraniano envolveu uma agressividade nitidamente militar, que incorporou forças políticas radicais de direita da própria Ucrânia (há muito financiadas por programas da CIA), sobretudo a partir do golpe de Estado de 2014, e que se consumou com a ameaça, por parte do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em fevereiro de 2022, de instalação, no país, de armamento nuclear da OTAN.
Nesse momento, a até então mal tolerada (pela Rússia) e deliberadamente não resolvida (pelo Ocidente) repressão neonazista violenta à população etnicamente russa do leste da Ucrânia serviu então como casus belli suficiente e fundamentado para invocar o (novo) princípio estatutário da ONU – fomentado pelo próprio discurso liberal – da “responsabilidade de proteger” (uma vez reconhecida a independência das duas repúblicas do Donbass) e intervir no curso da marcha ucraniana e, por extensão, no curso da marcha da OTAN na Ucrânia.
Exceto para a grande mídia comercial do Ocidente, que se afanou implacavelmente por silenciar tanto o neonazismo quanto a guerra interna na Ucrânia (ambos, fatos inelutáveis), pode-se dizer que a Rússia “vendeu” razoavelmente bem sua casus belli para o mundo. Particularmente no Sul Global – mas também um pouco por toda parte –, e associado à imagem (também inelutável) da perversão neocolonial do Ocidente, esse argumento serviu como uma cunha para deslocar a aparente verossimilhança da massiva propaganda de guerra anglo-americana em torno da “agressão russa” e, progressivamente, corroê-la como nonsense que é. E, assim, o Ocidente acabou “perdendo a narrativa” no Sul Global.
No entanto, ao desencadear sua “Operação Militar Especial” (uma figura jurídica distinta da “guerra”, e que impõe, por consequência, limitação às ações do executivo russo, como até mesmo a dimensão de uma mobilização de soldados), o objetivo imediato do governo russo era assegurar a neutralidade militar da Ucrânia, obstando decididamente sua incorporação à OTAN. Dadas as circunstâncias, essa neutralidade deveria, de fato, assegurar uma não hostilidade. Daí os objetivos declarados pelo presidente Vladimir Putin para a sua Operação Militar Especial, de “desmilitarizar” e “desnazificar” a Ucrânia.
Nessa perspectiva, geralmente pouco compreendida pelos ocidentais em geral, a ação do governo russo se orientou pelo precedente da Geórgia em 2008, com o acionamento de uma força militar profissional limitada (estima-se que em torno de 90 mil combatentes empenhados, contra um exército ucraniano de 210 mil combatentes), para realizar uma operação fundada sobre o princípio operacional do movimento, com ações de profundidade, e que assegurasse uma expressão contundente de força, capaz de desarticular o dispositivo militar da Ucrânia, cercar a capital Kiev e forçar o governo a negociar e assumir uma posição de neutralidade.
Por outro lado, sabia-se que o principal objetivo militar colateral da OTAN no cenário ucraniano era anular a presença russa no Mar Negro, bloqueando por oeste a iniciativa econômica eurasiana Cinturão e Rota. Nisso, a Criméia era o bastião a ser conquistado. A operação militar russa tratou então de consolidar uma zona tampão ao norte da península, conectada ao Donbass, e que se tornaria o grande espinho nos planos da OTAN, cuja supressão inspirou a última e desesperada tentativa ucraniana de grande operação militar (a “contraofensiva”) no ano passado.
Em um mês de realização, a operação russa parecia ter obtido pleno sucesso para aquilo a que se dispusera, com a Ucrânia dirigindo-se para as negociações de paz em Istambul e estabelecendo uma minuta de acordo, em que o ponto principal era exatamente as garantias em torno da neutralidade. Nesse momento, como é bem sabido hoje, a OTAN, observando miopemente as forças dispostas pela Rússia no terreno e acreditando na receita das sanções econômicas, resolveu dobrar a aposta em favor de uma opção maximalista.
No início de abril de 2022, o então primeiro-ministro britânico Boris Johnson dirigiu-se pessoalmente (e de surpresa) a Kiev e convenceu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a não assinar acordo algum com os russos, prometendo-lhe que o Ocidente proveria toda a ajuda econômica e militar que precisasse para derrotar a Rússia por completo. Esse não foi apenas um dos muitos erros de avaliação do Ocidente, foi também o movimento que desvelou por inteiro tanto a sua insuperável arrogância quanto a real dimensão das suas más intenções. E, nesse momento, começou-se a gestar a segunda fase da guerra.
Ela não teve início de imediato, nem assumiu suas feições próprias nos movimentos que logo se seguiram. O período que compreendeu a primavera e o verão boreal de 2022 foi um período de investimento logístico de ambos os lados, mas ainda marcado pela relutância da Rússia em ampliar seus contingentes sobre o terreno por meio de uma ampla mobilização de pessoal. As posições russas no nordeste da Ucrânia amargam até hoje as consequências dessa relutância. Ela parece expressar as hesitações, ainda, do governo russo, sobre como conduzir politicamente a guerra. Logo as contingências se tornariam outras.
Com efeito, ao deixar claro que sua intenção era, de fato, infligir uma derrota estratégica à Rússia e, muito provavelmente, recolonizar o país tal como nos anos 90 – a par das ações hediondas que os neonazistas ucranianos cometiam contra os soldados russos que caíam prisioneiros –, o que a OTAN conseguiu foi substituir no conflito, e em termos de lógica simbólica, o lugar do governo russo pela nação russa. Para os russos, já não se trataria mais de assegurar a neutralidade da Ucrânia, mas de derrotar a OTAN e eliminar por inteiro o perigo ucraniano – no sentido inclusive mais radical, de que a própria Ucrânia, como entidade específica, na forma de Estado e nação, tornara-se um perigo, e não simplesmente por sua causa, mas sobretudo por causa do Ocidente, como as autoridades russas acabaram reconhecendo de forma cabal. Até onde isso vai, já não é mais sequer do exclusivo arbítrio do governo russo, mas desse intrincado de disposições que constitui a nação russa. Se o governo não responder a ela, corre sério risco de tornar-se simbolicamente ilegítimo.[ii]
A guerra do Ocidente
Já em junho de 2022, um artigo do tenente-coronel da reserva do Exército norte-americano Alex Vershinin anunciava “o retorno da guerra industrial”. Trata-se de uma proposição curiosa, pois é difícil imaginar uma guerra que não seja, em alguma medida, “industrial” (no sentido lato do termo). O que essa proposição denuncia, na realidade, é que essa segunda fase do conflito ucraniano começava a contrariar as expectativas daquilo a que logo antes foi referido como “a guerra do Ocidente” – seria possível também chamá-la de “guerra pós-moderna” ou “guerra neoliberal”, e arrolar outras das suas características, como a ênfase na narrativa e no solucionismo tecnológico.[iii]
Bem mais recentemente, em outro artigo para um público especializado, outro militar, o general de brigada da reserva do Exército norte-americano John Ferrari, que atua no think tank American Enterprise Institute, vaticina, de forma ainda mais expressiva, que, desde a invasão do Iraque no início da década de 90 – ou seja, desde a emergência do momento unipolar –, os militares norte-americanos, presas da “ilusão do vencedor”, têm aprendido lições equivocadas sobre a guerra.
John Ferrari argumenta que a miragem de que novas guerras poderiam ser vencidas com contingentes menores, dotados de munições sofisticadas e, portanto, suportados por caríssima tecnologia, destinada a selecionar alvos com precisão e destroçar o inimigo com barragens de fogo intensas, curtas e de alto impacto (a imagem de uma guerra “cirúrgica”), acabou fazendo com que as forças militares fossem dimensionadas de forma completamente equivocada e tornou impossível a produção de armas em escala.
Em suma, a arte operacional norte-americana – e, por extensão, da OTAN – só tem um plano A: vencer guerras singulares, cada uma de uma vez, orientadas pelo princípio do impacto, e em curto espaço de tempo. Se não der certo, as únicas soluções são: dobrar a aposta ou insistir renitentemente. À primeira vista, o plano A (e único) parece contrariar a imagem das “guerras eternas” travadas pelos Estados Unidos exatamente nas três últimas décadas. Mas elas são “eternas” em sua concepção política de intervenção destrutiva permanente. E em certa medida acabaram se tornando “eternas” porque não foram decididas, em termos militares, conforme o inicialmente esperado. Há que se acrescentar ainda que esse tipo de guerra jamais foi aplicado contra outros inimigos que não aqueles militarmente muito mais fracos, e com resultados, no mais das vezes, duvidosos.
A aparente supremacia tecnológica norte-americana, sobretudo no campo da ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance – exemplarmente ilustrado no filme Inimigo do Estado, de 1998) não havia se defrontado ainda com duas coisas: capacidades eletrônicas análogas (senão superiores) a ela (caso da Rússia); e o uso massivo de munição errante altamente manobrável e barata (drones), inovação na qual o Irã foi pioneiro, oferecendo aos seus parceiros no Oriente Médio, destacadamente o Iêmen, um novo recurso “de guerrilha”. Ambos os elementos põem sérios limites à eficácia do impacto e, portanto, ao ideal da solução rápida de um conflito bélico.
Consolidada em jargões de tipo empresarial como “revolução em assuntos militares”, fornecimento just-in-time e “operações baseadas em efeitos”, a doutrina que lhe é correlata fez com que aquele tipo de guerra apostasse pesadamente no seu diferencial tecnológico (e, por consequência, no seu custo exorbitante, só “suportável” pelo Ocidente), supondo que esse diferencial seria inigualável. Assim, ela descuidou da sua dimensão “social” elementar, qual seja: capacidade de produção e mobilização do país. A guerra russa é bem diferente disso.
Seduzida pelas aparentes maravilhas daquele diferencial tecnológico (igualmente aparente, porque a Rússia já é superior nisso), a Ucrânia, ao se subordinar à tutela da OTAN, continua até hoje esperando pelo messias de alguma Wunderwaffe, como tanques Leopard ou caças F-16. O encantamento com a solução rápida (quase que uma mágica dramatúrgica hollywoodiana) foi também o que entorpeceu os generais da OTAN nas suas ilusões sobre a “contraofensiva” ucraniana do verão boreal de 2023, para a qual, segundo o porta-voz do Comando do Exército dos Estados Unidos na Europa e na África (USAREUR-AF), o coronel Martin O’Donnell, a Ucrânia recebeu cerca de 600 tipos de armamento e equipamentos, mais do que qualquer outro exército do mundo possui. Evidentemente, se isso tudo não estiver operativamente integrado não significa muita coisa.
Uma derrota ou uma vitória não tem a ver apenas com recursos; ela tem a ver igualmente com concepções (que a elas subordinam os recursos).
Impacto versus atrito
Ao terminar a primeira fase da guerra na Ucrânia, o Ocidente via-se embalado pelo que pareciam ser duas alternativas vencedoras: ou as capacidades russas entrariam em um processo de desgaste irremediável e progressivo, que abalaria a própria legitimidade do seu governo e desembocaria em um processo (orientado pelo Ocidente) de “mudança de regime”; ou a continuação da guerra se daria sob a mesma quadratura operacional da primeira fase, qual seja, movimento e impacto, só que agora protagonizados pela Ucrânia, com o apoio maciço da OTAN. Nenhuma das duas alternativas se confirmou.
Apesar de ter investido muito da sua “narrativa”, cega e obsessivamente replicada pelo grande conglomerado da sua mídia empresarial, na primeira alternativa – que significava fundamentalmente replicar (por um mecanicismo maníaco) a fórmula da derrota soviética no Afeganistão –, o Ocidente viu suas ilusões desbaratadas pela resposta logística e econômica russa. Mais do que isso: agora, ao invés de se desgastar, quanto mais tarda a guerra, mais a Rússia aciona dispositivos que a tornam mais forte e minam as capacidades logísticas e econômicas do Ocidente, a ponto de a guerra na Ucrânia ter-se tornado o que se tornou: uma alavanca geopolítica.
Uma parte disso se explica pela conjuntura emergente da “ordem multipolar”. No entanto, não parece ser equivocado correlacionar a resposta russa com aquela substituição simbólica a que antes se aventou para a dinâmica do caso: o “lugar de sujeito”, inicialmente ocupado pelo governo russo, passa a ser ocupado pela nação russa. Claro, em termos objetivos, uma correlação permite construir uma hipótese. É preciso testá-la. Se confirmada, o curioso fenômeno que o fracasso da “guerra do Ocidente” (ou guerra pós-moderna, ou guerra neoliberal) faz emergir não seria outro que algo a que se poderia designar como “o retorno da nação”.[iv]
Afinal, em que consistiria a recolonização ocidental da Rússia, à maneira dos anos 1990, após uma eventual mudança de regime, que não na “emancipação” individualista dos consumidores russos (e sua igual – senão pior – miserabilização), enquanto os recursos do país tornam-se ativos de outros proprietários? Velhos espectros culturais em torno da queda da União Soviética voltam a assombrar (ou seria… a rejuvenescer?). Fora do individualismo, a arrogância do Ocidente tem muita dificuldade de reconhecer qualquer outra ética. Mas isso parece ser próprio não só do capitalismo como do próprio Ocidente de uma maneira geral – apesar desse Ocidente ter produzido um conhecimento como a Antropologia, que é da ordem do muito particular, e que, em sua forma pós-moderna, sob a égide da mesma hegemonia anglo-americana, assumiu uma feição teórica e uma agenda nitidamente liberais.
No que respeita à segunda “alternativa vencedora” do Ocidente, as próprias ações russas na primeira fase da guerra pareciam responder (mesmo que ambiguamente) à imagem de uma guerra de impacto. Daí, talvez, a projeção equivocada da OTAN. Essa projeção parecia ver-se confirmada no outono de 2022, com os avanços do novo exército ucraniano, pesadamente equipado pela OTAN, na região de Kharkov (nordeste da Ucrânia), realizados sobre uma força militar russa rarefeita (como era desde o princípio) que optou, prudentemente, por se retrair, ao custo de entregar entroncamentos estratégicos como Kupyanski, Izyum e Krasny Lyman, sem deixar um único campo minado.
Esse foi o momento que fez com que o governo russo superasse sua relutância e finalmente convocasse uma mobilização parcial de reservistas (300 mil), seguida pela captação sustentada de cerca de 40 mil voluntários todo mês – e esse segundo movimento é sociologicamente tão ou mais relevante que o primeiro. De qualquer modo, foi também a partir daquela projeção que a OTAN concebeu, mesmo sem dispor de poder aéreo local – portanto, contrariando sua própria doutrina –, a contraofensiva ucraniana do verão de 2023. E foi aí então que, por fim, consagrou-se a sua exaustão.
Seja com o início de uma mobilização ampliada de reservistas, seja com a preparação de densas linhas de defesa, seja com a destruição sistemática de infraestrutura logística e produtiva na retaguarda ucraniana, o que a força militar russa assume a partir do outono boreal de 2022 é a perspectiva de uma prolongada guerra de atrito (ou desgaste). Essa é a característica geral determinante da segunda fase do conflito. E ela se consagra na administração do cerco e tomada de Bakhmut (que a partir de então voltou a ser Artyomovsk), entre fevereiro e maio de 2023.
Ao aceitar o jogo e sacrificar voluntariosamente 80 mil combatentes na defesa da cidade, apenas como valor simbólico, a Ucrânia, por sua vez, assume que são os efeitos de imagem (ou de marketing) que justificam as táticas, para poder agora assegurar o fluxo de recursos do Ocidente. Ao – digamos assim – não se sentir muito à vontade em uma guerra de atrito, praticamente todas as iniciativas militares da Ucrânia, a partir de então, visaram sustentar uma “narrativa” de heroísmo e ousadia, por mais duvidosos e ineficazes que fossem.
Foi o que ocorreu nas contraofensivas a Soledar e Kleschiyivka, na insistência inócua dos ataques na frente de Zaporozhye e na tentativa estéril de estabelecer uma cabeça de ponte em Krynky, na margem esquerda do Dnieper, na região de Kherson. Para satisfazer as expectativas dos tutores estrangeiros, a Ucrânia precisava demonstrar continuamente que a iniciativa operacional estaria com ela, ou seja, precisava responder às expectativas da “guerra do Ocidente”. Apesar da perda traumática de dezenas de milhares dos seus combatentes, mortos, mutilados ou neurotizados, a guerra para o regime ucraniano parece agora alçada à mera condição de virtualidade. A conjunção da arrogância do Ocidente com o servilismo tolo ucraniano gestou o ato final da tragédia.
O regime ucraniano sabe que, mantidas as condições tais como estão – financiamentos externos minguantes, fornecimentos bélicos limitados de quem já não dispõe mais de base industrial, mão de obra combatente cada vez menor, menos qualificada e capaz, cada vez mais submergida em álcool e drogas, com comandantes ineptos e corruptos, frente a forças russas cada vez mais dotadas, motivadas e ágeis, abastecidas por uma indústria militar cada vez mais pujante –, vai ser impossível escapar do abraço do grande urso russo.
Os estrategistas do regime apostam tudo, então, em ações de tipo terrorista, visando exasperar a vida interna na Rússia e tentar animar sua própria torcida. É o que eles – e sobretudo seus assessores do MI-6 britânico – parecem entender por “atrito”: algo mais próximo da mera perversidade que de qualquer eficácia operacional. O abraço do grande urso tende a ser ainda mais vigoroso. Quem sabe um dia as unhas do grande urso cheguem até Londres…
E mesmo que a “estratégia” psicológica ucraniana, assentada sobre uma narrativa (e sobre o fustigamento muito pontual), tenha desabado sob as imagens dos “poderosos” carros de combate ocidentais crepitando majestosamente nos campos minados das estepes, a relutância parece agora instalada em Bankova,[v] e o que era antes entusiasmo geral de um país lobotomizado pelo ódio neonazista à Rússia começa, progressiva mas consistentemente, a encapsular e apartar um governo cada vez mais acuado entre a crise interna e o histrionismo.
Seguramente seria exagero dizer, para um país do espaço pós-soviético, de nation building precária, que a sua guerra pode estar deixando de ser “nacional” (o grande sonho dos neonazistas), mas não seria exagero dizer que se chegou agora aos efeitos últimos do atrito: destruir forças, recursos e ânimos.
No entanto, como muitos sinais sugerem, uma possível mudança de regime na Ucrânia se destinaria apenas a tentar mudar as coisas para que tudo continue igual – e mantida a OTAN à espreita. É de se esperar que os russos não vão parar antes de ditarem taxativamente os seus próprios termos, o que pode incluir, simplesmente, o fim da Ucrânia e a completa absorção do país, para desgosto mortal (e grande prejuízo financeiro) da BlackRock.
E assim chegamos, finalmente, ao cerco a Avdyevka, no inverno boreal de 2024. Avdyevka era “a fortaleza que jamais cairia”, e de onde a artilharia ucraniana bombardeava regularmente – sem que isso fosse jamais noticiado pela imprensa ocidental – a população civil da capital da antiga República Popular de Donyetsk, a cidade de Donyetsk. Por que? Por pura diversão, que é o termo pelo qual os neonazistas praticam o seu ódio. Cercada, Avdyevka finalmente parou de bombardear.
Uma vez completada no sábado, dia 17 de fevereiro, a tomada da cidade entra para os anais da guerra como uma obra-prima tática, a ser ensinada nas escolas militares. Frente a ela, a tomada de Artyomovsky (Bakhmut) terá sido apenas um ensaio, no qual as forças russas cometeram alguns inevitáveis erros, que agora foram como que “passados a limpo”, enquanto as forças ucranianas, por não terem conseguido manter vivas as muitas tropas que provaram Bakhmut, continuaram cometendo os seus mesmos erros de antes.
Em Avdyevka, ao invés de lentamente “comer pelas beiradas”, como em Artyomovsk, em avanços quase que previsíveis, assegurados apenas pelo poder de força do punho arriscadamente destemido da formação Wagner (que custou uma enormidade de gente), as tropas russas, depois de terem desgastado a resistência do cordão de proteção externo, promoveram infiltrações inesperadas, que oscilaram por várias direções, contornando e cercando grandes oporniks (pontos fortificados), atingindo espaços menos guarnecidos pelo deslocamento de tropas enviadas para reforçar outros, enfim, pondo os ucranianos numa dança infernal que os deixou verdadeiramente desnorteados, até cortar a cidade em duas. Nesse momento – e apenas nesse momento –, as forças russas exerceram sua completa superioridade aérea e aplicaram um golpe de misericórdia fulminante sobre as posições ucranianas, fazendo com que os contingentes que as ocupavam se retirassem caoticamente em fuga.
Aqui, em especial, os russos comportaram-se como um boxeador cubano andando por todo o ringue enquanto assesta golpes certeiros e contundentes, a ponto de que a 3ª Brigada de Assalto ucraniana, dita de elite, formada pelo “supermotivado” contingente neonazista Azov, tendo chegado em Avdyevka para “salvar” a cidade e visto dizimados, em quatro dias, um batalhão e meio dos seus (600 combatentes), decide descumprir as ordens recebidas, e foge da cidade.
Tratou-se, por parte dos russos, de uma demonstração de alta performance tática, que hoje, no mundo, provavelmente exército algum além do russo é capaz de realizar. Se Artyomovsk foi uma vitória da ferocidade e da determinação, Avdyevka foi, antes de tudo, uma vitória da astúcia. E se os russos fizaram isso com a mais poderosa fortaleza ucraniana do Donbass, é de se esperar o que está por vir adiante (mesmo porque, não há mais grandes fortalezas depois de Avdyevka).
Esse caso empírico sugere que uma distinção cabal como aquela insinuada, entre impacto e atrito, sempre será nuançada pela escala que se toma para considerar os fatos no terreno. Nenhuma guerra é inteiramente de impacto (por mais que o atrito seja minimizado – e isso explicaria o atoleiro norte-americano no Iraque e no Afeganistão) e nenhuma guerra pode ser inteiramente de atrito. Entre ambas as categorias parece haver uma relação causal de oportunidade: atrito para produzir impacto e impacto para produzir atrito. Este último caso parece ter caracterizado as ações russas na primeira fase da guerra; o anterior, as ações russas na segunda fase. Qualquer arte operacional concebida para dar conta de apenas um dos polos (impacto ou atrito) parece estar destinada ao fracasso.
Epílogo?
Avdyevka não é um caso isolado. É apenas exemplar. A partir de outono de 2023, ao longo de toda a frente, a iniciativa operacional passou definitivamente para o lado russo. Esse é o momento em que a concepção mesma da guerra do Ocidente é posta em xeque: uma guerra que não pode mais ser vencida nos seus termos – nem nas contingências em que se encontra nem por meio de uma intervenção direta da OTAN, que pode produzir prejuízos ainda maiores, incluída aí a desintegração da própria OTAN. Portanto, que a Rússia promova ou não mais uma grande ofensiva não será algo a que a Ucrânia e a OTAN possam responder.
Depois de Avdyevka, Novomikhaylovka, mais ao sul, está prestes a cair. Caindo ambas, será a vez da Krasnagorovka. Caindo Krasnagorovka, o entroncamento logístico de Konstantinovka será a próxima pedra desse dominó, abrindo caminho para Pokrovsk. Caindo esta, Ugledar, no extremo sul, perde sua principal linha de abastecimento e toda a defesa oriente-meridional entra em colapso. Conexão análoga pode ser feita logo ao norte, para Ivanovska e Bagdanovka, na região de Artyomovsk, depois das quais cairá Chasof Yar. Caindo Chasof Yar e Konstantinovka, a próxima peça de dominó é Kramatorsk. Mais ao norte, a situação é a mesma para Belogorovka e Sieversk. E no extremo norte a situação é idêntica para Sinkovka e Kupyansk. Uma cidade anuncia a queda da seguinte, cada vez menos fortificada, desenhando um colapso progressivo de todas as linhas de defesa.
No extremo nordeste, quase na fronteira com a Rússia, as autoridades ucranianas já não conseguem mais evacuar a população civil, que está agora esperando pela chegada dos russos. No outro extremo do país, na histórica cidade de Odessa, grupos clandestinos locais começam a atacar com bombas os líderes neonazistas ucranianos. Ao libertar Advyevka, os russos descobriram, assombrados, que ainda havia ocupante civis na cidade, escondidos nos porões. Ressuscitando referências da Segunda Guerra Mundial, eles chamavam os soldados ucranianos que defendiam a cidade de “alemães” e os russos que os libertaram de “os nossos”.
Após semanas de negaceio, o presidente Volodymyr Zelensky finalmente removeu o comandante geral das forças ucranianas, o popular general Valery Zaluzhny, sua mais ameaçadora sombra política, nomeando em seu lugar o Carniceiro do Donbass, general Alexander Syrsky, que obedece a qualquer ordem e não hesita em mandar para a morte certa soldados em profusão, pelo que também é conhecido como “General 200” (código numérico que, desde a operação soviética no Afeganistão, é usado para indicar combatentes mortos).
Encontra-se em andamento, na cúpula do regime, um jogo feroz de disputa e manutenção do poder. Quanto tempo a guerra ainda vai durar? Depende de até onde os russos queiram ir. Pela primeira vez, as autoridades militares russas anunciaram uma expectativa para a vitória da sua operação militar: a se manterem as atuais condições, setembro deste ano será o mês conclusivo.
O presidente Volodymyr Zelensky tem como recurso último a fuga do país. Seu patrimônio no exterior é extenso. Mesmo antes da operação russa, desde 2012, sua associação pessoal com o oligarca judeu neonazista ucraniano Igor Kolomoisky rendeu-lhe uma participação financeira de cerca de 40 milhões de dólares nas offshores Film Heritage (Belize), Davegra (Chipre) e Maltex (Ilhas Virgens Britânicas), todas empresas de fachada para lavagem de dinheiro, tal como viriam a revelar os Pandora Papers.
Durante a guerra, sua fortuna só cresceu. Além do imóvel pessoal de 20 milhões de dólares em Vero Beach, na Flórida, e dos imóveis luxuosos em nome da família e de suas empresas laranja em Londres (incluindo mansões vitorianas e eduardianas), Israel, Chipre e Itália, seu testa de ferro patrimonial e velho amigo Sergei Shefir, junto com o irmão deste, Boris, compraram recentemente dois iates no valor de 75 milhões de dólares e um apartamento de 600 metros quadrados, no valor de 18 milhões de dólares, no complexo residencial Bvlgari Marina, na “ilha dos bilionários” (Ilha da Baía de Jumerah), em Dubai. Será que Volodymyr Zelensky vai conseguir fugir da guerra para o paraíso? Esse não é o destino já provado por várias centenas de milhares de ucranianos.
*Ricardo Cavalcanti-Schiel é professor de antropologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Notas
[i] Alguns analistas outsiders têm sublinhado as interconexões lógicas entre a ideologia woke, a plataforma do “capitalismo de partes interessadas” (stakeholder capitalism) e a “agenda climática”. Essas são, provavelmente, as três “grandes” narrativas da contemporaneidade, e que confluem para a Weltanschauung do liberalismo último. A segunda narrativa, do stakeholder capitalism, é seguramente a menos visível, mas é a que orienta a agenda do Fórum Econômico Mundial, de Davos. Quanto à última, apesar da conexão imediata que possa insinuar, está apenas colateralmente vinculada ao alarma gerado pelo consenso científico em torno da crise climática (consenso que, para ela, tem uma função apenas instrumental). Assim, a “agenda climática” diz respeito, antes, a certa perspectiva de gestão política e social dessa crise, que enfatiza novos circuitos de consumo (mas, ainda assim, baseados no consumo, que avança para e exploração capitalista de novas fronteiras, como as das “novas fontes de energia”), assim como a financeirização das suas variáveis gerenciais (créditos de carbono e fundos ESG, por exemplo), a terceirização de suas iniciativas (nas mãos do “terceiro setor”), com a esfera pública (se for conveniente) acionada apenas por indução residual, e, finalmente, a massificação do artifício discursivo do greenwashing. Afinal, seria no mínimo suspeita uma agenda “ecológica” que derruba uma floresta para colocar uma planta eólica em seu lugar, em nome da “energia verde”.
[ii] Assim, passa a fazer todo sentido uma observação recente do empresário Elon Musk de que outro presidente na Rússia, que não Vladimir Putin, poderia ter uma postura muito mais dura com o Ocidente. Para isso, basta conferir as manifestações correntes da entourage governamental do próprio Putin, em especial do ex-presidente russo Dmitri Medvedev, do secretário do Conselho de Segurança, Nikolai Patruchev, e do presidente do Conselho de Política Externa e de Defesa, Sergey Karaganov.
[iii] Já no ano 2000 a famigerada RAND Corporation, “o mais influente think tank do Estado Profundo” norte-americano, em um de seus manuais doutrinários, lia o poder militar mundo afora no contexto irremediável de uma “era pós-industrial”. Isso torna legítimo perguntar a esses “pensadores” norte-americanos não apenas o que teria, no fim das contas, tornado possível algo como “o retorno da guerra industrial”, mas também o que diabos seria, de fato, o “pós-industrial”.
[iv] Uma das características mais marcantes da gestão dessa nova “guerra industrial” pela Rússia é que o país parece ter herdado do modelo socialista soviético uma concepção da qual o Ocidente liberal não é (ou já não é mais) capaz: planejamento em nível macro, qual seja, uma gerência operativa, a longo prazo, de caráter público, dos negócios estratégicos da nação, que vai além dos agentes particulares, abarcando a infraestrutura social como um todo. Nesse sentido, a Rússia expressaria um revigoramento do paradigma nacional, que vinha sendo sistematicamente depreciado pela globalização liberal.
[v] Bankova é a rua de Kiev onde se localiza o gabinete e a residência presidencial da Ucrânia. É o equivalente, para o Brasil, de se referir ao Planalto ou, para a Rússia, ao Kremlin.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA