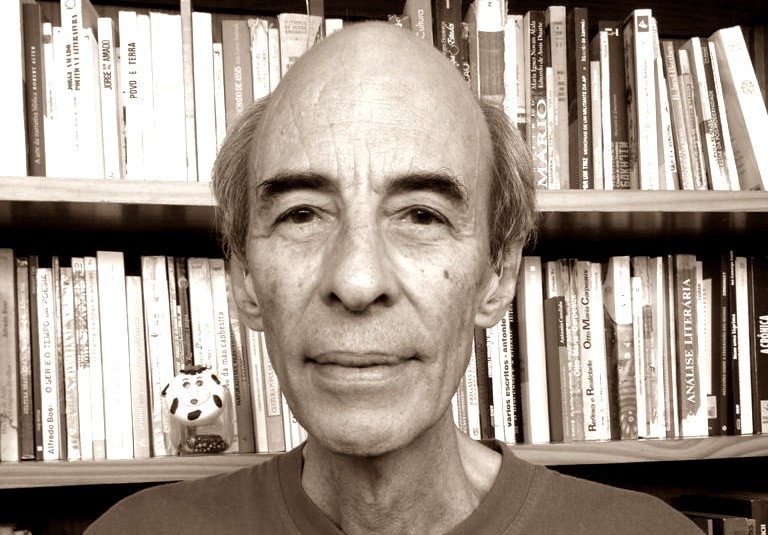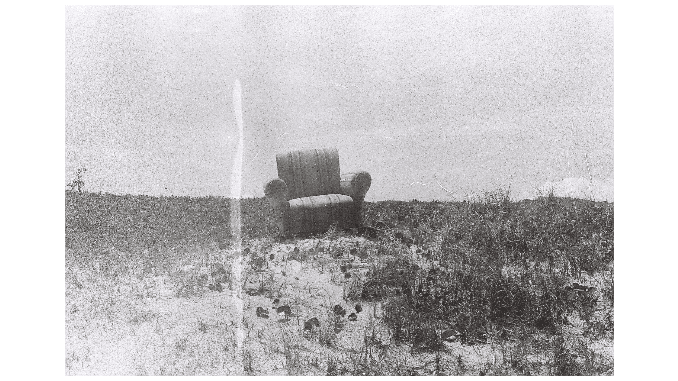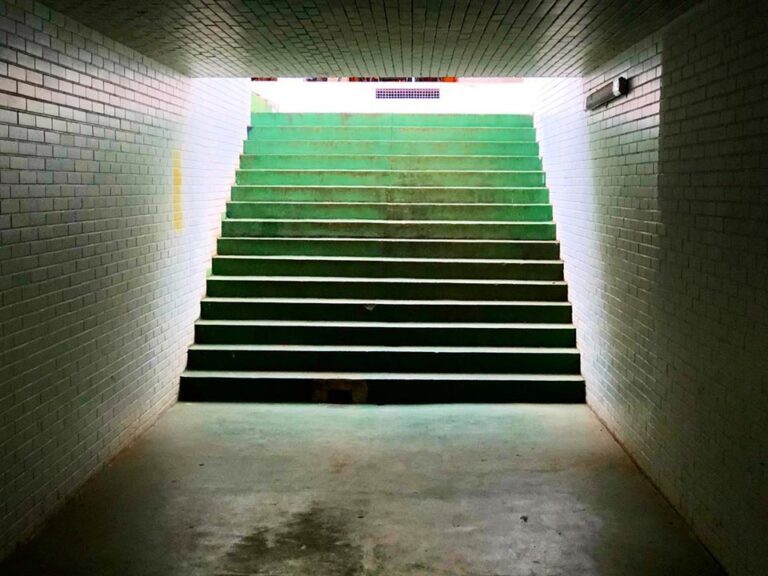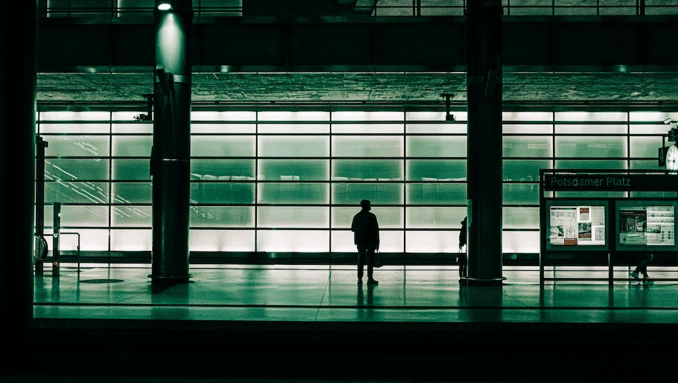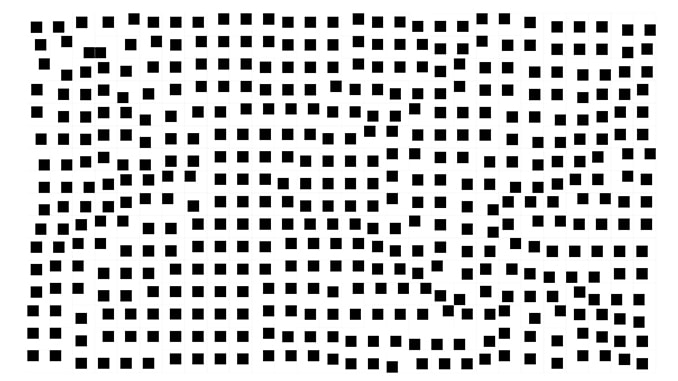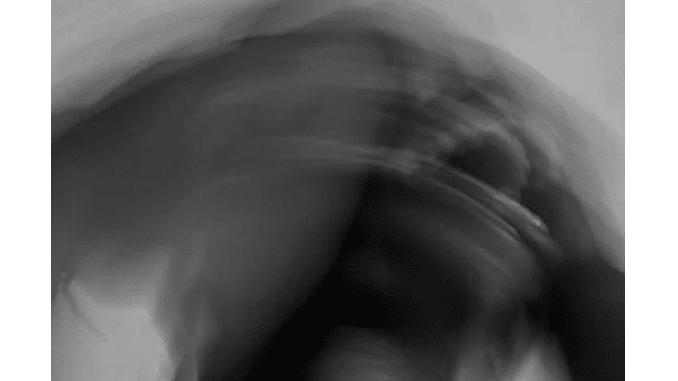Por JOÃO CARLOS BRUM TORRES*
Uma comparação de dois momentos da experiência contemporânea – 1968 e hoje – com sentidos profundamente diversos.
Numa passagem do primeiro volume de Temps et Récit, Paul Ricœur chama atenção para o caráter paradoxal não, por certo, da inamovível estrutura formal do tempo histórico, da distinção entre passado, presente e futuro, mas para a espécie de repetição que se encontra na própria variação hemorrágica de acontecimentos irrecuperavelmente singulares, aliás, conforme o exigido pelo próprio conceito de acontecimento.
Diz-se ali o seguinte: “As próprias intrigas são ao mesmo tempo singulares e não singulares. Elas falam de acontecimentos que só acontecem na intriga considerada; mas há tipos de constituição das intrigas que universalizam o acontecimento”. (Ricœur, 1983, p. 364)
Vê-se, pois, que, para tratar do ponto, Ricœur apela para o conceito de “tipo”, de tipos de acontecimento. Mas como entender isso? Bem antes, Ricœur havia explicado que “a espécie de universalidade que a intriga comporta deriva de seu ordenamento”, pois é a “conexão interna enquanto tal” que esboça os universais (Ricœur, 1983, p. 85). Razão pela qual Ricœur conclui: “os universais que a intriga engendra não são ideias platônicas”, mas, antes, “parentes da sabedoria prática, portanto, da ética e da política” (Id, ib.), de modo que “é a intriga que deve ser típica” (Id., p. 84.)
É impossível reconstituir aqui a muito complexa teoria da história de Ricœur, mas, para esclarecer minimamente a posição expressa nas passagens citadas, convém esclarecer que muito embora o conceito de “intriga” seja entendido como termo técnico da história narrada e designe a concatenação dos acontecimentos históricos tal como presentes na obra dos historiadores, ele não deixa de remeter às “entidades orquestradas pelo discurso histórico” (Ricœur, 1983, p. 321): aos agentes, aos motivos, às intenções, às ações, às interações das quais a narração é narração.
Sendo assim, creio que quando Ricœur diz que é a “conexão interna enquanto tal” que esboça os universais deve-se entender que muito embora essa conexão seja a conexão presente na narrativa histórica, seu pressuposto é que o narrado tenha uma configuração correspondente. Se for assim, os universais que são gerados pelas configurações típicas das narrativas deverão ter encontráveis suas instâncias, não só nas narrativas dos historiadores, mas também nas articulações dos próprios fatos narrados.
O que é dizer que quando os historiadores demarcam uma época, identificam uma revolução, descrevem os anos de desenvolvimento econômico, ou um período de incremento demográfico, eles estão a implicar que esses universais históricos estão a encontrar correspondência com a ocorrência de casos de mudança de época, de revolução, de desenvolvimento econômico, de incremento demográfico nas sociedades e nos tempos cujas narrativas eles estão a fazer.
Agora bem, admitindo que o termo categorial adequado para designar os universais históricos seja “tipo”, como deverá ser formalmente entendida a sua relação com os eventos que podem ser considerados como instâncias de tal tipo? Ou, mais simplesmente, como se deve entender a relação entre um universal histórico e suas instâncias?
Ainda que Ricœur não o faça, se primeiramente prestarmos atenção ao termo por ele empregado para designar os universais históricos, o conceito de “tipo”, somos naturalmente levados a pensar no modo como, desde Peirce (Peirce, 1906, p. 492–546), a filosofia anglo-americana tem considerado o ponto, isto é, somos levados ao par type-token. No entanto, essa demarche seria um equívoco, pois basta ler o verbete Types and Tokens, de Linda Wetzel, na Stanford Encyclopedia of Philosophy, para dar-se conta de que não só não há consenso sobre como deve ser entendida a distinção, mas também que nenhum dos variados modos em que ela é entendida parece adequado para elucidar o modo como um universal histórico se relaciona com suas instâncias. Para o que nos interessa aqui, o que importa salientar, porém, é que, salvo no caso do que aqui nos interessa, dos universais históricos, a variação temporal da ocorrência das instâncias é irrelevante, não afeta e é alheia à determinação do modo em que o termo universal se relaciona com sua extensão. Na exceção constituída pelos tipos históricos isso não é assim, pois as instâncias são intrinsecamente referidas ao tempo, não apenas extrinsecamente datáveis, como é o caso de instanciações de quaisquer outras propriedades e entidades.
Se for assim, nossa pergunta passa a ser: que relação há entre as instâncias de um tipo de acontecimento histórico e o tempo? O que permite dizer que um desses tokens é anacrônico, no sentido em que vimos dizendo que os eventos de 1968 do século vinte nos aparecem como irrevogalmente anacrônicos ao serem cotejados com a experiência e os protestos políticos de hoje?
Para tentar responder a esta questão talvez valha a pena começar pelo polo oposto, prestando a atenção ao que se passa com um evento natural como o alvorecer. Deixando de lado, o que ocorre nos invernos das latitudes extremas, pode-se dizer que cada um de nossos dias começa com o nascer do sol. Nesse caso a identificação de cada evento se faz mediante a determinação cronológica de sua ocorrência, pela indicação da data e hora em que o alvorecer tem lugar.
Roberto Casati e Achille Varzi, ao considerarem o ponto, mostram que a identificação de cada alvorecer pode ser feita também indexadamente por “um par ordenado <i, φ> no qual i é o período de tempo relevante (correspondente ao descritor ‘esta manhã’) e φ é a sentença ‘O sol nasce’. Nesses casos, pode- se dizer que a repetição cíclica, pelo menos nos grandes intervalos geológicos e se a deterioração do meio ambiente não vier a produzir noites intermináveis, não faz sentido em falar em anacronismo de um dado alvorecer. Em casos como este, muito embora a superveniência dos eventos tenha lugar obviamente em tempos diversos, a diversidade cronológica e, portanto, numérica de cada alvorecer, é inerte com relação à natureza e ao conteúdo intensional dos sucessivos eventos. Neste sentido, as instâncias do conceito de alvorecer são réplicas equivalentes de um evento-tipo.
No caso de um universal histórico, a relação da generalidade com suas instâncias é de outra ordem, para valer-me de uma expressão de Deleuze (Deleuze, 1968, p. 7). E isso não só porque o tempo histórico comporta divisões qualitativas, as expressões de sua divisão fixando os marcos cronológicos ‒ momentos, conjunturas, períodos, épocas e eras ‒ em função da variação de compatibilidades e afinidades entre as instituições, os usos e costumes, a cultura e as decisões ocorrentes na vida social, mas também porque a diferenciação dos casos de instanciação é sensível às mudanças temporais, o que obriga a que sejam considerados como azados, crônicos, se admitido o uso especial do termo, ou como desajustados com relação a esse mesmo conjunto de circunstâncias, sendo, nesse sentido, anacrônicos.
Pois bem, assim quando se diz que os eventos de 1968 nos aparecem hoje como anacrônicos, isso significa que as mudanças sobrevindas na macroconfiguração do tempo histórico nos últimos quarenta anos, o modo de articulação de Estado e Mercado e a prevalência cultural do neoliberalismo, impactaram de tal modo nossas vidas que o tipo de vínculo que havia no período anterior entre frustração e esperanças utópicas se afrouxou de tal modo que movimentos insurrecionais, ou semi-insurrecionais como os daquele então já não podem ocorrer.
Isso não quer dizer que não ocorram mais protestos de grande envergadura em nossos dias, pois, aliás, depois de um tempo de grandes calmarias dos movimentos sociais, vimos testemunhando no período mais recente uma espécie de retorno, de volta dos movimentos populares. No entanto, os movimentos atuais se fazem sob o signo da “indeterminação”, da indeterminação conceitual e estratégica, às vezes sob a forma de uma reserva ideológica e programática expressa, como no caso dos gilets jaunes, às vezes sob a forma da ambigüidade, como no caso dos grandes protestos urbanos de 2013 no Brasil, ou na emergência simultânea nos Estados Unidos de uma crescente posição de esquerda dentro do establishment político, no coração do Partido Democrata, com as lideranças de Sanders e Warren e, por outro lado, de um inegavelmente voto de protesto na candidatura de Donald Trump, ou nos grandes comícios e passeatas ocorridas no Brasil de 2014 até o impedimento da presidente Dilma.
É, portanto, levando em conta por um lado, o desligamento de insatisfação social e esperanças utópicas ‒ resultado da consagração massiva do individualismo como padrão da vida trazida pela sociedade globalizada e praticamente hegemonizada pelo ideal social neoliberal e, por outro, o caráter indeterminado dos protestos sociais presentes ‒ que cabe destacar o anacronismo dos eventos de 1968. Como fontes anacronizantes do desligamento entre insatisfação social e protestos coletivos convém enfatizar o papel dominante do avanço do individualismo como forma de vida, mas também outro determinante maior desse fenômeno que foi a desmoralização do socialismo real como forma de estruturação das sociedades modernas ocorrida depois da queda do muro de Berlim.
Antes de concluir o exame deste ponto, convém ainda observar que a alegação sobre o anacronismo do 1968 do século passado atentou aos e baseou-se nos mais salientes dos aspectos econômicos, sociológicos e políticos do desenvolvimento global ocorrido na sociedade global nos últimos quarenta anos. Convém observar, porém, que seria uma inadvertência grave ignorar que a experiência humana desdobra-se em outras dimensões, de sorte que estruturas econômicas, condicionamentos socioinstitucionais e a prevalência social de comportamentos e valores não só não podem nada contra a dimensão normativa da experiência humana, assim como tampouco bloqueiam, pelo menos não insuperavelmente, nossa inteligência, nossa imaginação e nossas aspirações.
Por isso, em um pequeno artigo de 1998, escrito ao ensejo da evocação e comemoração do maio de 68 francês pude escrever: “Mas Maio de 68 tem um segundo destino. Há ali a expressão de uma outra força, a força da repetição, a mesma que faz com que a velhice não tire nada da infância, a que faz com que as demais estações sejam impotentes contra a primavera e que a tudo assegura um inevitável e glorioso recomeço. (…) Neste novo registro, Maio de 68 não passa nunca, é uma virtualidade constante, a prontidão para a irrupção de eventos que abalam estruturas de poder, cristalizações geracionais, constelações de valores e representações e que abrem espaço para o gesto e o grito em favor de uma vida mais livre, para um quotidiano menos modorrento e gris, para uma sociedade mais alegre, para uma existência de criação e audácia”.
Cumpre, porém, observar, que o que é designado acima como força da repetição e virtualidade são expressões que precisam ser bem compreendidas. Tomo-as no sentido em que Heidegger primeiramente as expôs, aproveitando também a leitura que Deleuze fez de sua lição.
Refiro-me ao que Heidegger diz ao abrir a quarta seção de Kant e o problema da metafísica: “Entendemos por repetição de um problema fundamental a abertura de suas até então encobertas possibilidades originárias, mediante cuja elaboração ele é transformado e só assim preservado o problemáticao de seu conteúdo. Preservar um problema significa liberar e velar a força interna que fundamenta sua essência de problema. A repetição das possibilidades de um problema absolutamente não significa simplesmente captar o que é ‘dado comumente’, o que ‘justifica visões do que se pode fazer’. Esse possível é simplesmente o que é demasiadamente efetivo e do qual cada um faz o que quer. Entendido assim, o possível é o que precisamente impedirá toda repetição genuína e assim toda relação com a história”. (Heidegger, 2019, p.207.)
Por certo, diretamente, Heidegger está a falar neste texto de um problema filosófico, do problema contido nas três questões de Kant: O que posso saber? O que devo fazer? O que posso esperar? Questões que, comenta Heidegger, explicitam os interesses gerais do homem enquanto ‘cidadão do mundo’. Todavia, tais problemas, os problemas filosóficos, não são problemas em sentido disciplinar, não são problemas dos filósofos, mas são problemas constitutivos da experiência humana. E é exatamente por isso que eles podem ser “repetidos”, podem ser repetidos porque, enquanto constitutivos, sua solução implicaria a superação, a maior ou a menor, da própria condição humana.
Quando Aristóteles diz ao final do primeiro livro da Política que viver solitariamente é algo para o que estiver ou aquém ou além de nós, ele está a nomear não somente a natureza social do homem, mas o caráter constitutivamente problemático da sociabilidade humana, pois não há problemas em sentido próprio na sociabilidade animal, assim como não os haverá para seres hipoteticamente superiores, cuja sociabilidade não seja constitutiva de seu modo de ser.
O que quero dizer é que não sendo os termos da sociabilidade humana resolvidos automaticamente por determinações genômicas, como ocorrem no caso dos demais animais que Aristóteles e também Hobbes diziam políticos ‒ como é o caso das abelhas, das formigas e dos cupins ‒, sendo antes enfrentados mediante soluções institucionais de natureza essencialmente convencional, resulta que estas serão necessariamente “casos de solução”, vale dizer, expedientes protéticos cuja possibilidade reside e cuja razão de ser encontra-se em uma fenda que pode ser colmatada, mas que em si mesma não pode ser extinta e cujo reaparecimento é inevitável, pois as bases de cada formação social, como as placas tectônicas da litosfera terrestre, são móveis. É exatamente dessa natureza constitutiva e estrutural do problema da sociabilidade humana no sentido mais profundo e próprio da palavra problema que decorre nossa relação com a história e as divisões epocais.
Daí se segue o caráter necessariamente anacronizante da história e sua constância virtual. O caráter anacronizante da história decorre de que os modos de enfrentar o complexo de problemas econômicos, sociais, políticos e culturais ‒ os quais, de resto, não são senão os aspectos principais do problema fundamental de toda sociedade humana ‒ são distribuídos contingente e descontinuamente no tempo. Sua constância, porém, decorre da insuperabilidade de seu problemático caráter, do problema fundamental da sociabilidade, de sorte que as soluções institucionais que lhe são propostas não atualizam nenhuma essência, mas são antes a efetivação contingente de virtualidades que lhe são inerentes.
É nesse sentido, como expressão do ponto em que repetidamente, ainda que a cada vez a seu modo, encontra-se o limite de um certo modo de vida social, que eu disse acima que “Maio de 68 não passa nunca, é uma virtualidade constante, a prontidão para a irrupção de eventos que abalam estruturas de poder, cristalizações geracionais, constelações de valores e representações e que abrem espaço para o gesto e o grito em favor de uma vida mais livre, para um quotidiano menos modorrento e gris, para uma sociedade mais alegre, para uma existência de criação e audácia.
O que é dizer que se, enquanto ocorrências datadas, os protestos de 19 68 podem ser considerados anacrônicos, enquanto sinais de uma dimensão irredutível da sociabilidade humana, eles estão para lá do azado e do anacrônico, pois, como diz Foucault: “As insurreições pertencem à história. Mas de certo modo elas escapam dela. O movimento pelo qual um homem, um grupo, uma minoria, um povo dizem: “Eu não obedeço mais” e lança na face de um poder que ele estima injusto o risco de sua vida – esse movimento me parece irredutível. (…) E isso porque um homem que se ergue é, finalmente, sem explicação; é necessário um arranco que interrompa o fio da história e suas longas cadeias de razões para que um homem possa “realmente” preferir o risco da morte à certeza de ter que obedecer. (…) Porque eles estão assim “fora da história” e na história (…) compreende-se porque os levantes puderam tão facilmente encontar nas formas religiosas a expressão de sua dramaturgia. (Foucault, 2001, 790-791)
O leitor poderá, por certo, inquietar-se com o paradoxo contido na afirmação de que “enquanto sinais de uma dimensão irredutível da sociabilidade humana” eventos perfeitamente datados podem ser tomados como trans-históricos.
Creio que as considerações feitas acima já permitem entender o sentido dessa afirmação, mas talvez não seja demais repetir que eventos como os de 1968 colocam-se além da história na medida em que seus protestos, ademais de expressarem insatisfações e contestação de situações históricas determinadas, recolocam o problema geral da sociabilidade humana e dizem: a solução que o quadro institucional presente oferece não dá! E não dá porque o problema de fundo, o problema de como hão de ser determinados os termos da cooperação entre os membros da sociedade e os mecanismos geradores de diferenças de renda, status, poder e cultura entre eles continua mal resolvido e, por isso, inelutavelmente aberto.
O que é dizer que há no coração da sociabilidade humana uma exigência de justiça cuja satisfação não é nunca perfeita e definitiva. Razão pela qual a repetição dos protestos em diferentes momentos históricos pode ser dita trans- histórica, pois o repetir-se recoloca, em uma série necessariamente aberta, essa mesma dimensão estruturalmente problemática da condição humana. Creio que a tese se torna menos paradoxal se pensarmos que assim como se pode dizer que em cada caso de uma adição elementar como 2+2=4 o resultado é datado, obtido em um ponto exato do tempo, e, ao mesmo tempo, que ele é atemporal, se pode também dizer que no caso das insurreições sociais o fato de que cada uma delas, ao reabrir o problema estrutural da sociabilidade humana, ocorra em data e momento histórico determinados, não impede que, ao mesmo tempo, seu sentido mais profundo seja trans-histórico.
Repare-se, porém, que a comparação que acaba de ser feita é radicalmente imperfeita e pode gerar mal-entendidos. A repetição do resultado de uma operação aritmética como a mencionada é não só trivial como irrelevante para a determinação do conteúdo do problema, pois tanto este como sua solução decorrem necessária e monotonamente dos axiomas da aritmética, notadamente da função do sucessor. Aqui a força heurística da operação é inteiramente subjetiva, como se vê quando inauguralmente aprendemos a contar e a fazer as primeiras operações.
Porém, no caso do que denominamos de problema da sociabilidade humana isto não é em absoluto assim, pois a própria determinação do que seja o problema, do conteúdo problemático do problema, depende do modo como os indivíduos que compõem e formam as sociedades entendem o que sejam as dificuldades a resolver. Isto é o que faz com que os problemas sociais sejam sempre problemas institucionais, problemas que resultam de crenças e atos instituintes, instituintes de instituições.
É também por essa razão que tanto a repetição dos atos instituintes quanto a denúncia que as insurreições fazem deles ‒ despeito de que ponham iterativamente em questão a mesma questão dos termos em que se há de regrar a coexistência dos indivíduos humanos – a cada vez variam e, ao variar, abrem o espaço da história. Espaço este no qual toda repetição é repetição do diferente, pois como diz Heidegger na passagem citada acima, na “repetição de um problema fundamental” necessariamente tem lugar “a abertura das até então encobertas possibilidades originárias nele contidas, mediante cuja elaboração o conteúdo que o faz problema é, ao mesmo tempo, transformado e preservado”. É também nesse sentido que a formação de uma nova forma de sociedade é incomensurável com a formação de um novo formigueiro, ou de uma nova colmeia.
*João Carlos Brum Torres é professor aposentado de filosofia na UFRGS. Autor, entre outros livros, de Transcendentalismo e dialética (L&PM).
Trecho selecionado se artigo publicado originalmente na revista Kriterion, Belo Horizonte, Edição Especial, janeiro 2021.
Para ler a primeira parte do artigo clique em https://aterraeredonda.com.br/1968-ontem-e-hoje/
Referências
ARISTÓTELES. Política. Tradução de Mário da Gama Cury. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1983.
ARISTÓTELES. “Œuvres Complètes”. Paris: Flammarion, 2014.
BRUM TORRES, J. C. “Maio de 68, Filosofia e Memória”. Gazeta Mercantil – RS, ed. de 25 de maio de 1998. Porto Alegre, 1998.
CASATTI, R., VARZI, A. C. “Events”. In: ZALTA, E. N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford, CA: Metaphysics Research Lab., Stanford University, 2015.
DELEUZE, G. Différence et répétition. Paris: P.U.F, 1968.
FOUCAULT, M. “Inutile de se soulever?”. In: FOUCAULT, M. Dits et Écrits II. Paris: Gallimard, 2001.
HEIDEGGER, M. Kant e o problema da metafísica. Tradução de Marco Casanova. Rio de Janeiro: Via Veritas, 2019.
PEIRCE, C. S. S. “Prolegomena to an Apology for Pragmaticism”. The Monist, Volume 16, Issue 4, p. 492-546. Outubro 1906.
RICŒUR P. “Temps et récit. Tomo I, L’intrigue et le récit historique”. Paris: Éditions du Seuil, 1983.
WETZEL, Linda. “Types and Tokens”. In: Edward N. Zalta (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Fall 2018 Edition, URL = <https://plato.stanford.edu/ archives/fall2018/entries/types-tokens/>.
ZOURABICHVILI, F. “Le vocabulaire de Deleuze”. Paris: Ellipses, 2013.