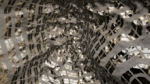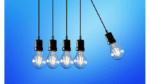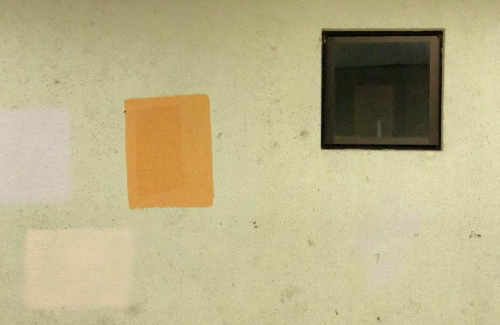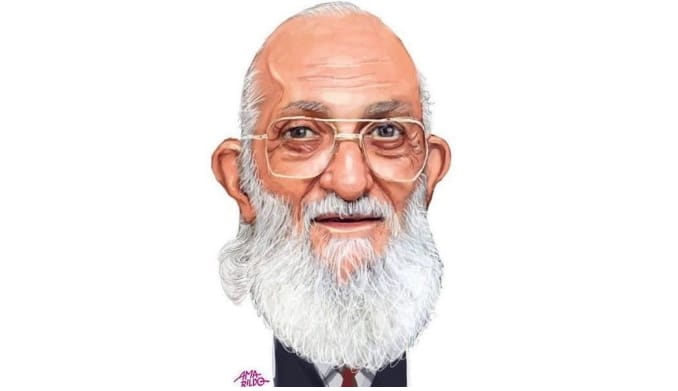Por MARCELO SIANO LIMA*
O eleitor tem gravitado entre o apoio às falácias e à pantomina de mudanças fáceis
Salvo uma nova e mortal variante da covid-19, ou alguma outra situação de emergência planetária, as eleições municipais brasileiras de 2024 tendem a ser centradas nos temas relativos às cidades, sua gestão e as perspectivas de futuro de toda a sociedade. Tudo se encaminha para a reafirmação do desejo dos cidadãos e das cidadãs na identificação de candidaturas e propostas voltadas para a realidade de seus municípios.
Essa é uma tendência histórica, que certamente irá se consolidar nesse pleito de abrangência local. Nada de estranho, portanto, no que vem sendo há décadas mensurado pelos institutos de pesquisa e atestado pelos resultados desses pleitos, com algumas importantes exceções desde sempre.
Também nada anormal será encontrarmos, nas tendências já detectadas por alguns institutos de pesquisa, a presença de uma conservação de governos que venham garantindo tanto a estabilidade político-institucional como a boa gestão, e que inovem na elaboração e execução de políticas e investimentos voltados para o desenvolvimento e a melhoria das condições de vida, além da prestação de serviços públicos universalizantes e de excelência.
Essas são as aparências possíveis de captarmos junto ao eleitorado, pois ele as expressa, mas podem não corresponder às suas mais profundas e verdadeiras vontades e concepções sobre o mundo e a vida, se devidamente aprofundada a análise do tema. São as aparências, geralmente manifestas através de uma narrativa não conflituosa com a essência de toda a problemática – exceto em casos extremos, quando as contradições explodem e sangram – que o eleitorado deseja expressar.
É a sua “zona de conforto”, na qual, cada vez mais, os riscos à integridade física e à existência do indivíduo no contexto de sua sociedade são considerados, apesar do desagrado que sempre provocam aos ouvidos dominadores os ruídos advindos das massas que fogem às partituras impostas das ladainhas. O que se apresenta de natureza complexa é aquilo que se encontra abrigado no seu verdadeiro sentir, na sua mentalidade, no seu imaginário.
Essa é uma dimensão pantanosa, formatada ao longo dos séculos a partir de crenças e de percepções individuais e coletivas, expressando, ainda que de forma silenciosa, o que verdadeiramente se pensa e se projeta a partir do indivíduo, das subjetividades. E é das subjetividades difusas, quando convivendo em uma sociedade, que se forma e se expressa o imaginário social, o objeto central que precisa ser identificado e cartografado.
Por imaginário social, nos valemos do conceito do filósofo Cornelius Castoriadis, que o definiu como “a criação incessante e essencialmente indeterminada (social-histórica e psíquica) de figuras/formas/imagens, a partir das quais somente é possível falar-se de “alguma coisa”. Aquilo que denominamos “realidade” e “racionalidade” são seus produtos”.[i]
Por isso, hoje mais que nunca, e as recentes experiências históricas estão corroborando essa urgência de realocação do olhar para além das aparências, quase que escaneando as entranhas do pensamento, o que precisa ser identificado é esse instinto mais profundo do eleitorado – essas “realidade” e “racionalidades”, calcadas nos matizes de sua mentalidade e no pragmatismo que assegura a sua sobrevivência física e enquanto seres sociais.
Isso, desde sempre, é dissimulado, levando a erros brutais em pesquisas recentes, que não conseguem, por se valerem de metodologias incompletas ou ineficazes, perceber a dissimulação. É uma gramática do imaginário, difícil de decodificar se confrontada com paradigmas que ignoram as múltiplas e contraditórias realidades e desejos de nosso povo, individual e coletivamente tomado. É essa gramática que dirá sobre os desejos, as frustrações, os juízos de valores, as crenças de um eleitorado exposto ao cotidiano da vida nos seus locais de moradia e trabalho, o município. Um cotidiano deveras opressor para a maioria.
Temos observado, ao longo deste século, que os grupos políticos de extrema direita estão sendo exitosos na interpretação de parte dessa gramática, especialmente aquela que toca o campo psicanalítico das frustrações e dos rancores. Valem-se disso, como na Itália fascista e na Alemanha nazista, para insuflar a organização de movimentos, sempre guiados por uma liderança que possui em si traços messiânicos e uma virilidade, questionável, guerreira. Os grupos democráticos de direita, centro e esquerda, notoriamente, estão tímidos no uso de todo o ferramental de interpretação dessa gramática, talvez porque temam desconstruir paradigmas há muito assentados, talvez por incompetência no manuseio da comunicação e das narrativas no contexto de uma sociedade de massa contemporânea.
A falta de conhecimento dessa gramática, a sua não decodificação, leva a erros de cálculo político, à adoção de plataformas distantes do que realmente se pensa no “chão” dos bairros, das residências e das subjetividades. Essa gramática é complexa, pois envolve não apenas os elementos já citados, mas, em especial ao longo deste século, fatores radicalizados e elevados ao proscênio da política, tais como a chamada agenda moral, a fé religiosa, os interesses hegemônicos de organizações paraestatais, a onipresença opressiva de um poder paralelo ao do Estado em diversos territórios, a própria divisão político-ideológica do país, a criação de crises naqueles que são, desde sempre, os pilares da democracia, algo que parece estar sendo normalizado como uma característica da vida brasileira, por exemplo, apresentando sinais robustos de resistência a todo e qualquer chamado à tradição conciliadora da política nacional.
O que aparenta uma transformação, a ruptura, pode ter um efeito reverso, de fortalecimento do que de mais arcaico e deturpado possa habitar o imaginário social brasileiro. São os contrassensos do imaginário aplicado à realidade fática da nossa sociedade. Jamais nos esqueçamos das tradições sobre as quais se formou e das quais se alimenta esse imaginário, especialmente do racismo, da exclusão e da opressão de maior parte da sociedade pelos setores que se construíram historicamente dominantes.
Observadas as últimas eleições municipais, ocorridas em 2020, no auge da pandemia da covid-19, podemos arriscar um palpite bastante realístico sobre o comportamento do eleitorado em outubro de 2024: dependendo do nível da disputa ideológica, e das manifestações do imaginário social, deverão emergir do pleito poucas alterações no tocante ao comando do executivo da maioria dos municípios brasileiros, com um voto na manutenção “daquilo que está dando certo”. Mas a sociedade não é regida pelas regras das ciências exatas, e, sim, movida por sentimentos. A história precisa ser compreendida na sua dinâmica, razão pela qual os pleitos eleitorais não são o resultado de uma equação, mas, sim, de uma expressão de vontade do eleitorado em um determinado momento.
A classe política brasileira, como de resto a dos demais países, sempre se movimenta na busca de “locais de conforto”, criando e aprofundando um fosso perigoso entre si e a sociedade. Um fosso no qual desabam as bases de legitimidade e de representação, o que coloca ambas em um estado de perigo real e imediato. A classe política tende a se guiar mais pelas aparências e por deduções próprias das ciências exatas, e não pela busca de interpretação da gramática do imaginário social – uma tarefa sempre complexa.
Isso explica, por exemplo, o fracasso eleitoral de determinados governos exitosos, quando em busca de reeleição, ou a derrota eleitoral de parlamentares cujo mandato tenha sido de notória importância política e social. O mundo contemporâneo, mais que nunca, não perdoa equívocos na interpretação da realidade. Pune, e de forma severa, no contexto da economia política, aplicando a penalidade mais severa desse ecossistema, a derrota eleitoral.
A classe política precisa se afastar dessa zona de conforto, “daquilo que está dando certo”, precisa dessacralizar esse pensamento que sempre se apresentará sorridente na facilidade de sua construção. Precisa decodificar a gramática do imaginário social, pois ela contém elementos confusos, próprios de mentes bombardeadas por informações múltiplas e conflituosas, em tempo real, ricas em narrativas; ela é marcadamente influenciada pelas bolhas de opinião e de pensamento entre identidades que se reconhecem e se autolegitimam, desprezando a diferença como um elemento constituinte de toda e qualquer organização social. Esse é o único caminho capaz de levar à captura não de votos, mas de corações e mentes, de legitimidade autêntica, aquela que promove as grandes mudanças históricas.
Tais diferenças são tidas e tratadas, cada vez mais, por quem opta pela “zona de conforto”, como algo indesejável, banível do contexto histórico, transformando a divergência numa categoria próxima do crime, e seus adeptos em “inimigos internos”, aos quais se destinam a exclusão, o silenciamento e a supressão da própria vida. Enfim, o que “está dando certo” não necessariamente, a depender da luta política, e do imaginário, pode ser a chave da vitória, muito antes pelo contrário. Pode prenunciar a tragédia, como a história tem sido pródiga em exemplificar.
Na dimensão eleitoral, acertos somente serão construídos a partir de um olhar que perpasse as aparências, que penetre, de forma profunda, no imaginário social. Não estamos mais vivenciando uma era onde as aparências, potencializadas, por si só, expressariam a realidade futura. O cidadão e a cidadã querem algo para além daquilo que constitui os fins clássicos do Estado. É aí que penetramos no imaginário social, e na influência que o mesmo exerce no humor e no desejo do eleitorado, independentemente dos acertos dos agentes políticos.
Esse imaginário quer “estradas”, “entradas”, quer caminhar por vias que conduzam ao reconhecimento de suas demandas e de suas subjetividades, individual e coletiva, e não apenas um governo correto e trabalhador – algo visto essencialmente como necessário, e não um benesse de certos grupos políticos tomados por valores “iluminados”. Vão além, muito além, disso. E aí reside toda a dificuldade da classe política, confortável em gerir suas ações a partir de paradigmas clássicos, mas insuficientes ou contraditórios frente à história e à mentalidade social. Por isso, a proliferação de questionamentos tanto à sua representatividade e existência quanto à própria Democracia – algo que sempre traz o aroma de enxofre das experiências políticas totalitárias.
Desde as eleições de 1982, as primeiras em que se escolheram os governadores dos estados de forma direta desde o início da década de 1960, o eleitorado brasileiro gravitou, com seu voto, entre o apoio às falácias e à pantomima de mudanças fáceis, o controle da inflação, um esforço de implantação do estado de bem-estar social, o extremismo destruidor das instituições e o ultraneoliberalismo, até o atual momento.
Este é o momento de recuperação da normalidade democrática e institucional, aos níveis anteriores, mas sempre confrontada pelas forças de oposição que assumem, a cada instante, um papel mais agressivo e deletério. Uma luta política cruenta, baseada no imaginário social e no acirramento e criminalização das diferenças ideológicas, é outro elemento que vai se materializando e normalizando na vida brasileira, com consequências para lá de preocupantes.
Não sejamos ingênuos de criarmos uma narrativa confortável e ilusória sobre a nossa realidade. A luta política em nível nacional contamina todas as instâncias da vida social. Junto dela, e com ela, o imaginário social influencia o eleitorado a partir da mobilização dos seus sentimentos mais profundos e, no mais das vezes, reacionários. Não será diferente no pleito de 2024, apesar do desejo de continuidade “daquilo que está dando certo” e da vã esperança de certos setores sociais de vivenciarmos uma realidade mais próxima de alguns países europeus centrais do que das nações periféricas, construídas a partir da subordinação e da exploração do homem pelo homem, o que marca, desde o início dessas sociedades, a quase incontornável divisão social.
Agravando esse cenário, observamos que todos os níveis de governo, e não só no Brasil, estão tomados por uma concepção de sociedade e de governo que o ex-ministro das finanças da Grécia, Yanis Varoufakis, denomina de “austericídio” – a austeridade fiscal elevada ao fim último do Estado, que se aparta da sociedade e desconhece suas reais carências e desejos, priorizando, tão só, a estabilidade fiscal, algo que, no limite, transforma esse instituto em um credo sorvido de forma lenta e mortal.
É sobre essa questão que devemos, também, voltar nossas atenções, haja vista que sua pujança retrai os investimentos públicos, tira do Estado a capacidade de agir como um elemento indutor do desenvolvimento, passando à condição de um tesoureiro zeloso diante da tragédia que, sob seus olhos, e por inapetência, se desenrola. Não há sociedade que se mantenha coesa e que preserve os princípios civilizatórios quando exposta ao abandono e à invisibilidade. Mas esse é o projeto neoliberal, e sua ladainha não deixa de ser recitada, nem mesmo por grupos e pessoas que a ele dizem se opor.
Que mentes mal intencionadas não digam que estamos a defender uma anarquia fiscal. Pelo contrário. A estabilidade só pode existir em função da sociedade, da prestação de serviços universais e de qualidade, e da promoção do desenvolvimento que gere emprego, renda, riqueza e divisas. O “austericídio” vem tomando forma de metástase, igualando projetos e grupos políticos que, na raiz, apresentem profundas e necessárias distinções quanto às visões de sociedade, de Estado e de organização do capital. Há que se buscar, sempre, aquilo que o Presidente Lula já definiu como o casamento entre as responsabilidades fiscal e social, não permitindo que a primeira se imponha como o fim último do Estado e das instituições, gerando o caos para dele obter mais poder e mais lucros.
Não são os investimentos públicos que geram um cenário temerário para o tesouro, como deseja sacralizar a ladainha neoliberal, recitada por seus “sacerdotes e coroinhas”. Longe disso, a temeridade se origina do direcionamento de recursos vultosos para pagamento de dispêndio da dívida, numa dimensão que desequilibra toda e qualquer política que pretenda atender aos fins precípuos do Estado. Na realidade, torna o Estado uma fonte da qual jorra, de forma incessante, recursos para alimentar a voracidade do apetite do capital financeiro, sempre distante daquilo que é uma sociedade e das subjetividades que a integram.
O brutal peso do pagamento dos dispêndios (juros e serviços) da dívida do país deve ser traduzido, de forma pedagógica, em números, abrindo a “caixa preta”. Em agosto de 2023, para nos valermos de dados apurados pelo pesquisador Paulo Kliass, a União dispendeu R$ 84 bilhões a “título de pagamento de juros da dívida pública”. Indo além, constatou Kliass que, entre outubro de 2022 e de 2023, foram gastos R$ 690 bilhões com o pagamento desses dispêndios (juros e serviços).
Esses valores são de uma dimensão avassaladora, sequestrando da União os recursos necessários ao funcionamento eficiente e universalizante da estrutura pública. A título de comparação, para o exercício financeiro de 2023, o total de recursos orçados para a Saúde é de R$ 183 bilhões, e para a Educação, R$ 147 bilhões. Valores insignificantes diante das necessidades e, pior, se confrontados com aqueles destinados à alimentação do apetite do capital financeiro e parasitário.
Como pode o Estado brasileiro cumprir suas atribuições diante dessa discrepância na distribuição de recursos de seu orçamento? Aliás, uma discrepância propositalmente ocultada, normalizada pela ladainha do credo neoliberal. Essa discrepância de valores indica, de forma explícita, a visão de Estado que o credo neoliberal deseja. Seus objetivos, sempre repetidos em uma ladainha enfadonha e falsa, são, no fundo, servir ao capital financeiro, predatório e desprovido de quaisquer preocupações com o humano e com a própria geração da riqueza a partir do trabalho e dos investimentos, públicos e privados, na produção.
Mas esses objetivos têm o condão de justificar a narrativa neoliberal, de matriz maliciosa, de dissolução, extinção ou incompetência do Estado. Tais dados são ocultados, invisibilizados, dos olhos da população, pois podem revelar a nudez do próprio modelo de capitalismo financeiro que o neoliberalismo impôs como padrão ao longo das últimas quatro décadas, no mínimo. Um modelo que não se baseia na pessoa, na produção, no emprego, no desenvolvimento, mas, sim, na estruturação de um modo de vida guiado e sob o domínio feroz do capital financeiro e parasitário. Nele, o humano subsumiu na agressividade da busca pelo lucro.
Superávit fiscal e boa avaliação das contas públicas pelo Tesouro Nacional foram elevados à ingrata condição de “fetiches”, louvados em festas, cantados em versos. Oh Deus, quanta sandice! O resultado disso reluz de forma intensa. O Brasil estagnou, se desindustrializou, os empregos formais retraíram, substituídos pela manipulação falaciosa do empreendedorismo, a miséria da maior parcela de nosso povo cresceu e, junto a tudo isso, proliferaram grupos paraestatais ocupando espaços e territórios, subjugando a população à sua vontade criminosa.
Isso poderá afetar, como já vem ocorrendo, a cabeça do eleitorado em 2024, cada vez mais exposta às angústias de seu tempo e das estruturas nas quais se encontra inserido enquanto sociedade. Essa narrativa demonstra uma perenidade assustadora, acolhida pelos diferentes grupos políticos e ideológicos. É preciso reverter essa tendência, para que o Estado possa, de novo, dotar-se dos meios capazes de atender às demandas de uma sociedade de massa, cada vez mais exigente e mais sedenta por serviços de qualidade, por ações efetivas de mudança, por criatividade e mobilização em torno de interesses públicos de natureza republicanos. Também para que o capitalismo, com todas as suas contradições, volte a ser um modo de produção baseado na produção e no trabalho, algo hoje bem distante de se efetivar.
Há que se ter coragem de enfrentar essa narrativa falaciosa, mas firmemente embasada em interesses políticos e econômicos que, no limite, concentram de forma brutal a renda e a riqueza, apartando os nacionais de sua pátria, que não os reconhece nem os assiste em suas demandas.
*Marcelo Siano Lima é doutorando em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV).
Nota
[i] CASTORIADIS, Cornelius. A Instituição Imaginária da Sociedade. Tradução de Guy Reynaud; revisão técnica de Luis Roberto Salinas Fortes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. p. 13
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA