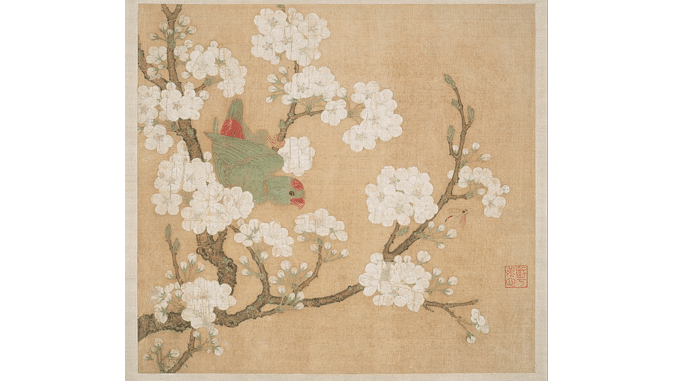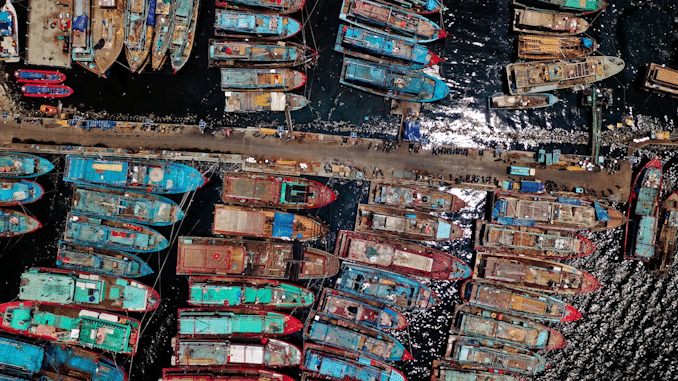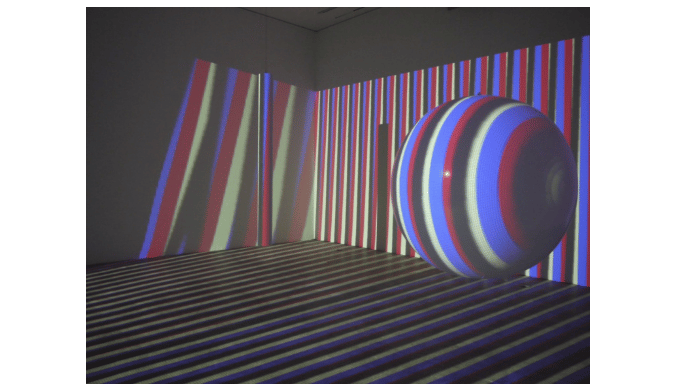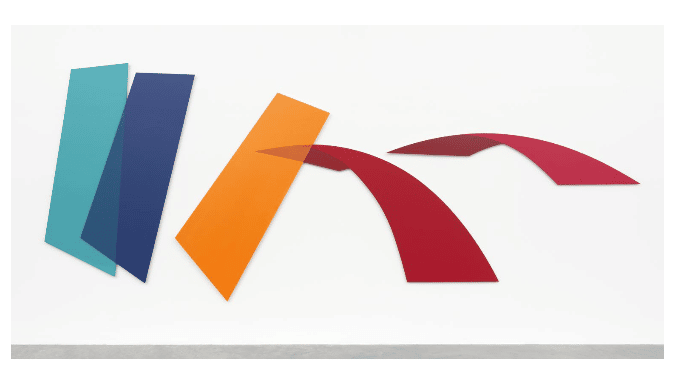Por GILBERTO LOPES*
Não se trata de política terceiro-mundista. É a política que Washington promoveu no Terceiro Mundo.
“Nós queríamos ser muito bons. Queríamos respeitar a todos, inclusive as pessoas más. Mas vamos ter que lutar muito mais duro”, disse Donald Trump, quando sua presidência já se esvaía. Eu estava pensando no que se segue, quando ele ameaçou, ao sair da Casa Branca: “de alguma forma voltaremos!”
O certo é que, de alguma forma, ele não se foi. Com mais de 70 milhões de votos nas últimas eleições, em dezembro passado, 140 representantes republicanos – senadores e deputados – o apoiaram em sua pretensão de rever a votação nos estados em que os resultados das eleições de 2016 foram revertidos. Catorze senadores, liderados por Josh Hawley, do Missouri, e Ted Cruz, do Texas, lideraram esta iniciativa. Milhares de apoiadores de Trump, incluindo milícias fortemente armadas, prometeram rebelar-se contra o que consideravam uma fraude eleitoral.
A história é contada no artigo de Luke Mogelson, na última edição de janeiro do The New Yorker. Mogelson, testemunha da invasão do Capitólio, conta em primeira pessoa no artigo “Among the insurrectionists”. “Na minha frente”, diz ele, “um homem de meia-idade, usando uma bandeira norte-americana como capa, diz a um jovem que está ao seu lado: “vai acontecer uma guerra!” O tom é resignado, como se finalmente aceitasse uma realidade à qual tinha resistido durante muito tempo. “Estou pronto para lutar”, acrescentou. Mogelson continua contando o que ouve: “se não podemos ter processos legítimos num país onde valha a pena viver, talvez tenhamos que começar a explorar algumas outras opções. Nossos pais fundadores sairiam às ruas e recuperariam este país à força, se necessário. E é para isso que devemos estar preparados”.
Não se tratava mais de reverter o resultado das últimas eleições, mas de impedir qualquer forma representativa de governo que permita a chegada ao poder dos democratas. O relato de Mogelson é longo e voltaremos a ele nesta história. Mas agora temos que olhar mais longe e mais atrás para entendê-la.
A “Doutrina Kissinger”: houve muitas guerras
Esta é uma velha história. As doutrinas do tipo QAnon têm raízes profundas nos Estados Unidos: a de desconhecer, fustigar e, se possível, derrubar governos dos quais Washington não gosta. Sempre sob o pretexto da democracia e da liberdade. Como no caso da “Doutrina Kissinger”. Olhemos mais atrás.
Allende havia triunfado nas eleições de 4 de setembro de 1970 no Chile. Acabava de assumir o poder, em novembro, após complicadas negociações políticas, pois o resultado tinha que ser ratificado pelo Senado, onde não tinha maioria. Seis dias depois de tomar posse, as coisas já se moviam em Washington. “O exemplo de um governo marxista eleito nas urnas certamente teria um impacto sobre o resto do mundo. Se se espalhasse, afetaria significativamente o equilíbrio mundial e nossa posição nele”. Era o que dizia na época o secretário de segurança nacional, Henry Kissinger, num memorando “ultrassecreto”, intitulado “Policy toward Chile”. Sua proposta era que “os Estados Unidos deveriam tentar maximizar as pressões sobre o governo Allende para impedir que se consolidasse e limitar sua capacidade de implementar políticas contrárias aos interesses dos Estados Unidos…”. Com algum pudor, a nota acrescentava: “…e do hemisfério”.
Tratava-se de coordenar as ações com as ditaduras militares da Argentina e do Brasil (também impostas com o apoio entusiasta de Washington) e, para bloquear discretamente empréstimos de bancos multilaterais, promover a retirada de investimentos corporativos norte-americanos do Chile e “manipular o preço nos mercados internacionais da principal exportação chilena, o cobre, para prejudicar ainda mais a economia” do país. A diretiva – que pode ser lida hoje em páginas nas quais a iniciativa de Kissinger é analisada – “não fazia menção a qualquer esforço para preservar as instituições democráticas chilenas, nem orientação alguma para tentar derrotá-lo nas eleições de 1976, como mais tarde foi afirmado pelo discurso oficial, construído pelo próprio Kissinger em sua biografia”. Ao contrário, a instrução do presidente Nixon foi: “se há uma maneira de derrubar Allende, faça-o!
Já sabemos o resultado desse esforço. Um êxito posteriormente acrescentado pela “Operação Condor”, com a qual ditaduras vizinhas colaboraram para dizimar a oposição política, assassinada em câmaras de tortura ou jogadas vivas no rio, com um trilho amarrado a seus pés. Nixon foi destituído após o escândalo Watergate, e seu vice-presidente, Gerald Ford, assumiu o cargo. Ele também deu sua versão dos acontecimentos: “os esforços que fizemos foram para ajudar a sobrevivência dos jornais e mídia eletrônica da oposição e para preservar os partidos da oposição” a Allende. A intervenção para preservar as instituições democráticas no Chile foi de acordo com “os melhores interesses do povo do Chile e, certamente, de nossos melhores interesses”. Se você não gosta do governo, derrube-o! Cinquenta anos depois, a “Doutrina Kissinger” segue viva. Só que agora é aplicada em casa.
Longa fermentação
O ataque ao Capitólio foi a apoteose de algo fermentado durante meses, diz Mogelson em seu artigo no The New Yorker. Mas não é assim. Como vimos – e voltaremos aos detalhes –, foi fermentado durante muito mais tempo. Mas a imprensa norte-americana com frequência tem sido bastante provinciana. Vê o mundo a partir das margens do Potomac. Jacob Chansley (o “QAnon Shaman” que invadiu o Capitólio com um gorro de dois chifres na cabeça), deu um passo e parou. Um policial tinha pedido a ele – com bons modos – que se retirasse. Mas Chansley ficou quieto. Apoiou sua lança no escritório do vice-presidente Pence e escreveu algo num pedaço de papel.
O policial disse-lhe que estava esticando demais a corda. Chansley não se importou. Mogelson foi então ver o que o QAnon Shaman tinha escrito. Numa lista com os nomes dos senadores que ele tinha rabiscado: “its only a matter of time/justice is coming!”. Kissinger poderia ter assinado. Era só uma questão de tempo, a justiça estava chegando! Mogelson prossegue contando, agora em outro cenário. Nos arredores do TCF Center, em Detroit, ele encontrou Michelle Gregoire, motorista de ônibus escolar, 29 anos. As mangas de sua camisa estavam enroladas, revelando a frase tatuada no braço: “We the people”. Como – talvez – no braço de Kissinger, quando ele sentencia o governo que não gosta. Tudo inspirado pela constituição de seu país.
É uma velha história. “A reivindicação de uma conspiração para roubar a eleição faz sentido para pessoas que veem Trump como um guerreiro contra as artimanhas do estado profundo”, diz Mogelson. “Abaixo o estado profundo!”, grita um. Ou o estado canalha, diria Kissinger. A luta contra a barbárie islâmica, diz Stephen Bannon, conselheiro de Trump que caiu em desgraça. Ou contra o comunismo. Sempre pela democracia e liberdade, como Kissinger. Ou Nixon. Ou Ford. Esta campanha contra o processo democrático vai se transformar numa insurgência duradoura? Ou em algo pior? Hoje sabemos bem: em algo muito pior, do qual ainda não pudemos sair. O Chile é um bom exemplo. Outro é o Brasil. Campanhas contra o processo democrático, cujas consequências já têm mais de meio século.
Outras guerras
Lembramos do golpe chileno organizado por Kissinger, em 1970. Mas havia precedentes. Cinco anos antes, tropas americanas invadiram a República Dominicana em 28 de abril de 1965. Foi a vez do presidente Lyndon Johnson especular sobre a ameaça comunista. Há cinco anos – quando a invasão fez 50 anos –, Abraham Lowenthal, destacado acadêmico e político norte-americano, fundador do Pacific Council on International Policy e do Diálogo Interamericano, professor emérito da Universidade do Sul da Califórnia, falou sobre o assunto. “A intervenção na República Dominicana reduziu a probabilidade de sucesso das reformas pacíficas que muitos funcionários estadunidenses queriam ver na América Latina. Alguns conservadores latino-americanos – especialmente na América Central – concluíram que os Estados Unidos não permitiriam o sucesso dos movimentos reformistas”, disse Lowenthal num artigo publicado em abril de 2015 pelo Brookings Institute em Washington.
A intervenção teve graves consequências nos Estados Unidos, diz ele. “A escandalosa falta de transparência da administração Johnson aprofundou a desconfiança entre a administração e muitos líderes de opinião, contribuindo para a crise de credibilidade que acabou inspirando a reação estadunidense ao Vietnã. Mas “onde os custos intangíveis mais sérios ocorreram na República Dominicana. A intervenção intensificou a fragmentação política e a dependência dos Estados Unidos, tornando mais difícil o desenvolvimento de instituições políticas efetivas”.
Cinquenta anos após essa intervenção, diz Lowenthal, “como resultado da obsessão de Washington com Fidel Castro, chegou o momento não só de ter uma relação de respeito mútuo com Cuba, mas também de desafiar outras mentalidades arraigadas e encontrar respostas mais criativas para a persistente interdependência entre os países da bacia do Caribe e os Estados Unidos”. Essa hora chegou?
Os aniversários se multiplicam. Em dezembro de 2019, completaram-se os 30 anos da invasão do Panamá, que ocorreu em 20 de dezembro de 1989. “Eles lançaram bombas em áreas populares de El Chorrillo – um bairro em pleno centro da capital, um reduto do regime militar de Manuel Antonio Noriega – destruindo tudo em seu caminho”, diz uma nota da BBC. “Eles usaram artilharia e aviação para bombardear as áreas mais densamente povoadas da capital, onde havia um grande número de pessoas vivendo em velhas casas de madeira”, conta o sociólogo e escritor panamenho Guillermo Castro à BBC Mundo. A “Operação Justa Causa” – que deixou um número de mortos nunca determinado – “continua a ser lembrada por muitos, 30 anos depois, como uma ferida aberta na história do Panamá”.
Há outro aniversário importante. Dentro de alguns anos, se completarão os 40 anos da invasão da ilha caribenha de Granada, em 25 de outubro de 1983. O presidente Ronald Reagan a chamou de operação “Fúria Urgente”. Cerca de 7.000 soldados destacados na pequena ilha puseram fim, em questão de horas, a qualquer resistência impensada. Washington não gostava do governo da “Nova Jóia” e Reagan o considerou uma ameaça potencial para os Estados Unidos. O primeiro-ministro Maurice Bishop e outros membros de seu gabinete tinham sido executados por forças golpistas uma semana antes da invasão norte-americana. Creio que seus corpos nunca apareceram.
Os apoiadores de Trump carregavam armas, tasers, bastões de beisebol ou cassetetes na invasão do Capitólio. “Durante seis horas, os norte-americanos viram a democracia sequestrada em nome do patriotismo”, recorda Mogelson. As pessoas cantavam “America first”.Sentiam-se donos das ruas. De que ruas? Das “suas ruas”. E de “suas” praças. Por que não tomá-las? Chansley agradecia ao pai celestial por permitir que eles entrassem no Capitólio e enviassem uma mensagem aos tiranos, aos comunistas e aos globalistas. Os rebeldes inclinavam suas cabeças.
O poder de poder
O “poder de poder”: restaurar a liderança norte-americana. Mostrar que o país é capaz de resolver problemas. Essa é a tarefa sugerida a Biden pela professora de Direito em Harvard, Samantha Power, embaixadora nas Nações Unidas entre 2013 e 2017, durante o governo Obama, quando ela também integrou o Conselho de Segurança Nacional. Isso significa, em sua opinião, “menos ênfase na causa abstrata da ‘ordem liberal internacional’ e mais demonstrações práticas da capacidade dos Estados Unidos de lidar com questões atualmente importantes para a vida de centenas de milhões de pessoas”.
Num artigo publicado na edição de janeiro-fevereiro da revista Foreign Affairs, Power sugere três áreas críticas para recuperar a liderança americana: distribuição mundial de uma vacina contra o Covid-19, renovação de oportunidades para estudantes estrangeiros serem educados nos Estados Unidos e dar um alto perfil à luta contra a corrupção, no país e no exterior. “Os Estados Unidos”, lembrou Samantha Power, “são o centro nevrálgico do sistema financeiro global”. Em menos de 20 anos, entre 1997 e 2017, movimentaram-se aí “pelo menos dois trilhões de dólares de recursos ligados a traficantes de armas, drogas, lavagem de dinheiro, evasões de sanções e funcionários corruptos”. E acrescenta: “nos últimos anos, as revelações de que a poderosa construtora brasileira Odebrecht pagou 788 milhões de dólares em subornos em toda a América Latina provocou a queda de importantes figuras políticas e reverteu a situação política em várias de nações da região”.
Eles o fizeram no Brasil, criando as condições para levar Bolsonaro e os militares ao poder, avançando na privatização da exploração petrolífera, desmantelando a empresa estatal Petrobrás, liquidando as poderosas construtoras brasileiras e ultrajando – com a cumplicidade de juízes corruptos que se apresentaram como defensores da luta contra a corrupção – o líder político mais popular do país: o ex-presidente Lula. Os abusos da “Operação Lava Jato”, organizada no Brasil em coordenação com a polícia norte-americana, estão agora bem documentados. O principal objetivo era eliminar a candidatura de Lula à presidência da república, a única maneira de fazer do capitão Bolsonaro presidente da república.
Esse poder também foi usado no Equador para eliminar candidatos incômodos para Washington. O juiz espanhol Baltasar Garzón denunciou os abusos ali cometidos com o mesmo esquema judicial, executados tanto pela Procuradoria Geral quanto pelos tribunais de justiça. Uma ação repressiva com nomes e sobrenomes, incluindo o do vice-presidente Jorge Glass e, sobretudo, o do ex-presidente Rafael Correa, com o objetivo de eliminá-lo da competição eleitoral. O golpe mais recente, na Bolívia, também revelou novas formas de assalto ao Capitólio.
Em outros países, as ações são menos encobertas. Cuba tem sido submetida a um bloqueio implacável por mais de 60 anos e a Venezuela tem sido submetida às medidas mais drásticas para inviabilizar qualquer programa econômico. Na Nicarágua, setores da oposição fazem política em Washington, pedem mais sanções contra um governo que eles consideram ilegítimo.
Então, um dia, aparecem os QAnon sugerindo que se não pode obter o país que acreditam merecer, através de processos que consideram legítimos, talvez necessitem explorar outras opções. Por que não experimentar uma receita tão exitosa também em casa? É necessário olhar para dentro de casa. Não para aplicar as receitas que têm aplicado no Terceiro Mundo, mas para evitar cair em padrões de vida semelhantes, como nos lembrou o senador Bernie Sanders.
Em meio à pior pandemia em um século, disse ele, 90 milhões de norte-americanos não têm plano de saúde, ou têm um que não cobre suas necessidades, não podendo consultar um médico quando estão doentes. Metade dos trabalhadores norte-americanos vive o “dia a dia”, mais de 24 milhões estão desempregados, subempregados ou desistiram de procurar trabalho, enquanto a fome no país atingiu seus níveis mais altos em décadas. E, contra todas as evidências, dezenas de milhões de pessoas no país realmente acreditam que Trump foi muito bem nas eleições, mas a vitória foi roubada dele.
*Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR).
Tradução: Fernando Lima das Neves.