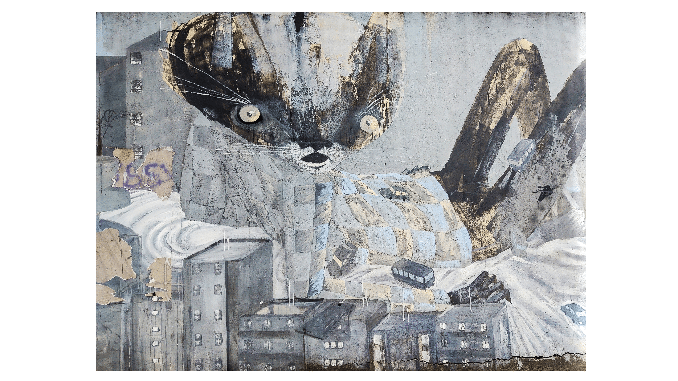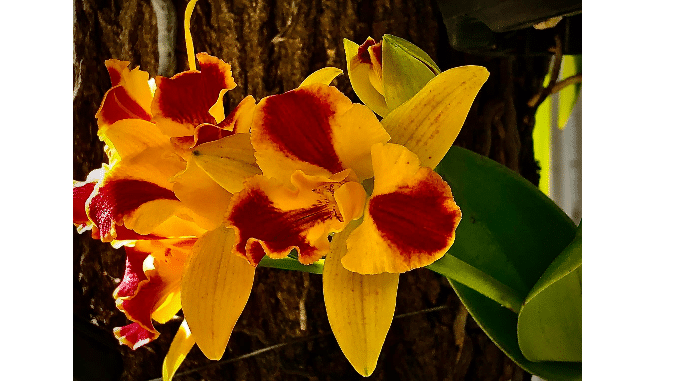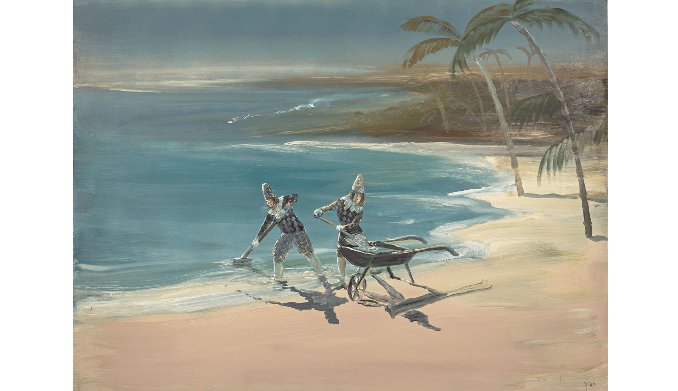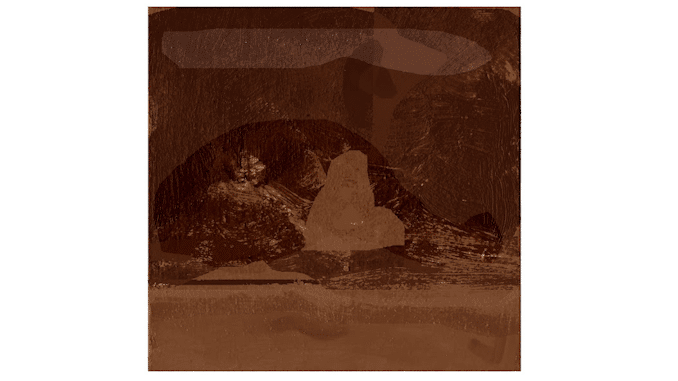Por ARLENICE ALMEIDA DA SILVA*
Considerações sobre o livro de László Krasznahorkai
1.
Escrito em 1985, imortalizado no filme de Béla Tarr, de 1994, Sátántangó (O Tango de Satanás) é o primeiro livro de László Krasznahorkai, vencedor do Prêmio Nobel de 2025.[i] Composto de cenas, encadeadas umas às outras, sem impedir a fragmentação, a escrita não chega a inaugurar novos caminhos para o romance, pois seus recursos estilísticos remetem à tradição do romance moderno, de Franz Kafka a Samuel Beckett; e, no entanto, sua linguagem é singular, única. Menos enigmático e obscuro que seus predecessores, embora se refira a outra obscuridade, de fundo religioso, ao se perguntar menos pelo sentido da vida, cuja pergunta já não pode ser mais feita, e mais pela salvação.
O romance começa e termina com o soar de um sino, estranho, improvável, já que não há nenhuma igreja nos arredores, mas cujo repicar desperta os que o ouvem, como uma promessa de salvação; é este som, que não só anima os mortos-vivos de uma cooperativa praticamente abandonada, resquícios de uma comunidade, mas que possibilita ao narrador começar a narrar a partir desse ponto. Com efeito, sem o soar do sino, não haveria narração. É assim que o sino, suas badaladas, seus repiques, vindos de fora, de outra temporalidade, abalam aqueles que só ouviam, até então, as “batidas surdas do coração”.
O autor constrói a narrativa como se fosse uma enorme e infinita teia de aranha; no entanto, a urdidura da teia de László Krasznahorkai não remete a uma estrutura orbicular, na qual as sedas organizariam um mundo em dóceis lençóis aéreos, leves e transparentes; a teia é no romance, principalmente, metáfora da armadilha, construída a fim de imobilizar e reter a presa.
Especificamente, as aranhas remetem ao fim, pois são os últimos seres sobreviventes, ao mesmo tempo, invencíveis e invejáveis, pois a elas ainda resta a última possibilidade de salvar-se do inferno, construindo, ligando uma coisa a outra coisa, por meio de teias; aos homens da comunidade, nem isso mais é possível.
No entanto, a estrutura narrativa de László Krasznahorkai não remete a uma aventura completa e suas múltiplas ramificações, sonhos e desilusões, uma vez que se concentra apenas na memória da destruição, isto é, em dizer as últimas palavras, um pouco antes do fim, antes do silêncio final. Não se trata, então, de acompanhar o que aconteceu a esta comunidade, nem saber se há alguma salvação para ela, mas constatar a sua irremediável destruição. É neste tempo do fim, que o leitor vai sendo envolvido, lentamente, em ritmo sombrio.
2.
Estamos diante de um romance de desilusão, na tradição de Gustave Flaubert? Niilista, como Thomas Bernhardt? Ou de uma parábola realista, como em Franz Kafka? A paisagem não poderia ser mais sombria, outonal, sempre a chover, com os caminhos sempre enlameados e frequentemente intransitáveis; as poucas casas sujas, fétidas, com bolor pelas paredes, são invadidas pelos ratos e entregues às invencíveis aranhas.
Os homens são feios, sujos, doentes, carentes, imobilizados, paralisados; suas botas estão sempre cobertas de lama, suas casas empoeiradas e seus casacos puídos; aliás, parece que só as aranhas estão de fato vivas e se movimentam, fazendo o seu trabalho, urdindo com seus fios, não uma bela obra, mas, sempre à espreita, ligando coisas à pessoas, e, estas, umas às outras, a fim de imobilizá-las ainda mais, para que seus poucos gestos possam ser melhor vigiados.
Há muito a natureza deixou de ser uma potência vital, o sol, do qual parece não vir nenhuma luz, jamais se ergue a fim de aquecer ou iluminar. Nada é belo no mundo criado por László Krasznahorkai, nem os animais, nem mesmo as acácias. As crianças, que viviam em um estado de “alerta permanente”, no qual “brincar é uma obrigação”, tampouco são belas.
Não há mais escola, dela só restou a função, representada pelo diretor, que se julga o único homem instruído da região; paralisado, só repetia com frequência, que era preciso “restabelecer a ordem, elaborar projetos, formular princípios fundamentais” (p. 146). Por isso, não tem nada a ensinar; por vezes, dirige-se ao “Centro Cultural”, com um projetor debaixo do braço, mas nunca se sabe se algum filme foi, de fato, projetado e se alguém o teria assistido; de todo modo, ninguém jamais o escuta.
Nessa comunidade não há esperança alguma de futuro, obcecados por dinheiro, todos vivem um presente bruto, sem nenhuma elevação, enredados em uma sexualidade triste, constantemente bêbados. Não se trata de um atraso localizado no campo, uma vez que na cidade, contraponto da cooperativa, a decrepitude é, no entanto, a mesma: “tudo está podre. Em três semanas já vieram duas vezes rebocar as paredes”. “Do teto, uma poeira fina cai, intérmina, lenta e dignamente”.
Poderíamos talvez situar essa comunidade em um horizonte distópico, que não está nem no passado, nem no futuro. A temporalidade de László Krasnahorkai expressa certo presente distendido, como se fosse um presente eterno, sem memória, nem projeções; um presente imóvel, sem transição. Suspeita-se, no entanto, que em algum momento do passado essa comunidade teria perdido a esperança e os valores coletivos e, sobrevivido, desde então, sem nem ter tentado viver em outra sociedade, que seria supostamente mais moderna.
No fundo sabem de antemão que não há outra alternativa, apenas algo que é ausência. Não entendem o tempo, nem o que ocorreu nele. E por isso nem perderam a liberdade, ou melhor, nunca a conquistaram, “eram servos e assim permanecerão até o fim das suas vidas”, “filosofa” Irimiás (…) “continuam no mesmo lugar, sentam-se nos mesmos mochos sujos, à noite devoram batatas com páprica e não conseguem entender o que sucedeu.
Espiam-se, numa desconfiança mútua, arrotam em silêncio e esperam. Esperam tenazes e obstinados, e pensam que foram simplesmente enganados; esperam agachados, como gatos na matança do porco, à espera que caia algum pedaço. Esta gente é igual aos servos antigos que, mesmo depois de o senhor rebentar os seus próprios miolos, ali quedaram, desamparados, girando à volta do cadáver”.
O motivo recorrente é de fato o da luta trágica entre a necessidade e a liberdade; mas nem uma, nem a outra, são mais reconhecíveis; em um ritmo épico invertido, porque no lugar do avançar da luta, temos o instante da dissolução, de um mundo que desmorona, sem outro à vista, sem nenhuma perspectiva de salvação.
3.
No entanto, após o repique dos sinos, surge a notícia alvissareira, uma promessa de salvação, anunciando que Irimiás está vivo, e voltando para a comunidade, para salvá-los. A figura de Irimiás é central à narrativa, ele é um deles, mas não é apenas um malandro, escroque, o que ele é de fato, ou um simples salvador da pátria ou populista, ele é a encarnação de um heroísmo passado e a promessa de um mundo digno, ordenado e sem dominação. Com efeito, era o “homem das situações desesperadas e pastor de homens sem esperança”.
O simples anúncio da sua chegada produz uma agitação naquela comunidade apática, pois acreditava-se que ele traria certamente uma perspectiva, uma saída, uma solução para os problemas de cada um deles. Assim, apesar das discordâncias e paradoxos, Irimiás encarna a figura do “salvador”; aquele, que foi e voltou, e, como o Cristo que morreu e ressuscitou, aquele que faz promessas e as cumpre. Além disso, sabiam que ele “tomaria conta das coisas”, pois, como dizia Futaki, “ele era o único capaz de manter unido o que nas nossas mãos se fazia em pedaços”.
As afinidades religiosas se multiplicam ao longo do romance, além de valente, corajoso, de saber o que deve ser feito, Irimiás, tem o dom da palavra: ele tinha imaginação e despertava imaginação; não ao acaso, as palavras graves de Irimiás “ecoavam na sala como um toque de sinos desabalados”. Ele não ordenava ou mandava, mas apresentava uma solução, uma saída, e assim, hipnotizando os ouvintes, não por causa do sentido das palavras, que ele pronunciava, mas porque elas vinham incendiadas, e porque pressentiam que em suas palavras haveria “ realmente qualquer coisa” que os salvaria.
O discurso de Irimiás é ao mesmo tempo, trágico e irônico. Trágico, pois ele de fato sofre com a degradação da comunidade; ele nasceu ali, é filho da terra, reconhece neles o que de fato são, miseráveis, párias, infelizes, indefesos, como ele; percebendo que tudo é vão e inútil; e mesmo assim, isso não impede que ele os explore, mais uma vez, que lhes roube seu dinheiro e suas esperanças, mais uma vez.
Eis o paradoxo dessa consciência irônica, nessa comunidade fora do tempo, no tempo do fim, e por isso mesmo, dentro do círculo do inferno: o saber é correto, claro, lúcido, preciso, mas ele não impede o mal; por isso, acerta Irimiás quando afirma, diante do suicídio da pequena Estike, que “todos somos culpados”, algozes e vítimas.
4.
László Krasznahorkai opera com uma linguagem que é, a uma só vez, mítica, metafísica e histórica: quando, em função da crise, os membros dessa comunidade se veem sem um senhor, não conseguem libertar-se, nem construir um futuro com autonomia. Não se trata apenas do hábito, da rotina diária da obediência que movimenta a servidão. Mas de um tipo singular de servidão, simbólica, que gira em torno de uma crise dos valores: “são escravos que ficaram sem senhores, mas incapazes de viver a vida sem orgulho, dignidade e coragem.
É o que lhes alimenta a alma, mesmo que no fundo de seus espíritos obtusos, saibam que isso não emana deles, porque só gostam de viver na sombra desses valores (…). E então vão até onde essa sombra os conduz, como um rebanho, porque sem sombra a coisa não vai…”.
Jacques Rancière, em seu ensaio sobre o filme de Béla Tarr, destaca que Irimiás, é um tipo de “escroque-messias”, pois ele é esta sombra, ele não é um explorador que seduz as pessoas com falsas promessas de um mundo melhor, pois ele é uma manifestação do desejo das pessoas de viver com dignidade. “Ele conhece o motor que torna bem-sucedida as vigarices superiores; não é a cupidez ou a covardia dos infelizes, às quais só são boas nos pequenos negócios, mas sua incapacidade de viver sem orgulho e honra”.[ii]
A possibilidade de formarem uma sociedade com indivíduos autônomos está completamente vedada a esta comunidade, não por falta de desejo: eles sonham, fazem projetos, querem uma vida melhor; no entanto, a utopia liberal é no romance uma impossibilidade lógica e histórica: “os últimos anos pesam tanto sobre os vossos ombros, que já ninguém tem força para superar a inércia” conclui Irimiás. O que predomina é a “geral incapacidade de agir” e por isso a impossibilidade da libertação.
Não teríamos aqui uma suspensão ou paralisação do tempo, como em Franz Kafka, no lugar de uma dialética entre suas possibilidades múltiplas e seus limites? Não é a imobilização do tempo que vemos no ritmo do cinema de Béla Tarr, na lentidão da sua câmara, na repetição e paralisia do gesto? Não é sempre o mesmo, repetição infinita do mesmo acorde, no acento melancólico do acordeão, realçado pela música de Miháyi Vig, responsável pela trilha do filme?
Como observa Gunther Anders sobre Franz Kafka, “a vida é tão enroscada que não anda”,[iii] nele, “a eternidade do momento, o tétano de não ir adiante, é maldição”. Enquanto Kafka metamorfoseia frases em imagens, László Krasznahorkai prolonga suas frases dolorosamente, até obter o efeito de realismo, mesmo que petrificado, a fim de que o leitor perceba que não se trata de uma paralisação derivada do horror de algo extraordinário, mas de uma paralisação geral, pós-tudo, que é esgotamento do ordinário, do qual só emerge a impotência, sem explicação, sem sentido.
5.
Enquanto em Franz Kafka em face do poder predomina a renúncia ao poder; em O tango de Satanás, a renúncia é almejada, intrínseca ao exercício do poder, por isso o poder se exerce sobre ruínas, como repetição; depois do poder, restam fantasmas em suas casas fechadas e corredores sujos. Restam apenas funcionários e seus relatórios.
Depois do tempo do fim, não há mais nada, apenas o movimento circular que deste ponto, do badalar do sino, narra o recomeço do fim. Ele, como fim, não é completude, término daquilo que começou, pois nele não há desenvolvimento, progresso, avanço, só repetição dos dias e das horas. O passado não é salvo no presente, ele não clama por redenção no futuro, ele é uma sombra que impede qualquer luz, isto é, a vida.
E, assim, como repetição, todos se deixam mais uma vez enganar, sonhar com um novo projeto coletivo, uma nova perspectiva de futuro, claro que embalados pelo espírito moderno do risco, e pelo velho sonho de “criar uma ilha com um punhado de homens que não tem nada a perder, uma ilha donde a servidão desapareceu, onde viveremos uns para os outros, e não uns contra os outros” ; ilhas que se multiplicarão, “como cogumelos, e seremos cada vez mais numerosos”, promete, mais uma vez, Irimiás.
No lugar do futuro promissor, da ilha de igualdade e de liberdade, o que eles encontram é uma casa em ruínas, inabitável e mais nada; retornam, assim, para a sociedade de funcionários, com superiores e subordinados e seus inúteis instrumentos de controle, pois o máximo que eles conseguem é serem recenseados em um relatório de polícia.
Por que “tango de satanás”? De um lado, vivem num lugar, nomeado de “a casa do diabo”, onde reina uma espécie de maldição: é um lugar do qual não se pode escapar; de outro, o mal, como uma ordem satânica é o lugar da inércia, imobilidade, da impossibilidade de qualquer gesto, ou seja, da invenção de qualquer futuro. Ali o tempo já não mais existe; os homens são sempre escravos, reduzidos ao silêncio. O personagem mais equilibrado, que quer avançar, apesar de coxo, é Futaki, um misto de lucidez e esperança; nele restara uma pequena dose de energia, por isso, é ele que percebe, de pronto, que haviam sido novamente enganados.
Seu nome aproxima vocábulos que indiciam movimento como futás, no sentido de escapar, fugir, que remete ao verbo fut que significa correr, e ao substantivo futó, que é corrente. Ele adorava máquinas, era apaixonado pela ordem que preside os mecanismos, confiava na tecnologia, e sonhava com tempos mais fáceis, sob o auxílio delas. Não é sem razão, que os relatórios de polícia anotavam que ele tinha uma “tendência para a revolta”.
É o único que percebe que as “palavras de Irimiás dissimulavam uma discreta amargura”, que ele “já não denunciava vigor, nem entusiasmo, a chama que outrora brilhara nele extinguira-se, também ele caminhava sem sair do lugar”. Futaki é o único que percebe que Irimiás, “o salvador”, era também impotente, e que, portanto, “não havia escapatória”.
O Tango de satanás não é uma parábola, com sua dimensão abstrata, pois os elementos realistas são muito marcantes no livro: apesar de bastante elaborada, a distância que a linguagem toma da concretude é mínima. Trata-se de uma cooperativa de camponeses, na Hungria, país que “os turcos ameaçaram” e não de uma pátria mítica: da bebida pálinka, dos seios da Sra. Schmidt e do dinheiro; do lago Balaton, do maciço do Tisza, e outros locais e acidentes sugerindo conflitos racistas com os vizinhos romenos, tais como “Kisrománváros” ou “Nagyrománváros” e do ódio aos ciganos.
Ademais em 1985, quando o livro foi publicado, ainda vigorava o regime comunista na Hungria. E ao cantar o hino nacional da Hungria, Futaki “sentiu mais duramente a solidão, pelo que parou de imediato e susteve a respiração”.
Verifica-se essa brutal aproximação dos objetos, da mesma janela pela qual o narrador observa as outras casas da cooperativa, de seu posto de observação. Dela surge a língua do doutor-narrador que enuncia, “como as coisas passam-se exatamente”, só que sem saber “que direção imprimir aos acontecimentos”.
László Krasznahorkai procura, assim, afastar o risco do realismo ou da crítica política fácil, responsabilizando-se pela narrativa. Ela é a verdade de alguém que se isola da comunidade, afasta-se da vida, a fim de poder enunciá-la, mas sem sair de dentro dela, de suas entranhas. A verdade, seu ponto de vista é a do seu posto de observação, de dentro das ruínas da experiência comunista na Hungria.
Assim, o romance deixa pistas sobre a razão do fracasso. O tema da inércia é central. E dele decorre, no vocabulário da filosofia moral, o tema mais profundo do romance que é a honra, isto é, o paradoxo de um valor moral que é afirmado individualmente, mas que pressupõe o reconhecimento dos outros, ou seja, a existência da comunidade.
Por que o fim dos senhores, ou o fim dos deuses, como sugere Gunther Anders, a propósito de Franz Kafka, só pode ser apresentado apocalipticamente, ou seja, religiosamente? Não é possível pensar em uma comunidade laica? Uma comunidade por vir?
*Arlenice Almeida da Silva é professora de estética no departamento de filosofia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Autora, entre outros livros, de Estética da resistência. A autonomia da arte no jovem Lukács (Boitempo). [https://amzn.to/3OsGRWg]
Referência

László Krasznahorkai. Sátántangó. Tradução: Paulo Schiller. São Paulo, Companhia das Letras, 2022, 232 págs. [https://amzn.to/4qcmU7O]
Notas
[i] László Krasznahorkai. O tango de satanás.Lisboa: Antígona, 2018, Em 2022, a Companhia das Letras publicou a versão brasileira, com o título de Sátántangó. As citações a seguir referem-se à versão portuguesa.
[ii] Jacques Ranciére. Bela Tárr, le temps d’après. Paris: Cappricci, Actaulité Critique, 6, 2011.
[iii] Gunther Anders, Kafka. Pró e Contra. São Paulo: Cosac e Naify, 2007, p.74.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A