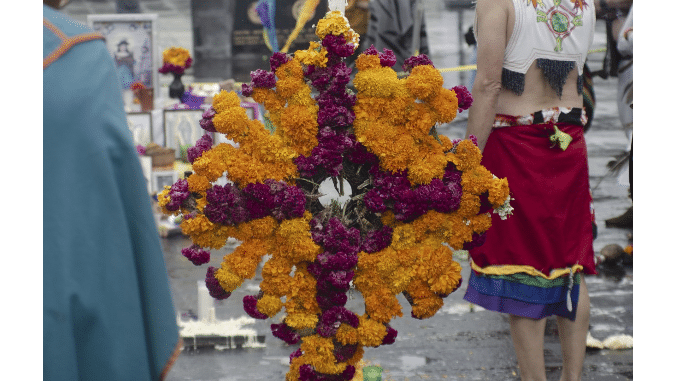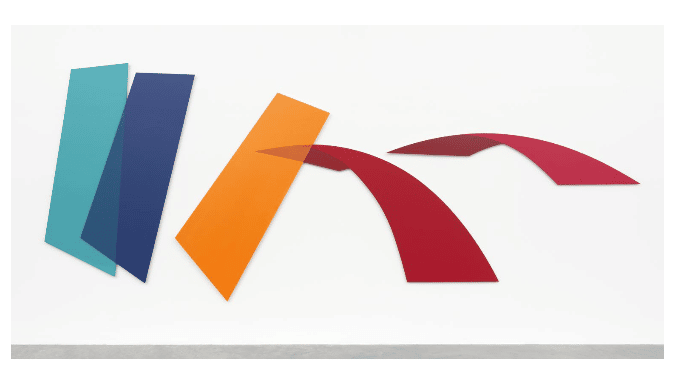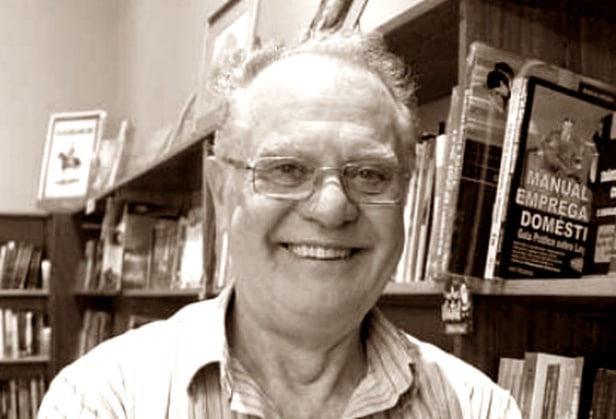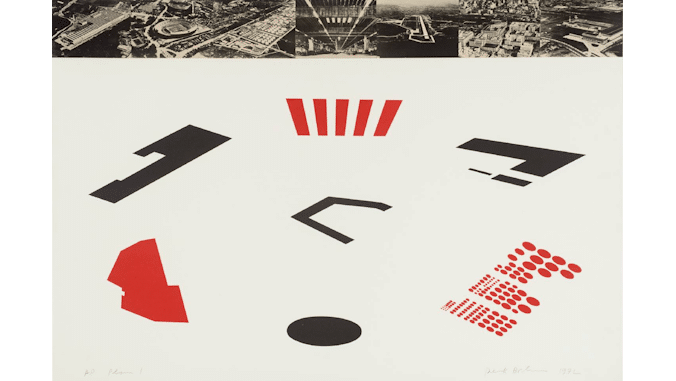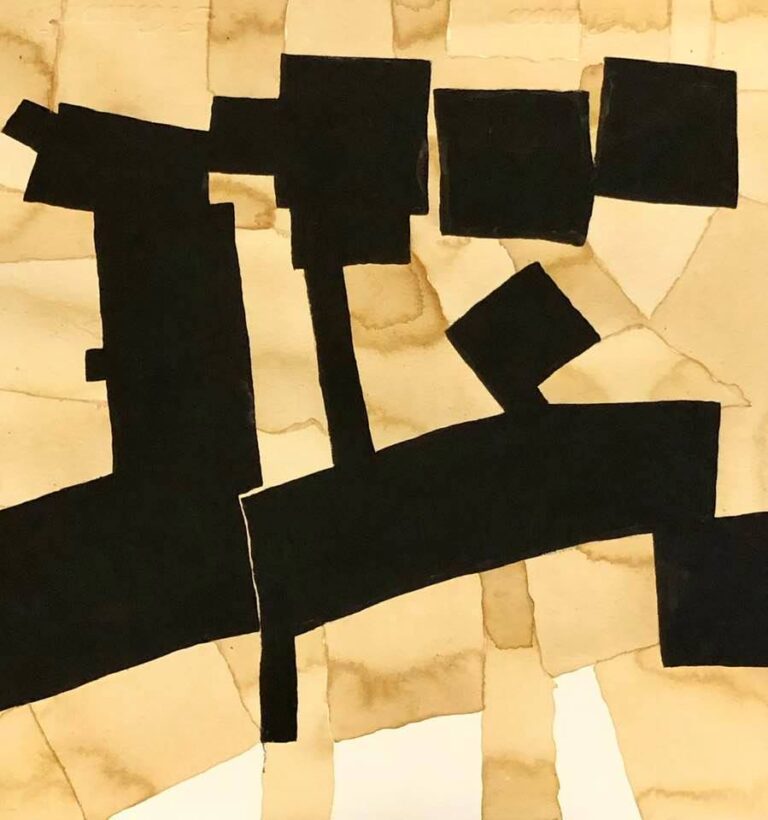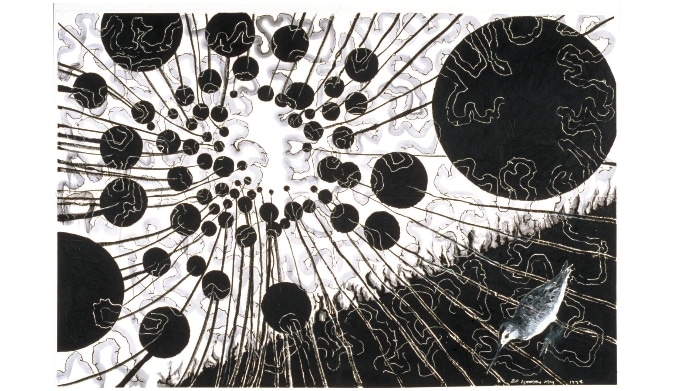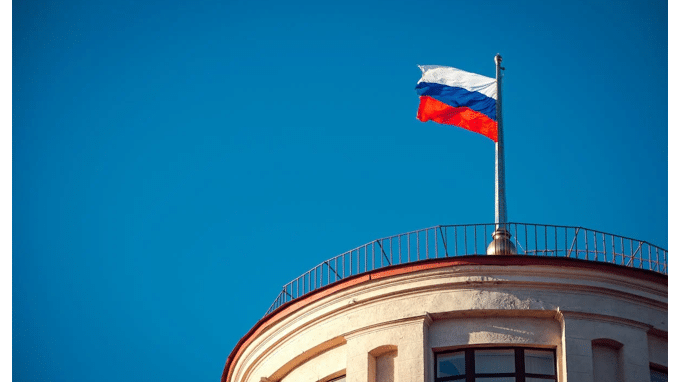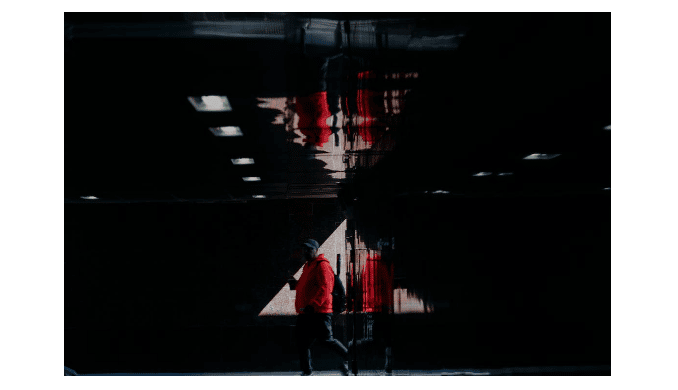Por IVAN DA COSTA MARQUES*
Sujeição e subalternidade da comunidade da pós-graduação brasileira ao Governo
Houve na audiência pública conduzida na Câmara dos Deputados em 18/10/2021, para discussão de uma ação civil pública arguindo a “constitucionalidade da avaliação das atividades de pós-graduação pela CAPES”, questões que podem e devem ser mais bem separadas para o “bem-estar” da cidadania brasileira.
Uma questão diz respeito imediato à área jurídica: a CAPES é acusada de prática inconstitucional nas avaliações dos programas de pós-graduação.
Não me parece que se sustente a noção conspiratória de que esse processo seja uma iniciativa bolsonarista para destruir a CAPES e a pós, até porque esse processo já estava e continua em andamento com sucesso (para os bolsonaristas). A nomeação da atual presidenta da CAPES foi registrada como um verdadeiro acinte à comunidade (mas não acintosa aos representantes da comunidade na CAPES). Infelizmente não chega a surpreender ouvir vozes da comunidade da pós-graduação agora dando sinais de estarem dispostas a ser aliar àpresidenta em “defesa da CAPES”.
Nessa questão legal de constitucionalidade (ou não), a boa cidadania recomenda que a comunidade reconheça que essa questão legal seja decidida no judiciário, com todas as apelações necessárias para levá-la ao STF se assim for. Se for para a comunidade se manifestar, as manifestações deveriam ir além das contingências de maior ou menor adaptação de cada programa ou outros argumentos “consequencialistas” postos em cena, diga-se, pelos privilegiados no sistema. Pergunte-se aos programas 3 e 4 se eles compactuam do refrão “a CAPES somos nós”.
O estudo do Professor Rodrigo Ribeiro, em foco na ação civil pública, concentra-se em um aspecto crucial, que é a constitucionalidade, mas não poderia ser mais do que um pequeno toque na avaliação da CAPES que padece de males muito mais danosos e muito mais difíceis de serem tratados.
Outros males levam à pergunta: como pode ser avaliada a pós-graduação brasileira?
Meu otimismo desmedido (reconheço) e minha esperança visionária (confesso) é que essa judicialização poderia marcar um ponto de inflexão na sujeição e na subalternidade da comunidade da pós-graduação brasileira ao Governo. Essa sujeição e subalternidade estão banalizadas através do “dispositivo” de avaliação da CAPES, entre outros acessórios. Nele está instaurada uma estrutura onde estão representantes de área que, uma vez lá, salvas as exceções, não expõem e discutem suas ideias e valores sobre a pós-graduação brasileira e não mais se sabe o que e a quem representam.
Foucault, para citar um europeu que ousou pensar fora da caixinha, nos disse que os “dispositivos” atendem a certas demandas. No caso do dispositivo de avaliação da CAPES, quais são as demandas atendidas? Vamos discuti-las? Vejamos três exemplos díspares:
(1) Contornar a questão da competição como principal noção ordenadora da avaliação – aqui basta lembrar a tosquíssima comparação da atividade da pós com um campeonato de Fórmula 1! A imagem é tão prejudicial quanto tosca: é prejudicial por reforçar a competição como valor maior para a avaliação do trabalho da pós; é tosca por ignorar os hiatos abismais entre os coletivos de pessoas e coisas envolvidas nas atividades da pós e na Fórmula 1.
(2) Reforçar uma pós-graduação voltada para o exterior – avaliar os programas (quase exclusivamente) pela capacidade de contribuir com artigos para a “fronteira da ciência internacional” é uma distorção (quase imperdoável). Algo que poderia ser uma consideração entre diversas outras tornou-se a única régua para conferir acesso a notas altas na CAPES e aos recursos que delas dependem. A exigência de publicar artigo em inglês em revista do primeiro mundo para concluir o doutorado no Brasil, como é feita por alguns programas nota 7, é uma aberração. Pergunta outro professor “visionário”: … “… como tornar o ciclo de avaliação um ciclo de aprendizado, onde após fechar a avaliação se discute e decide criar regras para o próximo período?
(3) A questão complicada e nunca discutida da importação indiscriminada de conceitos, teorias, problemas, “objetos” e “sujeitos cognoscentes” de pesquisa instaurados nos EUA e na Europa em processos alheios à periferia do Ocidente em que o Brasil se encontra. A comunidade, especialmente na produção das CHSSALLA, já dispõe de reflexões sobre o tema suficientes para dar partida a uma discussão para a intervenção nesta discussão.
Vale ler, por exemplo, o artigo de Fabrício Neves, problematizando a “administração da irrelevância”: Neves, F. M. “A periferização da ciência e os elementos do regime de administração da irrelevância”. In: Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 35, no. 104, 2020 (DOI: 10.1590/3510405/2020).
*Ivan da Costa Marques é professor do Programa de Pós-Graduação de História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia (HCTE) da UFRJ. Autor, entre outros livros, de Brasil e abertura dos mercados (Contraponto).