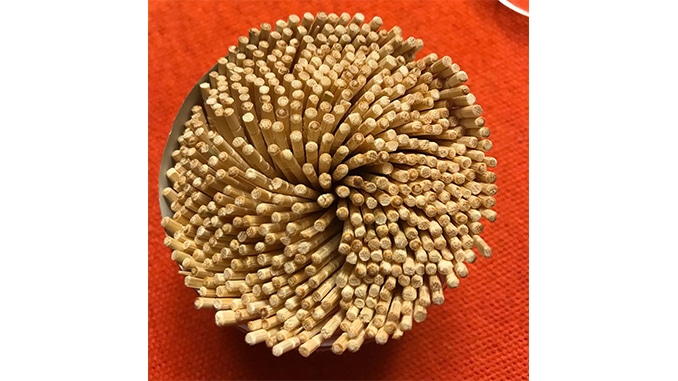Por Luis Felipe Miguel*
Caso o caos social se apresente, com massas desorganizadas de pessoas em desespero saqueando mercados, ele não gerará, como sonham alguns, uma “situação revolucionária”. É bem mais provável que nos conduza a um governo de “lei e ordem”, abertamente autoritário.
A crise provocada pela pandemia mundial do novo Coronavírus pegou a esquerda brasileira em seu pior momento – e expõe, com clareza devastadora, sua debilidade.
Os protagonistas da crise estão todos à direita no espectro político: Bolsonaro, Maia, os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, o ministro da Saúde. Minoritários no parlamento, ausentes dos maiores centros do poder e com a capacidade de mobilização social, que já se mostrava insuficiente, ainda mais reduzida pelas medidas sanitárias de isolamento, o que os partidos e movimentos do campo popular podem fazer?
É fácil pontuar que a crise revela a importância do SUS e do serviço público em geral, destrói as falácias do Estado mínimo, dramatiza a desumanidade de nossa desigualdade social extrema, valoriza o conhecimento científico, discursos próprios da esquerda. É fácil, mas não basta.
É preciso definir um conjunto de propostas específicas para o enfrentamento da crise e uma estratégia para pressionar em favor delas. Não se trata (e essa ficha parece que ainda não caiu para algumas lideranças) de marcar posição para ganhar pontos politicamente no futuro, mas de apresentar propostas que sejam viáveis, mesmo com a atual correlação de forças, e possam minorar o custo humano da pandemia.
Estamos numa situação em que uma parte importante da liderança política conservadora se vê motivada a abandonar convicções prévias e a abraçar ideias mais “progressistas” – o que alguns estão chamando de “keynesianismo de Coronavírus”. Uma bandeira como a adoção de uma renda básica universal e incondicional, por exemplo, para proteger os milhões de desempregados, subempregados e precarizados, ganhou uma viabilidade com que até um mês atrás nem se sonhava.
Além dela, é necessário apresentar propostas concretas e viáveis de financiamento emergencial da saúde pública, para aquisição de testes, respiradores e outros equipamentos e para contratação de pessoal; de proteção ao emprego e ao salário; de apoio ao enorme contingente de micro, pequenas e médias empresas que se virão diante da falência. O desafio, portanto, é duplo: estabelecer uma interlocução com os tomadores de decisão que permita a adoção de medidas que protejam as maiorias mais vulneráveis e mobilizar em favor delas o máximo de pressão possível.
Surge aí um complicador: a presidência de Jair Bolsonaro. Seu comportamento diante da crise é marcado por uma irracionalidade ostensiva. Ele não apenas nega a gravidade da pandemia como pressiona (com algum sucesso) o Ministério da Saúde a retardar medidas de enfrentamento.
Ele próprio se apresenta, pessoalmente, como provável vetor de contaminação. Produz informações falsas, como o vídeo em que anunciou a “cura” para o coronavírus, cujo efeito é criar mais tumulto no sistema de saúde. E mantém firme a política de Paulo Guedes, um fundamentalista mais preocupado em preservar seus dogmas do que em poupar o Brasil da devastação social que se avizinha. Até agora, as medidas emergenciais anunciadas consistem quase inteiramente em antecipação de desembolsos do governo e postergação de recolhimentos, sem efetiva injeção de dinheiro na economia (na contramão do que vem sendo feito em todo mundo), além de cortes nos salários.
A irracionalidade de Bolsonaro, porém, tem método. Ele mantém sua base unida, alimentada por negação da realidade, notícias falsas e teorias conspiratórias. Para isso, pode ser bom negócio colocar em risco a saúde e a vida de centenas de milhares, produzir uma crise diplomática com um parceiro crucial (a China), esticar sempre ao máximo a tensão entre os poderes. Pesquisa divulgada hoje mostra que uma expressiva minoria – 35% dos consultados – aprova suas ações. Sondagens deste tipo sempre devem ser lidas com precaução, mas o dado mostra que Bolsonaro, que ainda conta com o apoio dos líderes inescrupulosos de algumas das maiores seitas cristãs do país, sabe para qual público está falando.
Essa ressonância social torna ainda mais urgente retirá-lo do cargo. Bolsonaro atrapalha o enfrentamento da crise, seja pelo poder que controla, seja pelo exemplo que oferece. Aqui, uma vez mais, a esquerda brasileira mostra dificuldade de orientação.
Uma parte dela, ainda que não o diga em voz alta, pensa que é melhor deixar Bolsonaro no cargo até o fim do mandato, para derrotá-lo com facilidade nas eleições de 2022. Uma aposta irresponsável, de quem não é capaz de aquilatar a dimensão da crise que nos atingiu. Não dá para saber que Brasil restará em 2022 para ser gerido pelo vitorioso nas eleições. Não dá para saber sequer se o pouco que sobra de nossa democracia estará de pé até lá. É a aposta numa incerta alternância de poder para herdar uma terra arrasada.
Outra parte – ou a mesma, talvez – está mais preocupada com suas disputas internas. A reação da direção nacional do PSOL ao pedido de impeachment de Bolsonaro, apresentado pela líder do partido na Câmara, é um bom exemplo disso. A prioridade foi condenar a iniciativa, criticar os parlamentares que se somaram a ela e preservar um “centralismo democrático” que, aliás, nunca vigorou no partido. Em vez de lavar a roupa suja em casa, para não enfraquecer um movimento de oposição ao governo, optou-se por explorar ao máximo a situação para estigmatizar o adversário interno.
A oposição à ideia de impeachment se baseia no risco de conceder a presidência ao general Mourão, num momento em que as circunstâncias podem justificar a adoção de medidas de exceção. É verdade. No entanto, esse risco é um dado da realidade, que não é afastado por um mero ato de vontade. É melhor manter Bolsonaro no governo? Parece claro que não. Então a questão é: há alguma alternativa viável?
Há quem fale que é preciso mudar a correlação de forças antes de falar em impeachment. Só falta dizer como. O primeiro efeito do isolamento social imposto pela crise sanitária é o congelamento da luta política. A mudança na correlação de forças, que não estávamos conseguindo produzir nem quando tínhamos a possibilidade de mobilização, certamente não virá em prazo condizente com a urgência de afastar Bolsonaro do cargo.
E caso o caos social se apresente, com massas desorganizadas de pessoas em desespero saqueando mercados nas periferias das cidades brasileiras, o que é uma possibilidade real, ele não gerará, como sonham alguns, uma “situação revolucionária” – não com uma esquerda que já se provou tão incapaz de liderança. É bem mais provável que nos conduza a um governo de “lei e ordem”, abertamente autoritário.
O impeachment de Bolsonaro significa tirar do cenário um fator de agravamento da crise. Com ele na presidência, a linha divisória inicial é entre sanidade e insanidade – e, nesse caso, estamos muitas vezes constrangidos a permanecer no mesmo campo de Maia, Dória e Witzel. Sem ele, ficam vencidos os temas óbvios (a seriedade da pandemia, a necessidade da ação do Estado) e podemos concentrar o debate nas questões mais importantes: como enfrentar a crise, quem deve ser socorrido prioritariamente, como dividir a conta. Nesse debate, com propostas claras e realistas em defesa dos mais vulneráveis, a esquerda pode obter vitórias importantes.
*Luis Felipe Miguel é professor de Ciência Política na Universidade de Brasília (UnB).