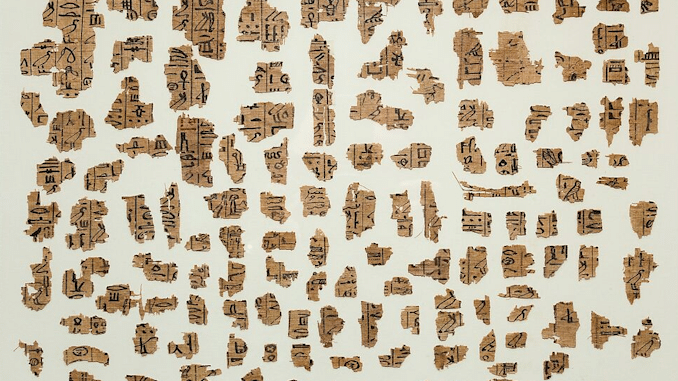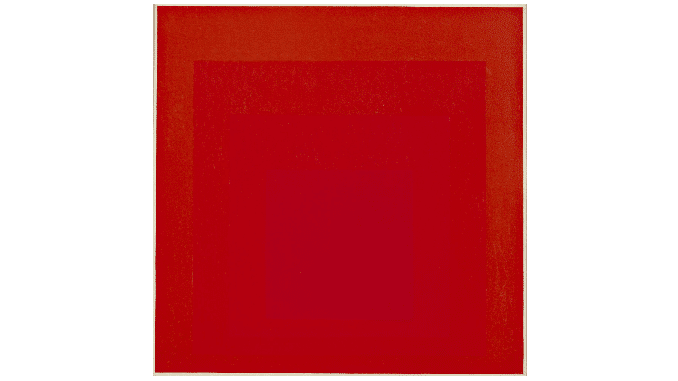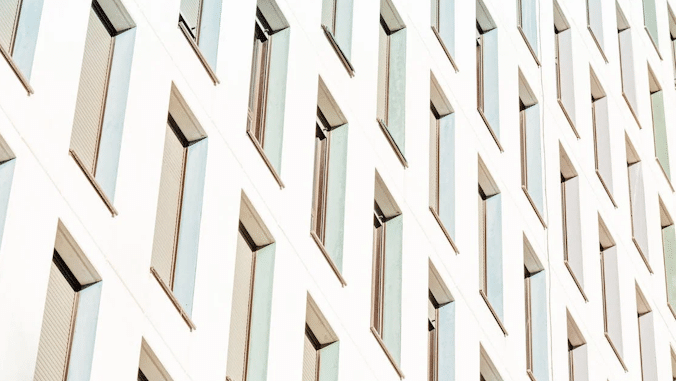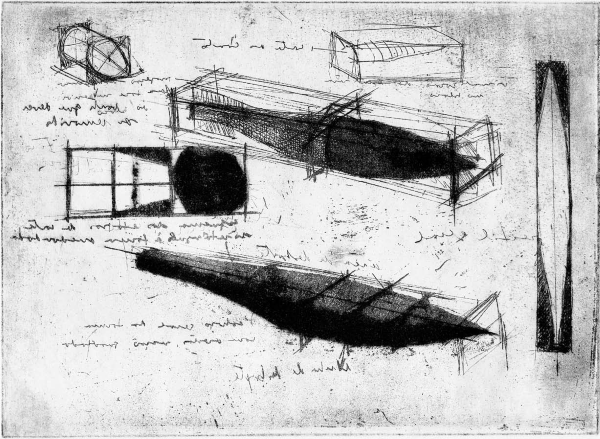Por FERNÃO PESSOA RAMOS*
Considerações sobre o papel do espaçamento de corpos e coisas em cena
Jean Renoir segundo Jacques Rivette segundo Jacques Aumont
O conceito de “mise-en-scène” define, entre outros elementos, o espaçamento de corpos e coisas em cena. Vem do teatro, do final do século XIX/início do XX, e surge com a progressiva valorização da figura do diretor, que passa a planejar de forma global a colocação do drama no espaço cênico. Penetra na crítica de cinema na década de 1950, quando a arte cinematográfica afirma a sua singularidade estilística deixando para trás a influência mais próxima das vanguardas plásticas.
Mise-en-scène no cinema significa enquadramento, gesto, entonação da voz, luz, movimento no espaço. Define-se na figura do sujeito que se oferece à câmera na situação de tomada, interagindo com outrem que, por trás da câmera, lhe lança o olhar e dirige sua ação. Na cena documentária, o conceito de mise-en-scène desloca-se um pouco e pousa, de forma mais solta, na fagulha da ação da circunstância da tomada.
A geração da nouvelle vague francesa, antes de ascender à direção, ainda no exercício da crítica, encontrou na ideia de mise-en-scène um conceito bastante útil para construir seu novo panteão autoral. O termo adquire seu sentido contemporâneo através da geração dos “jovens turcos” hitchcocko-hawksianos e dos cinéfilos chamados macmahonianos. A valorização da mise-en-scène tem, como fundamento composicional, elementos estilísticos que fundam a modernidade no cinema, situando-a nos anos 1950. Modernidade que, ao voltar-se sobre si, descobre elementos especificamente cinematográficos, desenvolvendo ferramentas analíticas para poder ver o cinema que fala.
Fugindo de um recorte mais simplista, é importante lembrar que grandes encenadores do período áureo do teatro no início do século XX (como Vsevolod Meyerhold, Max Reinhardt, Constantin Stanislavski, Edward Gordon Craig, Adolphe Appia) compõem, de muito perto, a tradição da mise-en-scène, depois louvada em diretores como Murnau, Lang, Losey e Preminger. Todo o cinema expressionista tem uma dívida clara com as grandes encenações de Max Reinhardt, do mesmo modo que é difícil pensarmos no construtivismo russo, em particular Eisenstein, sem o trabalho cênico inspirado pelas experiências de Vsevolod Meyerhold.
A encenação no cinema, a grande “mise-en-scène”, sempre dialogou em profundidade com o horizonte da arte da encenação, conforme se desenvolveu na cena teatral. É conhecida a forte influência que alguns metteurs-en-scène europeus tiveram sobre o cinema hollywoodiano nascente. Os olhos da crítica francesa dos anos 1950, buscando a afirmação da arte cinematográfica, voltam-se para os diretores de cinema que foram mais suscetíveis a mise-en-scène teatral européia, como é o caso de Otto Preminger, Max Ophuls ou Fritz Lang.
Mas a adequação a um modelo de mise-en-scène é complexa. A elegia da mise-en-scène no cinema realiza-se através de flancos diversos, e também pelo lado do realismo, como quer, por exemplo, o olhar de André Bazin ao louvar a mise-en-scène de Jean Renoir. O termo “mise-en-scène”, nos anos 1950, descreve o momento em que o cinema se descobre como tal e consegue enxergar em si a camada própria de seu estilo. Trata-se de uma especificidade que não é mais a do “cinema puro”, ou a da estética muda do início do século, e que também não é mais construtivista, futurista ou surrealista. É a forma da primeira vanguarda cinematográfica.
Em texto que consta dos anais das conferências do Colégio de História da Arte Cinematográfica, Le Théatre dans le Cinéma (AUMONT, 1992/93), Jacques Aumont, desenvolve interessante análise da mise-en-scène com corte realista, em artigo que tem o título “Renoir le Patron, Rivette le Passeur”. Aumont parte de uma frase de Jacques Rivette, autor que mantém fortes vínculos com o teatro, de que “todo o grande filme é um filme sobre teatro”. Para Jacques Aumont, existem duas artes que são “tutoras” do cinema: o teatro e a pintura. Introduzir o teatro no cinema significa “tornar sensível uma certa estrutura de espaço, fundada sobre o fechamento e a abertura”. Dentro desta perspectiva, Jacques Aumont irá tentar localizar uma espécie de linha evolutiva, de Jean Renoir a Jacques Rivette, estabelecendo uma relação forte entre os dois campos. Ao aproximar Renoir e Rivette, Jacques Aumont percorre o campo do paradoxo, unindo Renoir, um autor de estilo marcadamente realista e Rivette, que sempre buscou deixar clara sua dívida com a cena teatral.
Jacques Aumont desenvolve uma interessante análise da mise-en-scène no cinema, definindo a tradição da mise-en-scène que vem de Preminger/Reinhardt, como a “herança dramatúrgica centro-européia” em Hollywood, cuja representação típica encontra em Otto Preminger, “de quem os filmes nos anos 1940 e 1950 são remarcáveis pela precisão maníaca dos gestos, pela movimentação dos corpos, pelo ritmo” (AUMONT, 1992/93, p. 229). A tradição da mise-en-scène, que se expande no grande cinema hollywoodiano dos anos 1930 e 1940, herdeira da dramaturgia teatral centro-européia do início do século, “é uma concepção de mise-en-scène como cálculo, como ‘mise-en-place’, como construção de ritmo pela montagem, como marcação de elementos significantes pelo enquadramento” (AUMONT, 1992/93, p. 229). Jacques Aumont conclui dizendo ser essa uma concepção apaixonante da mise-en-scène no cinema, mas vai apontar para uma outra prática da mise-em-scène, marcada pelo realismo, que vê desenvolvida na Europa, em torno do eixo Renoir/Rivette.
Esboça, então, uma linha evolutiva que coloca Renoir como patron e Rivette como passeur (continuador, epígono). Trata-se de abordar a tradição realista no cinema, encontrando espaço para sobre-determinar a presença da encenação teatral no coração do realismo cinematográfico, no qual Renoir sempre ocupou posição de destaque. Jacques Aumont situa as diferenças entre as tradições hollywoodiana e europeia da mise-en-scène em dois elementos: a exploração do espaço cinematográfico e a exploração da interpretação do ator, onde dá destaque ao cinema que vem de Renoir/Rivette.
O espaço dramático na tradição da mise-en-scène teatral centro-europeia, que chega a Hollywood, cuidou de criar um quadro cinematográfico significante para acomodá-la. Segundo os termos de Jacques Aumont “lui faire rendre raison et presque lui faire rendre gorge” (Aumont, 1992/93: 229). Em outras palavras, utilizar o espaço cênico cinematográfico de modo explícito, até extenuá-lo, exaurindo suas potencialidades numa espécie de gramática estrutural da nova mise-en-scène, que amarra o pescoço do espaço cinematográfico para dele extrair os recursos necessários na composição.
A postura do eixo realista da encenação cinematográfica (Renoir/Rivette) é distinta e centra-se no espaço que se encontra dado no mundo da tomada. Um espaço, que, ele mesmo, de modo originário à mise-em-scène, “impõe sua estrutura e quase seu sentido”. A estrutura do mundo, sua constituição em estilo, está lá e cabe à mise-en-scène deixar-se levar pela força da ladeira, pela atração gravitacional de seus núcleos de movimento, ação e expressão, conforme surgem para a câmera.
A definição da diferença entre os dois campos (a mise-en-scène da tradição hollywoodiana centro-europeia que vem do teatro e a mise-en-scène teatral-realista européia que vem da história do cinema) é precisada assim: “a mise-en-scène (para a estilística realista europeia Renoir/Rivette) não consiste mais tanto em dominar a penetração do corpo do ator no espaço, mas seguir linhas de atração sugeridas pelo espaço dramático tal qual ele é” (Aumont, 1992/93, p. 229).
A exploração do espaço dramático na tradição realista é, então, definida por Jacques Aumont como apropriação de uma estilística com corte minimalista, aberta na constelação espacial do mundo que vem bater na tomada, aproveitando-se da disposição de coisas e seres em movimento, que já estão lá. Mas há um outro eixo que devemos percorrer para abordar, em sua definição, a mise-en-scène realista europeia: o da encenação do ator. E é a partir da análise do trabalho do ator que Jacques Aumont trabalha não só o estilo de Renoir, mas a incorporação que dele faz o herdeiro Rivette. Parte da constatação de que, apesar de ser conhecido por “sua arte da profundidade de campo, da mise-en-scène virtuose, do movimento de câmera penetrante e envolvente”, é em relação à direção de atores que se constitui, no ‘patrão’ Renoir, a referência inspiradora.
Na estética realista de Renoir, em sua posição voltada para obter uma ‘verdade’ do mundo colando a mise-en-scène em sua forma de acontecer, é o ator e a construção do desempenho (sua interpretação) que ocupam um momento privilegiado. O ‘sistema Renoir’, na progressão da carreira, torna-se “cada vez menos rigidamente cênico para se concentrar no ator” (Aumont, 1992/93, p. 231): “a herança de Jean Renoir em Jacques Rivette consiste então, muito claramente, em deslocar esta problemática (a da encenação) ainda mais francamente do lado do ator, a fazer do ator a fonte mesma da verdade e da emoção” (Aumont, 1992/93, p. 231). Em outras palavras, fazer do ator a fonte do realismo (verdade e emoção), dentro do qual Renoir locomove-se à vontade e nada em largas braçadas. Um sistema que, em Renoir, é cada vez menos rigidamente cênico para se concentrar no trabalho do ator.
Como Renoir, Rivette segue um método na direção do ator que esboça um plano geral de conduta. Não se trata de uma abertura para a improvisação propriamente (ambos diretores são conhecidos por obrigarem atores a repetirem infinitas vezes a mesma cena), mas que, partindo de um plano de atitudes, de um rascunho de intenções e procedimentos, permite aos atores trazer contribuições diversas para a cena, numa espécie de “invenção coletiva”. Jacques Aumont explica o método: “O mecanismo de filmagem de Rivette é bastante conhecido: trata-se de um jogo sobre um plano de instruções dramáticas (muitas vezes extremamente reduzido: alguns ‘roteiros’ de Rivette, sobretudo antes de sua colaboração com roteiristas e dialoguistas renomados, são remarcáveis por sua extrema brevidade, como o de Out 1 (1971) que tem uma página)” (Aumont, 1992/93, p. 231).
O risco de se trabalhar com este ‘sistema’ é de se chegar ao final e nada obter. Ter em mãos um filme frouxo, com cenas carregadas de falas óbvias passando ao largo da tensão dramática. Se o risco é grande, o ganho da encenação realista está no outro lado da moeda da mise-em-scène. Se perde na precisão maníaca do gesto, na composição, que Jacques Aumont localiza em Preminger, ganha ao lidar com a intensidade do corpo do ator em sua atitude, livre no mundo.
O que está em jogo, para o patrão Renoir e seu discípulo Rivette, é conseguir estabelecer a mise-en-scène realista, sustentando a perna sola da encenação na direção de atores, com procedimentos cada vez mais minimalistas na composição do espaço do mundo. O amarrar final da narrativa interage com o espaço originário através da multiplicação das opções na montagem. Rivette, em longos períodos de reclusão, costuma enfrentar como diretor/montador, a lapidação do movimento, a montagem das tomadas e a articulação do ritmo em narrativa. O ator solto na tomada pelo ‘plano de instruções’ seria lapidado na montagem/edição?
O perigo da direção dar um tiro na água, neste tipo de mise-en-scène realista, é concreto: “o risco que existe é o de que a invenção coletiva fracasse e se revele insuficiente, seja para alimentar o filme, seja para fazer com que se sustente. Mas filmes como Céline e Julie, Le Pont du Nord, Out 1 são amplamente nutridos por esta substância que o ator traz para o personagem e para narrativa, fazendo com Rivette desempenhe totalmente, neste plano, seu papel de discípulo” (Aumont, 1992/93, 231).
O vínculo entre Renoir e Rivette pode ser visto como a passagem do bastão da mise-en-scène realista, afirmando-se em um universo distinto daquele em que se formou a crítica da nouvelle-vague na década de 1950. Jacques Aumont é claro ao definir o campo da passagem: “a herança de Jean Renoir em Jacques Rivette consiste então, muito claramente, em deslocar esta problemática ainda mais incisivamente sobre o ator de modo a fazê-lo a fonte mesma da verdade e da emoção” (Aumont, 1992/93, 231). A diferença da prática do discípulo com a do mestre situa-se também no outro eixo da mise-en-scène, o da exploração do espaço. Jacques Aumont distingue em Renoir uma espécie de traço clássico da cena, baseado na centralidade do espaço teatral. Ela possui em Renoir uma ligação forte como a tradição mais clássica, localizada “no dramático, no narrativo, na perspectiva, no espaço centralizado, enquanto que o cinema (moderno) liga-se cada vez mais a valores opostos a estes, como o lúdico, o jogo de imagens artificiais, o achatamento, o dispersivo” (Aumont, 1992/93, p. 233).
Rivette, homem de seu tempo, rompe com a tradição cênica ainda clássica que respiramos em Renoir, para introduzir uma sensibilidade voltada para a fragmentação da modernidade. A última parte do texto de Jacques Aumont será dedicada a definir a teatralidade moderna em Rivette conforme se constitui, a partir dos eixos ‘espaço cênico’ e ‘interpretação de atores’, dentro de uma mise-en-scène carregada de teatralidade, mergulhada no realismo cinematográfico. Renoir, le patron, serve como quadro na parede e a análise avança nas mediações sutis que sobreposição de herança e ruptura exigem. A dívida do discípulo com o patrão é bem definida em outro trecho: “Renoir é a ilustração por excelência da ideia do ‘cinema como arte dramática’. Mas, em sua obra, a relação com o teatro é natural, quase inocente, jamais percebida como contraditória com a busca do natural, do verdadeiro, do documentário mesmo”. (AUMONT, 1992/93, p 233)
Em Rivette, a teatralidade não é mais inocente, mas distante do teatro clássico e da cena italiana: “ela é apreendida teoricamente, num gesto que começa ao querer prolongar a tradição crítica da qual sai Rivette” (Aumont se refere aqui a estética da mise-en-scène centro-europeia hollywodiana) “que, cada vez mais, vai na contracorrente, no momento em que o grosso do cinema mundial, depois de implosão de Hollywood, se preocupa menos com a dramaticidade pura e simples, e mais em criar imagens” (Aumont, 1992/93, p. 233).
Michel Mourlet e a encenação do corpo fascista
Em outra direção desta mise-en-scène que nos descreve Jacques Aumont, mas atraído, como Renoir, pelo ponto cego da intensidade e imerso na tradição cenográfica hollywoodiana do teatro centro-europeu, estão os escritos do crítico Michel Mourlet. Em particular, destaca-se a súmula de seu pensamento, intitulada Sur un art ignoré, publicada originalmente no Cahiers du Cinéma em agosto de 1959 (nº. 98) e que depois daria o título a uma coletânea com o mesmo nome publicada originalmente em 1965, seguida de outras edições (Mourlet, 1987). Michel Mourlet é figura de liderança no chamado grupo macmahoniano que, nos anos 50/60, reúne-se em torno do cinema Mac-Mahon, situado na avenida do mesmo nome em Paris. O grupo – composto também por Pierre Risient, George Richard, Michel Fabre, Marc Bernard, Jacques Serguine, Jacques Lourcelles – promove o lançamento de diversos filmes na França, essenciais para a formação do panteão moderno da cinefilia. Também editaram uma revista de curta existência, Présence du Cinéma.
Nas obras da nouvelle vague é no primeiro Godard que podemos encontrar repercussões mais fortes do gosto estético dos macmahonianos, seja pela presença física do cinema MacMahon nas filmagens de Acossado, seja na participação de Pierre Rissient como assistente do filme, seja pela aparição do próprio Michel Mourlet. Outro tributo de Godard é a conhecida citação que abre em voz over O desprezo: “Le cinema substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs” (“o cinema transforma nosso olhar em um mundo que se adequa a nossos desejos”). O trecho é corruptela de uma passagem de Sur un art ignoré. Aparece no filme debitado a André Bazin, numa brincadeira intertextual bem ao gosto do cineasta. O artigo de Michel Mourlet, Sur un Art Ignoré, é publicado no Cahiers (no mesmo ano em que O Acossado é filmado) cercado de reservas, marcando talvez a distância com Eric Rohmer que na época dirigia a revista. Além de vir impresso em itálico, o artigo é antecedido por um parágrafo que frisa sua singularidade na linha editorial dos Cahiers.
A ‘mise-en-scène’ é o coração de um filme para Michel Mourlet. Define-a como a “efervescência do mundo” que aparece na forma de cores e luzes na tela. Para Michel Mourlet, a receita de uma boa mise-en-scène é seguinte: “a ‘mise-en-place’ dos atores e objetos, seus deslocamentos no interior do quadro, devem tudo exprimir, como vemos na perfeição suprema dos dois últimos filmes de Fritz Lang, O Tigre de Bengala (1959) e Sepulcro Indiano(1959)” (Mourlet, 1987, p. 42/43). E avançando na definição da mise-en-scène cinematográfica: “A proximidade aguda do corpo do ator transmite os medos e a vontade de sedução, devendo ser promovida pela direção de gestos raros, arte da epiderme e das entonações de voz, um universo carnal – noturno ou ensolarado” (Mourlet, 1987, p. 46).
Universo carnal, portanto, prenhe da vida do corpo na circunstância da tomada, vida que o metteur-en-scène deve saber apreender através do garrote estilístico da mise-en-scène, pela direção de gestos e da voz – expressões básicas do ator. O cinema pode surgir, então, como arte da epiderme, como arte daquela fina película que cobre o mundo de brilho quando pulsa e que a grande mise-en-scène consegue captar. E Michel Mourlet vai encontrar essa grande mise-en-scène na escola centro-europeia, conforme já a descrevemos. A quadra de ases dos macmahnonianos, os quatros cineastas faróis que balizam o gosto estético do grupo são debitários a ela: Preminger, o Lang americano, Joseph Losey e Raoul Walsh. Mourlet ainda encosta mais um na quadra de ases: o italiano Vittorio Cottafavi.
Corpos, gestos, interpretação, olhares, discreta dança do movimento no quadro, compõem a estratégia definida por Michel Mourlet para enxugar a artilharia rebuscada da mise-en-scène teatral e fazer com que caiba no cinema. Michel Mourlet, em sua radicalidade, inaugura um olhar voltado exclusivamente para a apreensão da nova mise-en-scène, vestida na medida da narrativa cinematográfica. É clara a crítica de Michel Mourlet ao maneirismo estilístico, que explora as potencialidades do enquadramento rebuscado: “os ângulos insólitos, os enquadramentos bizarros, os movimentos de aparelho gratuitos, todo o arsenal revelador da impotência deve ser descartado como má literatura.
Poderemos então aceder a esta franqueza, a esta lealdade ao corpo do ator, que é o único segredo da mise-en-scène”. (Mourlet, 1987, p.49). Nesta trilha, a mise-en-scène de Eisenstein e Welles é definida como “uma grande máquina de cartolina e tela”, com “seu modernismo agressivo e sua originalidade gratuita, recobrindo um expressionismo velho de um quarto de século” (Mourlet, 1987, p.50).
O estilo de mise-en-scène definido por Michel Mourlet é frio e ralo, centrado no corpo do ator. O termo que usa para designar a precedência do ator com relação aos outros elementos cênicos é conhecido: “a proeminência do ator” (‘la prééminence de l’acteur’). A encenação, no entanto, evolui em direção diversa da que notamos na exposição do trabalho de Renoir/Rivette. A interpretação, segundo o crítico, deve ser contida, combater a intensidade expressiva e a amplidão gesticular do espaço teatral. Uma frase de Hitchcock sobre atores (“o melhor ator de cinema é aquele que melhor sabe não fazer nada”) é citada com admiração. Uma atriz com trabalho de interpretação carregado, de corte melado, como Giulietta Masina, é ridicularizada e caracterizada como “grotesca”. Michel Mourlet também não caminha na direção de Bresson e sua idéia de atores frios, esgotados pela repetição, até conformar-se o ‘modelo’. Bresson, para Michel Mourlet, não faz o ator respirar. Seus parâmetros parecem ser os de Edward Gordon Craig e a ideia do ator como marionete, mas marionete que seja de carne e saiba olhar sem expandir a visão.
O que Michel Mourlet chama de “lealdade ao corpo do ator” completa, como núcleo da mise-en-scène, a transferência do conceito para o campo cinematográfico. Com efeito, estamos à muita distância dos grandes dispositivos espetaculares montados pelos primeiros metteurs-en-scène do cinema. É por isso que Michel Mourlet pode dizer que “os temas fundamentais da mise-en-scène são ordenados em torno da presença corporal dos atores em um cenário” (Mourlet, 1987, p. 56). A visão de Michel Mourlet aplica-se ao campo do cinema de ficção, onde a abertura aos procedimentos de estilo é bem mais ampla.
Enfatizando a dimensão da presença do corpo do ator na tomada, explorando sua abertura para a formatação da câmera, Michel Mourlet define um estilo para a mise-en-scène cinematográfica. A partir deste núcleo, nomeia quais são os principais elementos da mise-en-scène para si, todos fazendo parte da cena do mundo transfigurado pela tomada. São eles: “a luz, o espaço, o tempo, a presença insistente dos objetos, os brilhos do suor, a espessura de uma cabeleira, a elegância de um gesto, o abismo de um olhar” (Mourlet, 1987, p. 55/56).
Ao mostrar sensibilidade para a intensidade da presença do mundo na tela, Michel Mourlet desfavorece a crítica que centra sua análise em roteiros e no próprio conteúdo dos filmes. Roteiro é quase nada para avaliar um filme e sua articulação passa ao largo da visão de metteur-en-scène de Michel Mourlet: “crer que basta a um cineasta escrever seu roteiro e seus diálogos, se orientar segundo temas definidos e repetir ações de seus personagens, para se tornar um ‘autor de filmes’, é um erro de base que faz a falsa autoridade de críticos atolados na literatura e cegos às potencialidades da tela” (Mourlet, 1987, p.54).
Se ‘mise-en-scène’ não é escritura, também o campo da montagem é visto com certo desprezo. O estilo de montagem, para o tipo de mise-en-scène defendida por Michel Mourlet, precisa evitar relevo expressivo. A montagem deve ser transparente. Não pode “enfrentar as leis da atenção”, mas deve levar o espectador “diante do espetáculo, diante do mundo, o mais próximo do mundo, graças à docilidade, a maleabilidade de um olhar ao qual o espectador adere até esquecê-lo”. (Mourlet, 1987, p. 49). O perfil clássico da decupagem é evidente, assim como sua distância para a montagem de corte construtivista. O olhar que a montagem carrega deve, assim, ser “clássico ao extremo, em outras palavras, exato, motivado, equilibrado, de uma transparência perfeita, através da qual a expressão nua encontra sua maior intensidade”. (Mourlet, 1987, p. 49)
É a busca desta “expressão nua” que, contraditoriamente, acaba por carregar Michel Mourlet para uma sensibilidade estética na qual podemos encontrar a elegia de uma vontade de poder, com claros contornos nietzschianos, no que esta sensibilidade teve de mais perigoso (e podemos lembrar aqui a Susan Sontag de Fascinante fascismo) (SONTAG, 1986). O arco do percurso segue o que definimos atrás como a “proeminência do ator”. A proeminência da direção do ator é vista com uma espécie de hino à glória dos corpos, pois é ao corpo do ator que Michel Mourlet refere-se. O cinema é definido como um “hino à glória dos corpos que deve reconhecer o erotismo como seu destino supremo” (Mourlet, 1987, p. 52).
A definição é interessante: “em função de sua dupla condição de arte e olhar sobre a carne, (o cinema) está destinado ao erotismo como reconciliação do homem com sua carne” (Mourlet, 1987, p.52). Carne e mundo, ou a carne do mundo, são conceitos essencialmente fenomenológicos, mostrando a sintonia de Michel Mourlet com traços do pensamento de André Bazin e seu pertencimento atravessado no contexto ideológico do pós-guerra francês. São conceitos chaves para Michel Mourlet construir sua noção de mise-en-scène, fazendo abrir a carne do mundo sobre a estilística cinematográfica. Uma estilística fria, clássica, garroteada pela amarração da cena, mas pedindo para o mundo vir bater nela, com a potência de sua intensidade e, principalmente, com a altivez e a violência precisa do que chama ‘gesto eficaz’. É o ‘gesto eficaz’ que serve de chave para a valoração dos elementos mais finos do âmago da estilística macmahoniana em termos de cenários, deslocamento em cena, olhar, voz, corpos e objetos.
À visão de um mundo-câmera conformado para a potência crua do corpo do ator, aponta a sensibilidade de Michel Mourlet para o poder e o domínio, definido pela palavra “glória”, ou, “hino à glória dos corpos”. A mise-en-scène como ‘hino à glória dos corpos’ é composta pela elegia de momentos extremos do corpo do ator, quando aberto para o mundo na tomada. Aparece numa visão da imagem-intensa que, por sinais claramente ao inverso, encontra-se com a sensibilidade baziniana deslocada em suas demandas éticas que cercam a instauração do realismo cinematográfico. Em Michel Mourlet o tom é claramente anti-humanista, atingindo tonalidades nietzschianas no que elas exaltam a beleza da força com relação à fraqueza, a vontade de poder que domina pela afirmação da vontade, e o desprezo à lógica cristã da compaixão e culpa do senhor na humildade do escravo.
Em Michel Mourlet, portanto, a sensibilidade para a gesticulação precisa do ator, encontra o fascínio da forma precisa na expressão da vontade de domínio por esse mesmo corpo. Significa também olhar e fruir um tipo de ação e reação do corpo à beira da morte. Resulta numa abertura para a estetização da guerra e não deixa dúvidas sobre a possibilidade da fruição espectatorial neste limite. No artigo “Apologie de la violence” (Mourlet, 1987), Michel Mourlet analisa a violência na imagem cinematográfica tendo modelo na manifestação de um corpo específico no enquadramento da tomada, o de Charlton Heston, dirigido por Cecil B. De Mille. A violência é vista como uma “descompressão” resultante da tensão entre homem e mundo. Michel Mourlet centra sua análise da ‘mise-en-scène’ enfatizando a possibilidade do cinema apreender tensão pela dimensão da tomada.
O cinema é único em seu modo de mostrar a intensidade, momento onde o “abcesso” da “descompressão” explode. Por isso (como já havia notado André Bazin, ao chamar o cinema de obsceno), o cinema é tão próximo do erotismo: erotismo sexual ou da violência. A violência é o ponto extremo da experiência do homem no mundo, e o cinema está em situação privilegiada para representá-la. O que as outras artes só podem sugerir ou simular, o cinema, através da câmera, “encarna no universo dos corpos e objetos”.
A ‘mise-en-scène’, nesse momento, é definida por Mourlet, “em sua essência mais pura”, como “exercício de violência, de conquista e de orgulho” (Mourlet, 1987, p. 61). Ou ainda “sendo exaltação do ator, a mise-en-scène encontrará na violência uma constante ocasião de beleza” (Mourlet, 1987, p. 61). Ou, ainda mais explícito, faz a elegia da encenação da intensidade que tem no horizonte a morte, aproximando-se sem receio de uma estética fascista (embora não esgote a mise-en-scène que propõe). O âmago do específico cinematográfico, a representação contida da expressão vibrante da vida corporal, evolui em Michel Mourlet de modo arrogante até o prazer como domínio sobre o corpo de outrem.
Prazer apreendido em sua transcendência crua na tomada, flexibilizada então como em estilo de mise-en-scène: “Exercício da violência, da conquista e do orgulho, a mise-en-scène na sua essência mais pura tende ao que alguns chamam de ‘fascismo’, na medida em que esta palavra, numa confusão sem dúvida significativa, recobre uma concepção nietzschiana da moral sincera, oposta a consciência dos idealistas, dos fariseus e dos escravos. Recusar esta busca de uma ordem natural, este prazer do gesto preciso e eficaz, este brilho do olhar após a vitória, é ficar condenado e nada entender de uma arte (o cinema) que se resume à procura da felicidade pelo drama do corpo” (Mourlet, 1987, p. 61).
Seria interessante analisar como a experiência inicialmente fria da intensidade da tomada, sintetizada na estética da mise-en-scène defendida por Michel Mourlet, pôde caminhar para o lado da exaltação com cores fascistas, adquirindo tons que nos lembram entusiasmos nietzscheanos, ainda que não no modo que o pensamento pós-estrutural recupera o filósofo. A definição da mise-en-scène como ‘drama do corpo’, como ‘arte do gesto exato’, abre espaço para colocar sua concepção de mise-en-scène no âmbito da crítica que pensou o cinema respirando no espaço da tomada, ou no espaço do mundo em recuo recortado pelo viés fenomenológico.
Seria igualmente útil compará-la a outros autores (como Vivien Sobchack ou André Bazin, para não falarmos, em recorte diverso, de Stanley Cavell) também sensíveis as potencialidades da intensidade da vida na imagem-câmera cinematográfica, mas que souberam explorá-las em trilhas bem diversas.
*Fernão Pessoa Ramos, sociólogo, é professor titular do Instituto de Artes da UNICAMP. Autor, entre outros livros, de A imagem-câmera (Papirus).
Referências
Aumont, Jacques. Renoir le Patron, Rivette le Passeur. In: Le Théâtre dans le Cinema – Conferences Du Collége d’Histoire de l’Art Cinématographique nº. 3. Inverno 1992/93. Paris. Cinemathèque Française/Musée du Cinema.
Mourlet, Michel. Sur um art ignoré – la mise-em-scène comme langage. Paris, Ramsay, 1987.
SONTAG, Susan. “Fascinante Fascismo”. In: Sob o signo de Saturno. Porto Alegre, LP&M, 1986.
⇒O site A Terra é redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.⇐
Clique aqui e veja como.