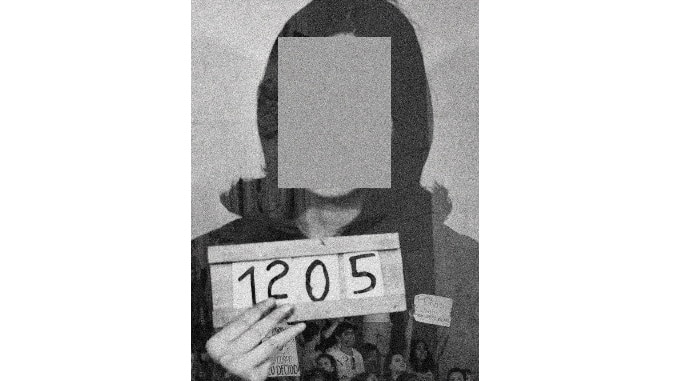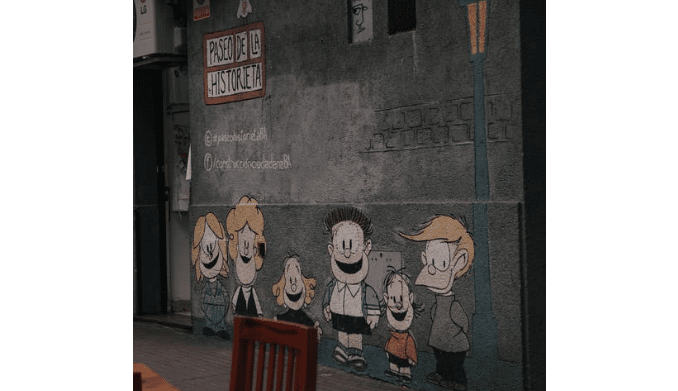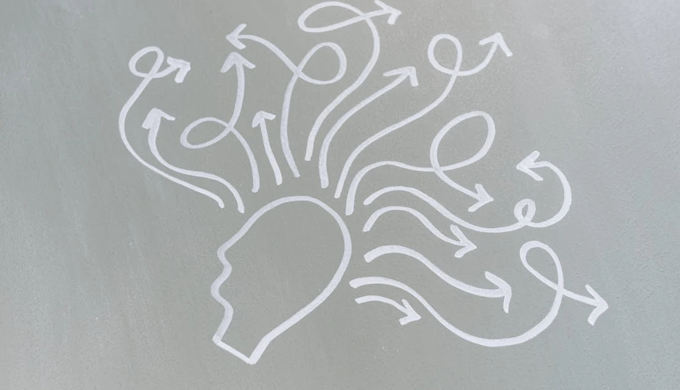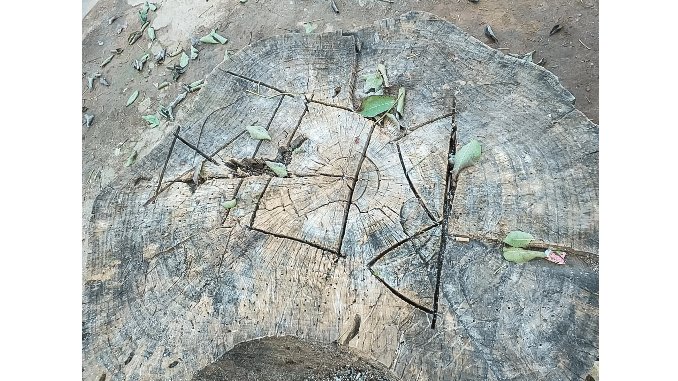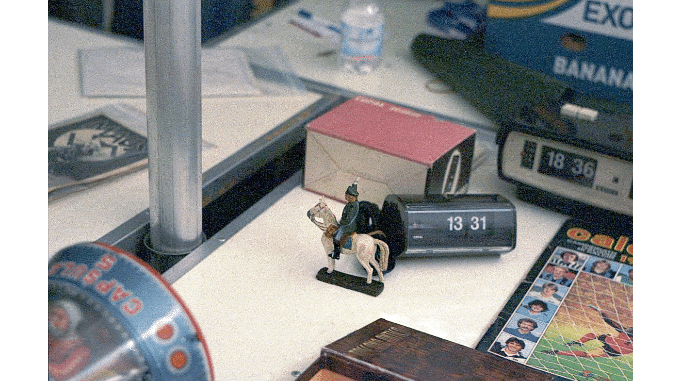Por RICARDO EVANDRO S. MARTINS*
É preciso pensar numa noção outra de direito e de justiça, a qual rompa com a tradição golpista que constituiu a história republicana brasileira
Walter Benjamin e Carl Schmitt
Em um dos volumes de seu projeto investigativo que completará 30 anos, especificamente no volume sobre a suspensão do direito, o Iustitium: estado de exceção (2003), o filósofo italiano Giorgio Agamben defende uma tese paradigmática: a de que o famoso livro Teologia política (1922), do jurista alemão Carl Schmitt, foi uma resposta ao também famoso ensaio Para uma crítica da violência (1921), do filósofo judeu-alemão Walter Benjamin.
Segundo Giorgio Agamben, a resposta de Schmitt ao Benjamin foi uma tentativa de trazer para dentro do campo da teoria do direito, do mundo jurídico e de suas normas, a ideia benjaminiana da possibilidade de existir uma violência pura, desamarrada do direito, uma violência irruptiva, que geraria anomia e que seria capaz de depor a ordem jurídica instituída.
No texto de Walter Benjamin, há uma distinção entre a violência que depõe o direito e a violência que o mantem. A violência que depõe é, segundo o filósofo judeu-alemão, a pura, sem linguagem, sem normas. É a violência anômica, como pode ser a ação revolucionária, por exemplo. E, por isto mesmo, conforme interpreta Giorgio Agamben, tal violência pode ser confundida com um outro ato: o golpe de Estado.
É interessante notar como pode haver uma aparente ambiguidade entre estas duas situações de fato: revolução e golpe. Estes dois acontecimentos políticos podem parecer semelhantes devido as suas características não-jurídicos e pretensamente disruptivas sobre a estrutura jurídica. Em tese, golpe e revolução seriam atos do mundo dos fatos, os quais, no entanto, atentam contra os limites do mundo normativo do direito, das normas jurídicas constituídas. E, talvez, não à toa, a mencionada aparente semelhança entre as violências destes atos sustentou a ideologia da propaganda da última ditadura civil-militar brasileira, quando chamava o Golpe de 1964 de “Revolução de 1964”.
Esse tema não é simples, especialmente quando retomamos o ensaio de Walter Benjamin, Para uma crítica da violência (1921). Pois deste texto benjaminiano é possível encontrar entre “golpe” e “revolução” diferenças necessárias de serem feitas. Para Walter Benjamin, há distinção entre três tipos de poder: (i) o poder capaz de “constituir” uma ordem jurídica (poder constituinte), aquele que valida uma Constituição nacional; (ii) o poder capaz de “manter” tal ordem jurídica (poder constituído), aquele que reforma as leis dentro de uma ordem constitucional; e (iii) o poder capaz de “depor” a ordem constituída, o poder que para Benjamin, numa leitura possível de seu texto, poderia ser o próprio ato revolucionário.
Na revolução a violência é pura, também chamada de “violência divina”. É uma força sem linguagem, sem intermediações normativas, e que faria uma irrupção radical no tempo e no estado de coisas, opondo-se à “violência mítica”, própria do poder constituído, responsável por manter a ordem jurídica constituída. Ao menos segundo tenta mostrar Agamben, foi por causa destas diferenças feitas por Walter Benjamin que Carl Schmitt publica o seu Teologia política (1922).
Segundo o filósofo italiano, Carl Schmitt estava preocupado com essa violência pura, “divina”, porque ela seria incapaz de ser traduzida pela linguagem jurídica ou mesmo por qualquer linguagem humana. Schmitt tentou, então, inserir no léxico da linguagem jurídica um tema tão disruptivo como é o ato revolucionário. Mas o objetivo de Carl Schmitt não era o de simplesmente reduzir as possibilidades de se pensar os poderes fundantes do direito à dualidade poder constituinte/poder constituído – isto é, entre a constituição de uma ordem normativa e sua capacidade autorreformadora pelo Poder Legislativo.
Schmitt não poderia aceitar um tipo de poder que irrompesse com essa dualidade. Schmitt tinha, contra Benjamin, uma teoria reacionária, antirrevolucionária. Ele queria trazer à linguagem jurídica comum a força da violência revolucionária, mas para fazer dela uma outra coisa: o estado de exceção, o qual não irá “depor” o direito, a sua ordem jurídica constituída, mas somente “suspendê-lo”, a fim de garantir uma certa ordem social – ou, como no caso da ditadura civil-militar brasileira de 1964, garantir a “segurança nacional” – e o retorno de sua aplicabilidade.
Contra Benjamin, Schmitt jamais poderia aceitar a defesa de algum ato fático-político que se apresentasse por demais irracional para a lógica humana, para a linguagem da teoria do direito. Conforme defende Agamben, o objetivo de Schmitt era o de se teorizar a possibilidade de um poder, nem constituinte, nem constituído, tampouco um poder de deposição, como faria o ato revolucionário, mas um poder de suspensão do direito, um que criasse um estado de exceção ao direito regular. Schmitt estava preocupado em teorizar sobre um poder que fosse capaz de suspender a ordem jurídica constituída com a sua “violência soberana”. A violência que, vale lembrar, revela o soberano: aquele capaz, segundo a famosa frase de Schmitt em Teologia política (1922), de decidir pelo estado de exceção.
A partir de Agamben, podemos dizer, então, que Schmitt fez esse esforço teórico com um objetivo: neutralizar a violência revolucionária ou a violência daquilo que se considera como crise política ou institucional, inserindo uma situação de fato na situação de direito. Com isto, Schmitt teoriza o seguinte raciocínio: o decreto do estado de exceção captura o “perigo” iminente da desordem social dos movimentos revolucionários, ou, então, de uma eventual desordem pública causada por calamidade ou por crise institucional – ou ao menos do que se propaga como “perigo iminente”, seja ele “real” ou não –, por meio de um dispositivo jurídico previsto no própria Constituição, com o poder de suspender o próprio sistema jurídico. E a finalidade disso tem como justificativa – com intenções genuínas ou não – a de se reestabelecer tal ordem social, de se reorganizar, em tese, a paz social no mundo dos fatos políticos, para que, assim, a ordem jurídica pudesse retornar de sua suspensão e retomar a vigência normal.
Nesse texto, não tenho como desenvolver de modo melhor a necessária distinção entre as violências revolucionária, que depõe, e a violência do estado de exceção, que suspende o direito, isto é, não tenho como desenvolver mais a fundo a diferença entre revolução e golpe. Mas, por enquanto, posso dizer que talvez o estado de exceção seja um quarto tipo de poder ou ao menos um artifício outro do poder constituído, na tentativa obstinada de se fazer a manutenção da ordem jurídica, nem que seja pela sua paradoxal suspensão.
O estado de exceção é neste sentido “estranho” como também o é o ato revolucionário, mas não porque sua violência seja sem linguagem, e sim porque sua violência faz algo paradoxal e limítrofe política e linguisticamente. O estado de exceção declarado por um golpe de estado realiza a paradoxal situação de se fazer desta exceção a própria regra (Benjamin), gerando efeitos permanentes, mesmo que a ordem social tenha se normalizado, mesmo que o “perigo iminente” seja uma fraude criada pela propaganda da extrema direita – como a clássica ameaça do “fantasma do comunismo”.
Talvez seja mais interessante responder às questões da problemática acerca da natureza, do fundamento e do modo de operação da linguagem que tem um poder de, como um “milagre” (Kierkeergard), exceder à normalidade das regras que regulam os corpos políticos. No Brasil, diante das últimas notícias do indiciamento de militares, policiais civis, políticos e até do ex-Presidente da República Jair Bolsonaro, sob a suspeita de tentativa de golpe de estado – fatos precedidos pelo caso da chamada “minuta do golpe de estado”, encontrada na casa do ex-Ministro da Justiça Anderson Torres – pergunto, então: Qual milagre, qual magia oculta operaria nesta intervenção fática e de aparente juridicidade sobre a ordem jurídica por meio do estado de exceção? Que experiência é esta com o poder e sua violência, capaz de irromper a ordem constituída? Que poder “místico” é este, capaz de, por um ato violento de “golpe civil-militar”, suspender a constitucionalidade democrática, e ainda se apresentar como válido, afetando o mundo concreto por meio de uma forma jurídica pretensiosamente legítima? Enfim, que força é esta que atravessa a linguagem, atinge a política e nossas vidas diante da Lei?
A mística do golpe
O tema do estado de exceção traz um léxico teológico para a discussão política: violência divina, violência mítica e milagre. E se não bastasse o próprio paradoxo inerente à ideia do poder de se suspender o próprio direito via decreto, o estado de exceção traz, nele mesmo, muitos outros conceitos antitéticos, paradoxais, limítrofes, os quais desafiam a lógica, o discurso, os procedimentos, a nossa própria linguagem ordinária.
Todo o esforço neokantiano de Hans Kelsen, com a sua Teoria pura do direito (1934), de desenvolver uma ciência jurídica, a qual pressupõe a divisão insuperável entre, de um lado, o mundo dos fatos, do ser, das coisas, da política, da história, e, de outro lado, o mundo do direito, das normas jurídicas, dos valores, do dever-ser, da normatividade, acaba por ser desafiado pela ideia de um dispositivo jurídico que tem como objetivo justamente o de regular o estado de necessidade da realidade social e política, a saber: o estado de exceção.
Muito de antes de Kelsen, Santo Agostinho já havia alertada sobre a problemática em torno da tensão dos mundos dos fatos e do direito por meio da máxima de que “não se legisla sobre a necessidade”. Em outras palavras, o Doutor da Igreja havia alertado para o fato de que ao estado de necessidade não cabe a aplicação de uma regra jurídica, uma vez que a calamidade – como a pobreza, o estado de perigo ou, então, o perigo contra a ordem pública, como a ameaça revolucionária etc. – abre uma exceção às regras. Agostinho levantava a questão, enfim, de como há um abismo lógico entre o estado de coisas no mundo dos fatos e a linguagem legisladora, normativa.
E foi para tentar lidar com esse abismo que Schmitt teorizou a “exceção soberana” concretizada pela decisão de se instaurar o estado de exceção por via constitucional – seja por “estado de sítio” ou por “estado de defesa”, conforme os termos usados na Constituição brasileira de 1988. Basta que se lembre da passagem no Teologia política (1922) de Carl Schmitt, em que um dos objetivos de se decidir pelo estado de exceção é o de se criar uma situação fática, na qual as normas jurídicas possam ser aplicadas de novo, isto é, tornarem-se novamente eficazes, quando ocorrer uma situação em que se coloque em risco a ordem jurídica vigente.
E, nessa mesma tentativa de se lidar com o abismo entre mundo do direito e o chamado mundo real, dos fatos, é que mais um paradoxo do estado de exceção pode ser encontrado. Trata-se do modo como o estado de exceção suspende as normas jurídicas e sua aplicabilidade regular, para, ao mesmo tempo, tentar conseguir efetivar sua aplicabilidade no mundo chamado de “real”, dos fatos. Há uma produção, com isto, de uma zona de indistinção entre ordem jurídica e anomia – a ausência de normas –, para que, contraditoriamente, esta mesma anomia possa ser capturada pela normatização do estado de exceção e, uma vez reestabelecida a ordem real, a “paz social” ou a “segurança nacional”, a ordem jurídica normal poderia, em tese, retornar. Isto é o que Agamben, no seu Iustitium: estado de exceção (2003), diz: “O estado de exceção separa, pois, a norma de sua aplicação para tornar possível a aplicação. Introduz no direito uma zona de anomia para tornar possível a normatização efetiva do real.”.
Mas há uma outra dimensão mais fundamental ainda neste “abismo lógico” entre mundo do direito e o chamado mundo real. Uma dimensão anterior à separação entre o ser e o dever-ser, faticidade e normatividade, necessidade e legalidade: a separação entre as coisas e a linguagem. E é neste intervalo divisor que encontramos aquilo que chamei de “mística” do golpe de estado.
Na primeira parte do seu discurso de abertura do colóquio organizado por Durcilla Cornell, na Cardozo Law School, em 1989, texto organizado na edição brasileira sob o título Força de lei (1989), Jacques Derrida defende que aquilo que fundamenta o direito e a justiça não é outra coisa senão um “golpe de força” de caráter “místico”. Para o filósofo francês: “a operação de fundar, inaugurar, justificar o direito, fazer a lei, consistiria num golpe de força, numa violência performativa e portanto interpretativa que, nela mesma, não é nem justa nem injusta, e que nenhuma justiça, nenhum direito prévio e anteriormente fundador, nenhuma fundação preexistente, por definição, poderia nem garantir nem contradizer ou invalidar”.
Para Jacques Derrida, é místico aquilo que fundamenta o direito porque se trata de uma performance, de um ato performativo, cuja fala não apenas diz ou declara em abstrato, mas também realiza algo. Ele não é mencionado, mas Derrida está se referindo à noção desenvolvida pelo filósofo analítico J. L. Ausitn, quando falava sobre como o dizer também poder ser um fazer, enquanto “performance”. Nesse sentido, o “golpe de força” que fundamenta o direito, portanto, não se trata de uma constituição linguística abstrata, meramente localizada no mundo fictício dos símbolos, entre sintaxe e semântica, mas é algo do mundo das coisas, dos usos, na dimensão pragmática da linguagem.
Mas isto não explica o sentido da “mística” que oculta a performance própria ao “golpe de força” que declara e faz, num mesmo gesto, o direito e seus decretos. Pois a nós não é acessível o fundamento fundador do direito. Como disse Derrida, tal “golpe de força” não possui um fundamento prévio no horizonte dos significados de justiça ou de direito. De acordo com o filósofo francês, no seu Força de lei (1989): “O discurso encontra ali seu limite: nele mesmo, em seu próprio poder performativo. É o que proponho aqui chamar, deslocando um pouco e generalizando a estrutura, o místico. Há um silêncio murado na estrutura violenta do ato fundador.”. Essa ideia de que há um misticismo sobre o que fundamenta o fundamento do direito e de seus atos jurídicos já estava em Pascal e, antes dele, em Montaigne. E Derrida encontra neles “(…) as premissas de uma filosofia crítica moderna, ou uma crítica da ideologia jurídica, uma dessedimentação das superestruturas do direito que ocultam e refletem, ao mesmo tempo, os interesses econômicos e políticos das forças dominantes da sociedade”.
O que Pascal e Montaigne ajudam nos estudos críticos do direito, deste modo, é revelar que é a força aquilo que fundamenta o direito e nossas noções de justiça. De modo mais simples, para Derrida, Pascal e Montaigne nos revelaram, muitos antes da Teoria crítica, que o direito se fundamenta nele mesmo, no seu próprio “golpe de força”, o qual performa um fazer-dizer sem fundamento transcendente, e, por isto, incapaz de ser avaliado como justo ou injusto, legal ou legal.
E este é o sentido de estado de exceção, como o que foi rabiscado pelo ex-ministro da Justiça Anderson Torres, com a sua “minuta do decreto de golpe” encontrada em sua própria casa, neste ano de 2024: produzir um estado de coisas em que uma força instituidora do direito se realiza numa performance contraditória e mística; ela é “contraditória” porque produz um ato jurídico ilegal, de puro potencial eficaz, mas sem validade; e é “mística” porque oculta, uma vez mais, aquilo que fundamenta a força fundadora do direito.
É isso o que Agamben chamou, então, pelo sintagma de “força-de-Lei”, escrito deste modo, com um X, ou um traço, sobre a palavra “Lei”. Segundo o filósofo italiano, no seu Iustitium: estado de exceção (2003): “o estado de exceção é um espaço anômico onde o que está em jogo é uma força de lei sem lei (…) é certamente algo como um elemento místico, ou melhor, uma fictio por meio da qual o direito busca se atribuir sua própria anomia”.
Muito importante é notar o porquê dessa sobrescrita na palavra “Lei”. Por que simplesmente não se falaria apenas de “força”? Por que a “Lei” continua no sintagma, com um risco em cima, fazendo “força-de-Lei”? Talvez, queira-se mostrar exatamente isto: que a força não vem sem o direito; a performance desta força se faz quando ela é dita-feita, suspendendo as normas jurídicas, mas, ao mesmo tempo, num mesmo gesto, num mesmo ato performativo, quando o estado de exceção é declarado, o direito nunca sai totalmente do seu horizonte de sentido e de efetivação, ainda que ele seja inconstitucional, nulo, inválido, injusto e injurídico.
O sintagma da “força-de-Lei”, que representa o decreto do estado de exceção e de seus atos excepcionais derivados, possui o termo “Lei” riscado para garantir o paradoxo da exceção soberana: o direito é suspenso, mas algo pretensamente jurídico é aplicado no seu lugar. E, no seu sentido inverso também a “força-de-Lei” pode ocorrer: o direito pode estar válido, atos jurídicos não são suspensos, mas acabam por, do ponto de vista prático, ser suspensos pela perda de vigência, da sua eficácia. O estado de exceção revela, então, ao menos, seu próprio caráter paradoxal: o direito pode ser válido, sem vigência, ou pode ser vigente, sem validade. Por isso, a “força” não resta nunca sozinha, mas, do mesmo modo, também a Lei não é totalmente anulada, suspensa. A Lei se apresenta, pelo menos como a ficção que ela mesma o é – segundo dizia o próprio Kelsen, no seu póstumo Teoria geral das normas (1979).
Assim, num paradoxo sem solução, o estado de exceção se fundamenta numa “força-de-Lei”, e seu decreto de golpe revela seu sintagma contraditório. O direito se aplica, desaplicando-se, e se desaplica, aplicando-se. O estado de exceção é seu estado máximo de coisas: um conjunto de atos ilegais, mas de aparência jurídica, e um conjunto de atos legais, mas sem cumprimento sistemático, isto é, sem vigência, por falta de eficácia estrutural, intencionalmente forjada.
E a “minuta do decreto de golpe” encontrada na residência do ex-ministro da Justiça do Governo de Jair Messias Bolsonaro, caso tivesse entrado em vigor, e caso o golpe de estado supostamente planejado pelo esquadrão especial do Exército brasileiro, os chamados “kids pretos”, tivesse tido êxito, tendo assassinado o atual Presidente Lula, seu vice, bem como o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, teria-se, então, um exemplo perfeito de “força-de-Lei”: um ato inconstitucional, e, portanto, inválido, mas que se aplicaria como se jurídico o fosse, dando continuidade aos tantos atos omissivos do governo de Bolsonaro durante a pandemia e que também se revelaram na sua exceção permanente, como quando seu dever de garantir a dignidade humana dos Yanomami foi violado por omissão.
Como se vê, os limites da nossa linguagem lógica são atentados aqui. Por isto, caso se queira entender a natureza desta força e de seu golpe, fundante do direito, é preciso jogar com as palavras de modo que elas possam se aproximar, o tanto quanto for possível, desta experiência linguístico-político-jurídica limítrofe, como o faz, por exemplo, o sintagma “força-de-Lei”, na tentativa de se expressar os paradoxos do estado de exceção e de seus atos comissivos e omissivos pretensamente jurídicos.
No estado de exceção, causa e efeito se misturam e ato e potência ficam insuperavelmente separados – ao mesmo tempo que se apresentam de alguma maneira em conjunto, em paradoxo insolúvel. Eis o místico da autoridade jurídica: um direito que nasce de algo não jurídico e que traz consigo a potencialidade de sua irrealização, da in-atuação efetiva do direito; contendo consigo seu abismo, sua falta de fundamento, esta an-arché inerente e regente do “golpe de força” do poder da Lei sobre o mundo dos fatos, constituindo um ato de fala que operaria, ao mesmo tempo, entre o mundo fático e o mundo jurídico, entre o mundo do ser e mundo do dever-ser, entre o mundo coisas como são e o mundo normativo.
Porém, ainda sim, nada é revelado na sua totalidade para nós. O que se mostra é, em paradoxo, o que está ocultado. O misticismo inerente ao direito se apresenta a nossa linguagem ordinária na forma de vazio, de nada, de anomia, ou ainda, na forma inefável. Sobre isto, sem dar maiores explicações, no seu Força de lei (1989) Derrida diz que: “puxaria pois o uso da palavra ‘místico’ a um sentido que me arrisco a dizer wittgensteiniano”.
Ciente que ainda não consigo responder com melhor clareza à problemática a qual me propus, sigo para o encerramento desta minha fala, lembrando, então de Ludwig Wittgenstein, no seu Tractatus Logico-Philosophicus (1921), aludido pelo texto de Derrida. Talvez, a mística do golpe de estado possa, ao menos, ser algo que podemos enxergar porque “se mostra”, ainda que não consigamos dizê-la, pois, como disse Wittgenstein, na proposição n. 6.522: “Há por certo o inefável. Isso se mostra, é o Místico.”.
Resta, então, tentar ainda entender o sentido de “místico” e os usos possíveis da linguagem jurídica que não se limitassem ao seu léxico próprio, ou ao seu jogo, fundado no poder violento do estado de exceção. E isto talvez pudesse ser um modo de se resistir ao silêncio imposto pelo caráter oculto da violência fundadora do direito, para que, quem sabe, já com um uso mais criativo da linguagem jurídico-política, desde um outro “jogo de linguagem” – lembrando agora, aqui, de um Wittgenstein tardio e que influenciou Austin –, um jogo outro que não o do direito permeado de dinâmicas judicativas, predicativas e punitivistas, abrindo-se, com isto, vias para uma outra noção de “violência” e de “golpe de força” fundadora do direito.
Talvez se pudesse pensar numa noção de “violência jurídica” já distante da repressão, a qual estamos acostumados pelos efeitos do estado de exceção permanente em que todos virtualmente vivemos e sofremos – uns menos, muito menos, e outros mais, absurdamente mais –, e sem decreto de golpe, nem minuta, nem ação golpista de alguma elite do Exército. Quem sabe se pudesse pensar numa outra noção de força jurídica, num outro uso do direito, e por meio de uma noção nova e melhor de justiça, com seus meios, mas sem fins; uma que revele o vazio inerente ao poder e ao direito, mas sem falsificá-lo com um substituto precário, autoritário e impopular. Enfim, pensar numa noção outra de direito e de justiça, a qual rompa com a tradição golpista que constituiu, por exemplo, a história republicana brasileira, fundada por um golpe militar e erguida, e ainda regida, sobre o que resta de sua história de colonização e de império escravocratas no país.
*Ricardo Evandro S. Martins é professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará (UFPA).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA