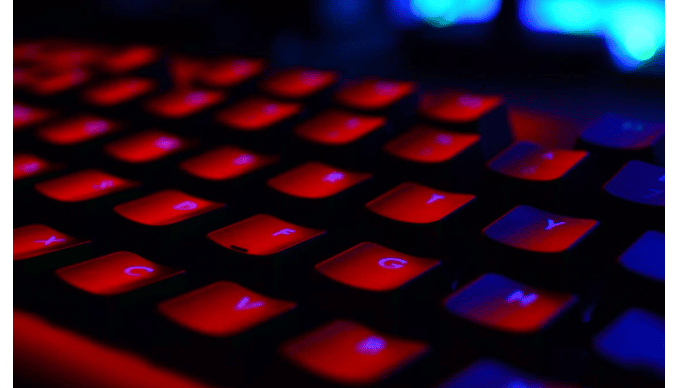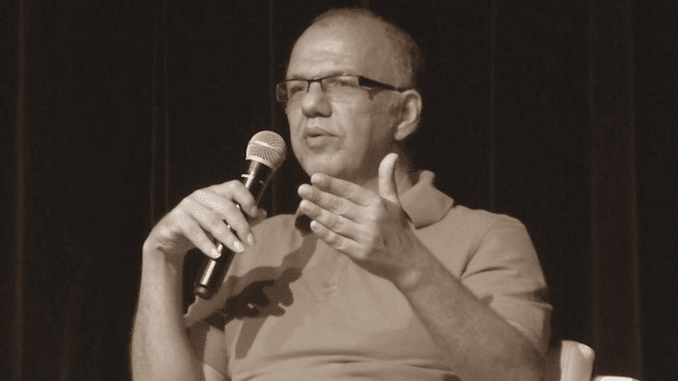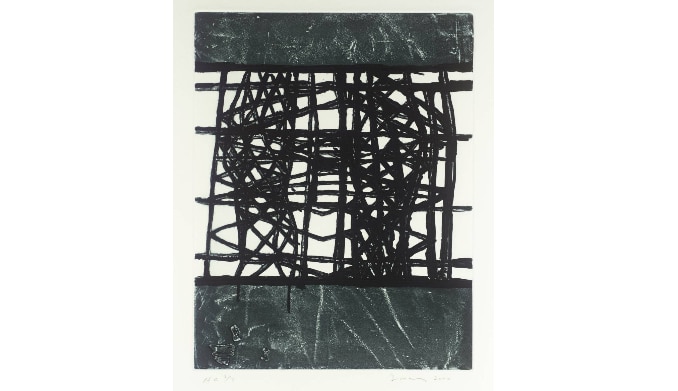Por HUGO DIONÍSIO*
Ataques “kalibrados” contra o neocolonialismo
Pouco tempo depois da resposta iraniana ao ataque sionista, que destruiu o seu consulado na Síria, vitimando mortalmente o comandante sênior Mohammad Reza Zahedi, eis que é a própria Casa Branca, e Joe Biden, a puxar as rédeas de Benjamin Netanyahu e transmitir ao mundo que a ação foi devidamente “calibrada”. Isto, depois das autoridades sionistas cuspirem fogo, ameaçando com apocalípticas consequências, contra o renascido potentado persa.
Esta “calibragem” no discurso de Washington é a consequência óbvia do que se havia passado antes da retaliação iraniana; nas 48 horas que a antecederam foram vários os estafetas europeus a pedirem “contenção” ao Irã, alertando para as consequências gravosas que essa falta de “contenção” poderia despoletar. Os sinais de preocupação eram tão evidentes quanto o tinham sido, até aí, o branqueamento e legitimação, da ação provocadora de Israel, face aos seus vizinhos da região.
Quem não esteve, contudo, com meias medidas foi Ursula von der Leyen. Em mais um show de hipocrisia de proporções bíblicas, esta senhora veio ameaçar com a única resposta que conhece: pacotes de sanções contra o Irã, por ter desenvolvido um “ataque não provocado”. Também Emmanuel Macron não poderia ficar para trás e veio dizer que é preciso continuar a “isolar o Irã” com as sanções do costume.
Se algo há a retirar deste comportamento é mesmo este fato: Úrsula Von Der Leyen e os Macrons deste mundo vive numa realidade que já não existe, na qual o ocidente “racial, moral e intelectualmente superior” tinha a legitimidade para punir, perseguir, invadir, ameaçar e destruir todos os que se lhe opunham. Mas se, na sua odiosa cegueira, ainda não o constataram, não se pode dizer o mesmo de quem neles manda. O mundo mudou e está em processo de acelerada transformação.
A impunidade acabou quando a Federação Russa disse não aceitar a ultrapassagem da linha vermelha que havia imposto e que determinava a neutralidade da Ucrânia; o mundo mudou quando Irã, Hezbollah, Huthis e Hamas declararam não aceitar mais os abusos sionistas, contras as suas populações e dos seus aliados; o mundo mudou quando a China não desistiu da Rússia e Irã, demonstrando que o mundo multipolar estava para ficar. Para destruir um, terão de destruir os três. Todos interligados por alargadas parcerias estratégicas.
Consequentemente, a resposta do Irã tratou de sinalizar que o país está preparado para dar uma resposta decisiva, no que considera constituir uma escalada de abusos crescentes, por parte do sionismo e seus apoiadores, e que não continuará a tolerar o desrespeito genocida, por parte da entidade sionista que controla e se confunde com Israel.
Este comportamento por parte do Irã, antes impensável e intolerável pela “comunidade internacional”, encontra agora um espaço de legitimidade absolutamente revelador de como mudou o mundo, nestes anos de crescimento da multipolaridade. Nem as sanções têm já o mesmo peso, tendo o Irã – tal como a Rússia, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, Nicarágua –aprendido a ser autosuficiente, transformando a agressão em força de oposição; nem o ocidente domina já o sul global com a força que estava acostumado a fazê-lo; nem os EUA, e o seu espaço vital, constituem ainda aquela potência militar de que todos tinham medo.
Hoje, potências como o Irã podem dar-se ao luxo de aumentar a parada e encurralar o arrogante ocidente. O mais interessante é que, do ponto de vista estratégico, os EUA haviam apostado numa profusão de provocações múltiplas, cada vez mais alargadas e que visavam escaladas militares localizadas, as quais tinham como função conter a expansão dos países que constituem os pilares centrais desta libertação do sul global: Rússia, China e Irã.
Resultando na expansão continuada do mundo multipolar, do desenvolvimento do “sul global”, que mais não é do que a “maioria global”; acompanhada da perda, pelo ocidente, de posições estratégicas que ditam o acesso às reservas estratégicas de mão de obra da Ásia e África; às reservas de commodities na Rússia, Médio Oriente, América Latina e África; ou, à capacidade industrial instalada da Ásia; a “tríplice entente” multipolar que dirige o processo anti-imperialista, através dos seus ataques “calibrados”, está provocar uma corrosão progressiva da entidade imperialista, anunciando-se, algures no tempo, o seu colapso.
E este constitui o grande mérito destes três países e dos seus aliados, a África do Sul, mais convicta, a Índia e o Brasil, mais periclitantes, a que se juntaram agora outros cinco países, e que, em breve, se juntarão muitos outros, entre os quais o próprio Vietnã, o qual já oficializou a sua intenção de aderir aos BRICS. Estes países têm tido a paciência, a sabedoria e a competência para agir de forma tão concertada quanto possível, mas também de forma tão desconcentrada quanto necessário, sem se deixarem enredar em insanáveis contradições internas que os exponham à máquina de destruir nações que são os EUA. Deste modo, a expansão desconcentrada coloca problemas extremamente difíceis de ultrapassar, a quem pretende destruir este processo de expansão, que é também um processo de libertação do neocolonialismo.
Não se pode dizer, contudo, que estamos num momento histórico totalmente original. Com efeito, é bom recordarmos as palavras de Zbigniew Brzezinsky, ao Nouvelle Observateur, em 1998, aquando, numa entrevista, este reconheceu que, não só os EUA, conscientemente, haviam contribuído para a invasão do Afeganistão, pela URSS, como se regozijou – como gostam de fazer os arrogantes supremacistas –, pelo fato de, mesmo com um milhão de mortos, ter valido a pena o apoio aos Mujahidine (Talibãs), o qual sabiam, antecipadamente, ser visto por Moscou, como algo de intolerável nas suas fronteiras e que não deixaria de provocar uma guerra.
Num processo com semelhanças ao que se passou na Ucrânia – formação de uma elite dirigente profundamente anti-russa (ou anti-URSS) praticante de uma ideologia odiosa e extremista –, o mais importante que Zbigniew Brzezinsky disse, contudo, foi que os EUA, estando ideologicamente na defensiva, com a agenda dos direitos humanos foi possível virar a maré e colocar a URSS na defensiva. Hoje, a ideia de um mundo multipolar recolocou o Sul Global, como um todo, numa posição ideológica ofensiva e, ao mesmo tempo, os EUA voltaram a encontrar-se na defensiva. E desta feita, bem que podem vir com a agenda dos direitos humanos outra vez, que já ninguém acredita neles.
Deste posicionamento podemos retirar um ensinamento valioso para os nossos dias: por muito agressivos, arrogantes e beligerantes que pareçam, os EUA – incluindo Israel – foram novamente colocados numa posição defensiva. Tudo o que fazem, acontece como resposta a uma realidade em que o mundo multipolar se continua a expandir e o ocidente “alargado” a contrair. Por muitos “alargamentos” que a OTAN possa propagandear, o espaço vital dos monopólios ocidentais, que constituem as raízes do imperialismo, tem vindo progressivamente a diminuir. Este é um fato indesmentível e só um endividamento brutal da Casa Branca faz como que a economia dos EUA continue, artificialmente, a crescer e com ela, a alimentar o processo de “contenção” do crescimento do mundo multipolar.
O que é impossível de esconder é que o problema dos EUA, desta feita, é mais complicado. Não será tão fácil passar “à ofensiva” como o foi com a URSS. Embora a URSS constituísse um desafio formidável e que a elite dirigente, em Washington, logo identificou como sendo algo de vida ou de morte, o fato de a potência soviética ser, à data, o único pilar em que assentava o desafio, facilitava as coisas. Era muito fácil partir o mundo em dois e diabolizar a outra parte. Ao contrário de hoje, a URSS não se podia suportar na China.
Já o desafio que é imposto através da China, Rússia e Irã, secundados pela Índia, África do Sul, Brasil e muito outros, é muito mais complexo e deslocalizado. Em primeiro lugar, não se trata de um bloco monolítico com uma mesma ideologia. Tratam-se de países com sistemas de governança muito diferentes, desde os mais liberais, como Brasil e África do Sul, aos socialistas como a China ou os nacionais desenvolvimentistas como a Rússia, ou mesmo o Irã, associando-lhe ainda a sua dimensão teocrática e democrática.
Do ponto de vista da propaganda, isto coloca muitas dificuldades, daí que, nos últimos meses tenhamos assistido a um crescente desenvolver de uma linha de propaganda, segundo a qual a China tem interesse na vitória de Donald Trump – ele que a quer destruir – e que é a extrema direita europeia quem apoia a China e é por esta apoiada. É uma espécie de “Rússiagate”, desta feita em versão chinesa. Enfiar uma mesma carapuça a todos e diabolizá-los, não tem sido nada fácil.
Acresce que, estes países, cada um da sua forma – o Irã menos – estão conectados com as cadeias de valor ocidentais, o que impede uma ação decisiva e brutal, independente de consequências. Veja-se o que aconteceu com as sanções à Rússia, agora pense-se no que aconteceria se essa agressão se desse contra a economia chinesa.
É esta a essência da “multipolaridade”, a que outros chamam “multiplexidade”, que consiste na sua enorme capilaridade, como cogumelos que se multiplicam por todo o mundo, cada um com a sua morfologia, mas todos com a mesma natureza, tornando-se virtualmente impossível de conter o seu crescimento. Como os EUA aprenderam com a Rússia, não basta atacar um, é preciso fazê-lo a todos, mas, a todos, é impossível, como estarão, agora, a perceber. Esta diversidade é absolutamente desafiadora para a lógica totalitária e unicista estado-unidense, que se via a dominar um mundo uniforme.
Se há coisa que o ocidente monopolista não entende é como unir coisas que são diferentes, como aceitar as diferenças alheias, como criar uma força comum entre diferentes, unidos apenas por um sentimento, a liberdade. Para unir, o imperialismo estado-unidense sente uma necessidade imperiosa de uniformizar, desrespeitando e destruindo culturas, tradições, crenças e ideologias, com o sentido de impor a sua.
Estes países multipolares, alicerçados num Estado interventor (algo de comum a todos e que rejeita a proposta ocidental do estado mínimo neoliberal, substituído pelos monopólios), que controla os sectores estratégicos da economia e apostados na soberania econômica, tornam o controle de suas economias muito complicado. Não admira que uma das linhas de ataque dos EUA à China seja a necessidade de abolição dos “controles de capital”. É que a história da “liberalização” é vantajosa para quem tem mais poder de aquisição. Nós sabemos quem tem mais dinheiro acumulado, fruto de 500 anos de pilhagem e escravatura.
A verdade é que os EUA, olhando para esta realidade, perceberam que a estratégia de Brezinsky teria de ser adaptada à realidade atual, nomeadamente, deveria ser desconcentrada ou capilar, devendo optar-se por provocações deslocalizadas, aproveitando a dispersão de bases militares por todo o mundo. À Rússia, seria a Ucrânia, Geórgia, Moldávia, Armênia, secundados de perto pela OTAN; à China seria Taiwan, Coreia do Sul, Tailândia, Filipinas, Japão e a escorregadia Índia; ao Irã, Israel.
As provocações deslocalizadas, através de proxys muito bem armados, colocam um problema, problema esse agora demonstrado pela retaliação Iraniana. A manta é curta, para um ocidente que não tem a capacidade industrial de outrora, deslocalizada por culpa exclusiva sua, através de uma impopular política de destruição de postos de trabalho, ao serviço dos monopólios. E isto acontece num quadro de contração financeira, econômica e social. Até do ponto de vista do financiamento destas operações, o ocidente acaba preso às suas contradições: ao contrário dos Estados, os monopólios não investem no bem comum, apenas na concentração da riqueza. Tirar do Estado para dar aos monopólios acabou no que estamos a ver.
Alicerçados em complexos militares industriais em que as principais empresas são públicas e, mesmo quando privadas, obrigadas a concorrer com as públicas, o Irã, China e Rússia, produzem muito barato o que ao ocidente sai caríssimo (a defesa aérea do Iron Dome, na noite da retaliação iraniana, gastou em torno de um bilhão de dólares). Esta realidade possibilita uma resposta “calibrada” de valor relativamente baixo. Em comparação, quem mais gasta com estas operações, é quem tem as economias a cair; quem menos gasta, é quem tem as economias a crescer. Uma vez mais, uma consequência do estado mínimo neoliberal, saído do consenso de Washington.
Daí que o grande desafio que se coloca ao mundo multipolar será o de continuar a apostar em respostas suficientemente “calibradas”, para coloquem em sentido o agressor, sem entrar numa escalada de vida ou de morte, mas mantendo o agressor ocupado, corroendo-se cada vez mais, e cuja atividade o leva a acreditar que está a avançar, quando, na verdade, se está a retrair. A Rússia fê-lo magistralmente com a Operação Militar Especial e a China também o está a fazer do ponto de vista não militar.
Daí que, ouvir Ursula von der Leyen com a sua proverbial arrogância, ameaçar o Irã com ineficazes sanções, ouvir Donald Trump e o seu MAGA, Rishi Sunak a querer falar grosso e Emmanuel Macron armado em Napoleão, ao mesmo tempo que dizem “o mundo está com a Ucrânia”, “a Rússia está isolada”, “vamos conter a China” ou “o Irã atacou Israel”, demonstre isso mesmo: os servidores de monopólios andam entretidos a jogar aos soldadinhos de chumbo sem constatarem que o fazem num tabuleiro cada vez mais pequeno.
Consiga o mundo multipolar continuar a proferir os seus ataques “calibrados”, seja sob que forma forem tais ataques (uns mais militarizados, outros mais comerciais e tecnológicos) e teremos por garantido que serão capazes de completar a tarefa, antes iniciada por outros: acabar com o neocolonialismo que amordaça, ainda, o sul global.
*Hugo Dionísio é advogado, analista geopolítico, pesquisador do Gabinete de Estudos da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN).
Publicado originalmente no blog do autor.
A Terra é Redonda existe graças
aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA