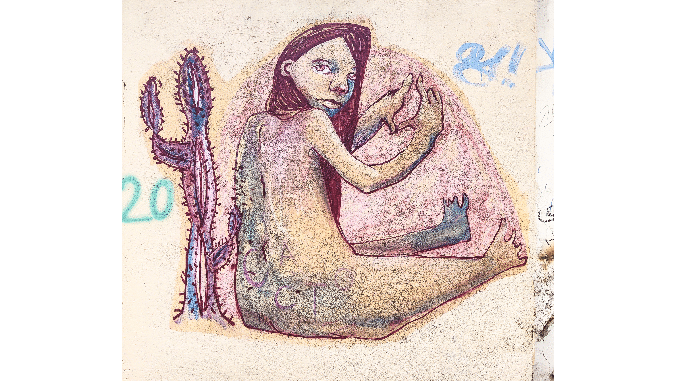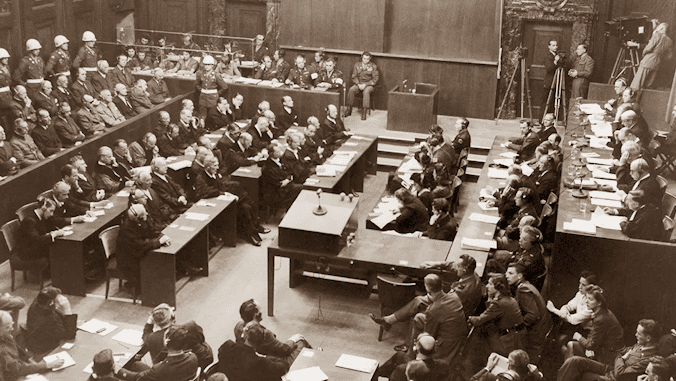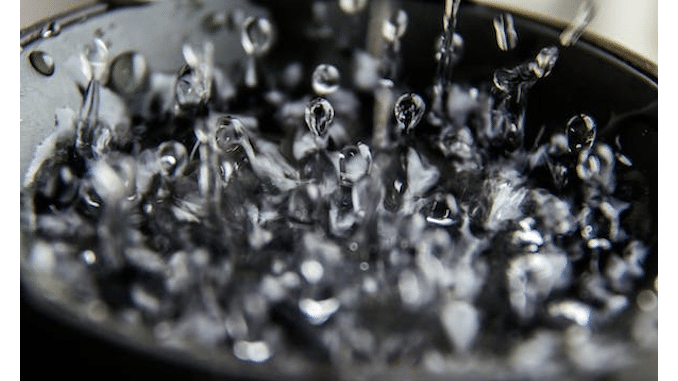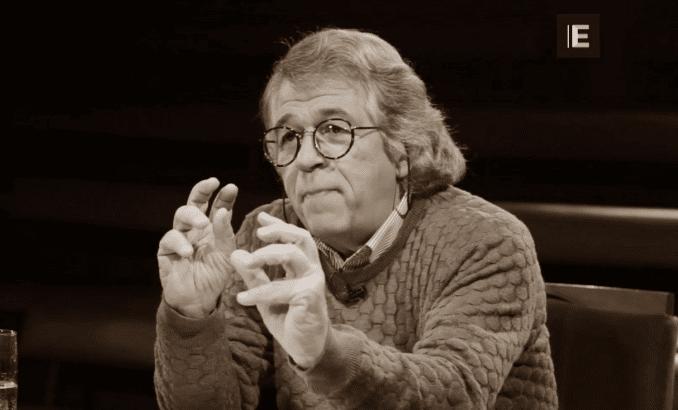Por TADEU VALADARES*
Apontamentos sobre política externa, antes e depois do golpe de 2016.
De certa forma, minha fala é a complementação do apresentado pelo professor Luís Filipe Miguel. Naquela oportunidade, o professor analisou a situação interna que passamos a viver desde o primeiro capítulo do golpe, livro ainda em aberto, narrativa ainda não concluída. Enquanto a palestra anterior naturalmente se concentrou na dimensão interna, agora me cabe apresentar o que chamei de apontamentos sobre a política externa, antes e depois do golpe.
Recordo que o professor esclareceu o ponto básico a partir do qual nos orientamos: a certeza bem fundada de que o golpe é golpe, não criação fantasmagórica de um imaginário de esquerda desligado do real. Golpe político-midiático efetivamente ocorreu. Golpe de estilo novo, golpe diferente dos pronunciamentos latino-americanos clássicos. Golpe que não empregou as forças armadas, que não instalou uma ditadura militar tampouco um governo fantoche civil, à Bordaberry. Golpe que foi entusiasticamente apoiado pelas grandes confederações empresariais e por grandes partidos políticos. Também por outros, menores. Golpe que contou com a simpatia e o apoio de grande parte da alta burocracia, bem como da Justiça amplamente entendida, essa que abarca bem mais do que o Ministério. Golpe de amargo estilo novo, diria Petrarca. Golpe antecedido pelos desfechados em Honduras e no Paraguai.
Dito isso, gostaria de explicitar minha perspectiva, que não é de acadêmico, sim de um embaixador aposentado, de alguém que talvez de certa maneira encarne uma figura antiga, a do simples cidadão, posto que não pertenço a qualquer partido político, nem milito em movimentos sociais. Pretendo inicialmente expor algumas ideias que talvez nos permitam melhor entrelaçar a situação interna à cena internacional. Mas desde já sublinho algo para mim teórica e estrategicamente importante: não são dois planos estanques, o interno e o externo. São apenas recursos úteis para elaborar uma tentativa de análise.
Separar o “aqui dentro” do “lá fora” carrega em si mesmo algo de ilusório. Mas algo que, sendo em boa medida ilusório, é também instrumento heurístico que se faz necessário, até mesmo imprescindível, se queremos ordenar nossas ideias a respeito do que em última instância chamamos de “o real da política”, tanto interna quanto externa. Afinal, como se falar de política internacional sem ter presente esse corte metodológico entre o interno e o externo? No fundo, para mim, é como se esses dois planos funcionassem como um só jogo de tensões, compromissos, contradições, conflitos e convergências, continuidades e rupturas. Quem sabe essa perspectiva seja capaz, ainda que precariamente, de indicar a trama das relações de poder em permanente fluxo tanto no plano interno quanto no externo.
Por onde começar?
Optei pelo que considero a moldura mais ampla do “lado externo”, que não é tão externo assim, a globalização que se manifesta com força desde ao menos a década de 1970. Quando nos encontramos imersos numa crise de gigantescas proporções, creio importante buscar na conjuntura, na dinâmica estrutural e no presente como história elementos que nos permitam decidir nossa posição como cidadãos e cidadãs, e também como país, vis-à-vis a globalização. Para mim, nesse registro estratégico, o crucial é – ainda que pensando em termos polares, termos sempre arriscados, sempre muito precários – cada um de nós considerar com a melhor base factual e histórica possível se a globalização é destino inevitável, vale dizer, armação inescapável, sistema rigidamente fechado.
Ou se, alternativamente, algo que, ao menos sob o nome gerado na história recente, permite ou ainda permite a todos nós, como cidadãos e cidadãs de um Estado não hegemônico, e como integrantes de uma sociedade golpeada e crescentemente dilacerada, evitar a simples e subserviente adaptação passiva do país a uma ordem que nos é em geral apresentada como equivalente à imposta pelas leis de Deus ou da Natureza. Nesse contexto, ou seja, na busca do entendimento do que aí está, da gênese e estruturação do capitalismo do qual a globalização é o avatar mais recente, talvez a metáfora mais trágica do que afinal é a constituição de um sistema de alcance mundial seja a cunhada por Max Weber em seu estudo sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo.
Para Weber, o sistema que nos permeia a todos resulta do encontro, realizado sob o signo das afinidades eletivas, entre certa ética – a do ascetismo protestante que se realiza no mundo, não no recolhimento do claustro – e um determinado espírito de cálculo, marca distintiva do capitalismo. Desse encontro resulta salto qualitativo em termos de desencantamento do mundo. Desse encontro surge a nova figuração dominante na história, específico modo de produção econômica, de articulação contraditória de classes sociais e de tanto mais que nos perpassa no cultural, no ideológico, no social, no existencial.
De recordar: quando o espírito de cálculo afinal se instala materialmente na história, ou seja, terminada a fase de sua instauração, o capitalismo se torna plenamente autônomo. Já não necessita da ética religiosa, pode viver por si só, dispensa o amparo de muletas espirituais. E nesse passo constrói o que Parsons, traduzindo a expressão alemã, chamou de “iron Cage”, a jaula de ferro, essa que Michael Lowy prefere chamar de “jaula de aço” ou, mesmo, “receptáculo de aço”.
Jaula ou receptáculo, de ferro ou de aço, pouco importam os nomes e os materiais constitutivos, o capitalismo é concebido como monumental enquadramento de todo o humano e o natural em escala planetária. Algo realizado historicamente à medida que se expande da Europa para o “mundo exterior”, esse estado de coisas persistirá, segundo Weber, até que a última tonelada de carvão seja consumida.
Para mim parece razoável estabelecer uma relação, não sei se de afinidade eletiva ou de complexa genealogia, entre o que hoje chamamos globalização ou mundialização e a metáfora weberiana. Sem esquecer que esse processo de globalização, concebido como a culminação do capitalismo, é algo recente. Sem esquecer que a globalização pode ser lida como a figuração atual do que começou a emergir na passagem da Idade Média para a Modernidade. Sem esquecer que o que surgiu e se afirmou e passou a dominar recebeu vários nomes ao longo dos séculos: modernidade europeia, expansão marítimo-comercial, colonialismo, imperialismo, neocolonialismo, neoimperialismo, até mesmo unilateralismo e hegemonismo, entre outras noções indicativas ou conceitos teóricos.
Talvez de maneira sutil, ou nem tão sutil assim, a globalização em sua Gestalt possa ser entendida, numa primeira aproximação e de maneira estrita, como globalização prática. Essa que, centrada nas brutais estratégias econômicas, comerciais e financeiras das grandes corporações internacionais, tem como complemento teórico a doutrina neoliberal enquanto soft power, enquanto escudo e espada intelectuais. Um modo de pensar, o neoliberal, que no limite viabiliza, no plano das ideias estruturantes e das consequentes práticas, a relação simbiótica das grandes empresas internacionais com as grandes potências dos dois lados do Atlântico Norte, países e agrupamentos com as quais esses conglomerados estão, em sua absoluta maioria, umbilicalmente vinculados.
A esse duo poderíamos quem sabe agregar um terceiro elemento, muito mais rico em termos de produção de ideias, escolas de pensamento, inovações acadêmicas, sugestões de estilos de vida. Tudo aquilo que, enfim, pertenceria à fascinante e sempre tensa galáxia cultural que oxalá possamos chamar, sem grande escândalo, de o mundo cultural e intelectual pós-moderno, floração surgida mais ou menos ao mesmo tempo em que se cunhava o termo e emergia a realidade da globalização ou mundialização.
Para mim, importante assinalar que o mundo cultural pós-moderno inclui estilos de vida, de comportamento e de fraca sociabilidade que, no limite ou ao menos como tendência geram, no plano da subjetividade, um sem número de individualistas possessivos, patologicamente competitivos. Esse mundo, que não se confunde com o econômico, necessariamente com ele estabelece uma relação dialética de mão dupla, bem longe da neutralidade chamada indiferença. No mais denso, arrisco dizer, sua dinâmica contribui decisivamente para o tempo histórico regressivo em que vivemos.
Se levamos em conta todas essas dimensões, não surpreende que, de certa forma lembrando a “jaula de ferro”, a globalização não apenas haja chegado, mas chegado para ficar. Isso nos dizem diuturnamente os seus corifeus. Ela seria a coveira da história que em si mesma era apenas grande ilusão, era filosofia da história, era metafísica oportunamente superada. A globalização, em seu mais amplo sentido, equivalente ao fim da história tão apressadamente celebrado por Fukuyama.
Vista por seus defensores, a globalização é bem-vindo processo econômico, soma de práticas e teorias do estado mínimo com privatização máxima. Ou seja, prática cotidiana e teoria abrangente. E também estimulante atmosfera cultural inovadora que, entre outros méritos, definitivamente liquidou com qualquer tentativa de se pensar a história por meio das grandes narrativas e de seus conflitivos sentidos. Ou da sua falta de sentido.
Vista pelos seus críticos, a globalização essencialmente significa a reorganização da economia, tanto na dimensão nacional quanto no plano internacional, iluminada por luz de caráter ideológico que passa por teoria econômica focada no livre jogo do mercado. Em realidade, um todo a funcionar em benefício dos poucos que, não sendo belos nem gregos, são realmente poucos. No máximo, 1% dos mais de sete bilhões de seres humanos. A globalização seria, nas palavras de Paulo Nogueira Batista Jr., “uma vinculação mecânica entre o avanço tecnológico em áreas como informação, computação e finanças, e a suposta tendência geral à supressão das fronteiras e à desintegração dos estados nacionais”. A essa liga entre processos reais e interpretação ideológica, que Paulo Nogueira Batista Jr. chamou de retórica e mito, se agregam outras ideias de cunho estratégico, entre elas a de que “estamos submetidos à ação de forças econômicas incontroláveis”.
Para os estados e sociedades que não ocupam lugares decisivos no sistema-mundo, a ideologia da globalização lhes afirma que, em última análise – talvez em primeira… –, o razoável, o adequado, o pragmático e o inescapável se unem. E exigem, acima das vontades, a genuflexão diante dos imperativos da “nova economia” e dos planos e decisões das grandes empresas internacionais e das potências atlânticas dominantes. Nada resta a fazer diante dos “ares que sopram no mundo”. Nada a fazer diante do progresso que, na leitura do Anjo benjaminiano da História, é tormenta e destruição.
A distância entre o ideológico como mascaramento e o real como referência se cifra no fato de que, meio século depois de iniciada, a globalização não se libertou das nações, dos povos, das culturas não-ocidentalizadas nem dos povos originários, e muito menos das sociedades e dos estados não-hegemônicos. Nem mesmo, para completar, dos sobressaltos que de quando em vez atualizam o que de Tocqueville chamou “emoções populares”.
De alguma forma, as várias contramolas resistiram. Algumas antigas, certas combativas classes sociais, outras novas, essas que apenas começam a emergir nas tantas periferias. De alguma forma, persiste a ideia de que um mundo alternativo – ou ao menos profundamente diferente do proposto pelo neoliberalismo – é possível e mesmo imprescindível à luz do estado do planeta, decorrente da soma, articulação ou multiplicação de variadas crises, leque catastrófico que vai do socioambiental ao econômico, ao político, ao geopolítico e à ameaça de holocausto nuclear. Na sua face mais tenebrosa, bem sabemos, o mundo historicamente construído pelo capitalismo ameaça, em seu desequilíbrio crescente, extinguir a humanidade.
Fernando Pessoa afirmou, num de seus textos em prosa: “Ou bem o livre ou o determinado; não há lugar para o indeterminado”. Apesar do tanto que aprecio Pessoa, tenho a audácia de discordar. Talvez mais valha recusar o livre, isso porque o livre, o que escapa a toda e qualquer determinação, é puro voto piedoso. Também imperioso, a meu ver, rechaçar o determinado, o que afinal é mecânico labirinto sem porta de saída, algo que lembra o monstro e o labirinto criados por Borges. Melhor, então, ficar com o indeterminado, para com ele e nele tentarmos o que pode levar à superação de ambos os polos.
No profundo, refletir até que se possa chegar à decisão de recusar seja o domínio da jaula de ferro e do pessimismo cultural, seja a sua encarnação mais recente, a globalização que associa as grandes empresas internacionais aos seus respectivos estados nacionais. Por coincidência estranha, os dois constituem o conjunto dos atores mais poderosos a operar no sistema mundial… Em concertação, ambos exercem poderes que são difratados, em certos casos; sistêmicos, em outros. Mas, no alcance, sempre se exercem tendo em conta o âmbito planetário.
À luz desse panorama daremos um passo mais, antes de chegarmos à análise da política externa brasileira que persistiu por quase 14 anos, para depois considerarmos a que vem sendo a marca internacional do governo ilegítimo de Michel Temer.
Este, para mim, o momento de explicitamente reconhecer: arriscado fazer a transição do “pano de fundo” chamado globalização para algo manifestamente outro, embora um tipo de outro que, sendo elemento, se insere na moldura maior. A política externa brasileira então passará a ocupar o centro do palco, a ser o foco de nossas atenções.
Mas antes disso eu lhes peço um esforço mais, dar outro passo junto comigo. Passo tanto mais arriscado porque não estabelecerei entre os dois planos mediações tão claras quanto o desejável, dadas, inclusive, as limitações de tempo, e também o interesse maior, meu, o de conversar com vocês, o de aprender no nosso diálogo. Daí que, em vez de estabelecer cuidadosamente as tantas mediações, prefiro elaborar certas considerações preliminares que, a meu ver, têm algo de válido. E delas tirar algumas consequências que talvez ajudem a melhor entender a política externa de antes do golpe, e também seu contraste, a do governo Temer.
Se pensamos no que lhes disse há pouco, se refletimos sobre as tocquevillianas “emoções populares”, e sobre o lugar que ocupam ao invariavelmente eclodirem em momentos de máxima tensão social, política e ideológica marcados por extrema mobilização popular, fácil nos darmos conta de que, ao emergirem, tais “emoções” geram dinâmicas de classes, camadas e grupos sociais que no limite ameaçam concretamente o conceito jurídico-político de ordem pública. Por isso mesmo, inevitavelmente suscitam a reação do complemento operacional dessa ordem mesma, as ondas de repressão policial e outras, ou seja, o conjunto de medidas de força e contenção, de violência material acoplada a violência simbólica de toda a parafernália de que dispõe quem constitucionalmente monopoliza o exercício do poder do estado . Em seu todo, são reações destinadas a operar o chamado “retorno à normalidade”.
Importante para mim, de imediato, sublinhar que, a meu ver, há diferenças marcadas, nesses casos, entre o “interno” e o “externo”. As “emoções populares” – a emergência téorico-prática do acontecimento transformador, como realçam os pensadores antissistêmicos e anti-institucionais –, dependendo de sua intensidade, abrangência e duração podem se metamorfosear em tsunamis revolucionários em que operam voluntarismos e estratégias de várias ordens. Ademais, essas “emoções” surgem, em geral e a cada tanto, como fenômenos que escapam às corriqueiras determinações que parecem organizar o estado de normalidade que é estado de exceção. Vêm à tona de maneira imprevista. Emergem como imensa surpresa, para espanto de quase todos. Basta pensarmos em maio de 68 ou, mais recentemente, na Primavera Árabe e nos protestos, aqui, de junho de 2013.
Em contraste, nada de tão radical assim costuma acontecer no espaço ‘externo’ conformado pelo sistema internacional contemporâneo. Mesmo a proposta desenvolvimentista mais ambiciosa, a “Nova Ordem Econômica Internacional” que mobilizou a UNCTAD nos anos 70, pouco tinha a ver com qualquer tipo de impulso revolucionário. Tratava-se de reformar o sistema – atendendo aos interesses do Terceiro Mundo –, não de rechaçá-lo. Ou seja, salvo momentos ou períodos de alta voltagem internos a certos países que no limite podem chegar a viver grandes revoluções, os estados nacionais, em especial os que efetivamente contam, quando se trata de seu relacionamento com os outros integrantes do sistema, constroem perfis de política externa que vão da defesa mais ou menos conservadora do statu quo – suas ações sendo tanto quanto possível centradas na manutenção do essencial do sistema – até visões e práticas marcadas por reformismo que pode ser mais forte ou mais fraco.
Talvez por isso mesmo, no comum das coisas, os estados possam ser vistos, bem analisado seus discursos, interesses e práticas, como hegemônicos e não hegemônicos. No atual período, vivemos no interior de um sistema-mundo, ordem ou universo em que uma superpotência – categoria que traduz realidade relativamente recente – interage com grandes potências, potências médias e o “restante”, os “outros”, os atores estatais ancilares. Outra perspectiva fundamental, marca indelével dessa mesma problemática: o sistema funciona de maneira estruturalmente enviesada.
Todos sabemos: os estados são juridicamente iguais; os estados são politicamente soberanos. Mas todos também sabemos que entre os iguais há os mais iguais; e que, entre os soberanos, alguns são muito mais soberanos do que outros. Até mesmo infinitamente soberanos, em certos casos. Esses estados “mais soberanos” se distinguem pelo poder que têm de agir unilateralmente. Ainda que sempre, de maneira ritual, busquem justificar suas ações unilaterais defendendo-as como ultima ratio destinada a garantir a ordem que a todos abstratamente beneficia.
Mas exatamente porque a ordem tem essas características, porque é enviesada e assimétrica, ela também está permanentemente submetida a tensões de todo tipo, em particular as originadas pelas demandas de certos estados cujos perfis, dimensões e interesses não se acomodam, ou se acomodam mal, ao arranjo que para alguns outros, os mais poderosos entre os poderosos, é quase sempre de todo conveniente. Esse arranjo que nos rege, criado originalmente ao término da II Guerra Mundial e até hoje mantido em seus aspectos essenciais, manifestação do congelamento do poder mundial sistematicamente denunciado por Araújo Castro. A cada tanto, homenagem da estrutura à história, o arcabouço é revisado e atualizado por meio da adoção de mudanças que, até o momento, embora sempre importantes em si mesmas, não deixam de ser algo cosméticas.
No interior dessa dinâmica, natural que o grupo de estados ao mesmo tempo relevantes e insatisfeitos seja o que mais tem interesse e mostra maior empenho em reformar efetivamente o sistema, superando-o. Trata-se, a meu ver, de superação que tem algo de hegeliano: no curso da própria Aufhebung, o “novo”, a resultante, preservaria, sem traumas revolucionários, o “antigo” que foi superado.
Esse esforço, na realidade, está sempre sendo feito e refeito por meio de pressões e contrapressões. O número e a força dos países reformistas é que varia no tempo. Inerente a esse grupo o desejo de que outro estado de coisas se instaure algo que lhes permita exercício mais desenvolto de poder decisório no interior da ordem, junto com acrescidos recursos materiais e simbólicos, meios para a concretização de seus projetos nacionais, de suas projeções regionais e de seu expandido atuar no mundo, atores globais que são.
A política externa brasileira nos anos Lula
Talvez perceber o funcionamento do sistema internacional por esse prisma seja útil para a análise, a avaliação e o entendimento da política externa brasileira no período que se iniciou com a eleição de Lula para a presidência da República, processo que foi cortado pelo golpe de 2016. Serve, também, para contrastar essa política externa com a do governo Temer.
Chegamos, então, à política externa do período Lula-Dilma, que estimo a mais bem concebida e a mais abrangente articulação do interno com o externo, ao menos desde meados do século passado. Política externa estruturada, em termos de grande estratégia, por Lula da Silva, Celso Amorim, Samuel Pinheiro Guimarães e Marco Aurélio Garcia. Política externa cuja elaboração levou cuidadosamente em conta nossa posição geográfica, nossa vizinhança imediata, a América do Sul e a África, particularmente a Ocidental ou Atlântica, os ‘vizinhos de em frente’. Política externa que também considerou a história de nossas relações com os Estados Unidos e a Europa, e os interesses do país enquanto ator global.
Essa política foi pensada e levada a cabo como forma de utilizar a dimensão externa de maneira a reforçar nossa capacidade interna de defender e operacionalizar o interesse nacional ancorado no popular. Em seu todo, o interno e o externo em contínua sinergia voltada para o desenvolvimento econômico e a transformação social. Política externa que foi articulação especificamente brasileira, portanto, entre as duas dimensões que necessariamente se imbricam, a interna e a externa.
Ao mesmo tempo, em termos latino-americanos, enquanto o país construía sua relação privilegiada com a América do Sul e com os “vizinhos de em frente”’, o primeiro círculo de nossa projeção geopolítica, não descurou da América Central e Caribe, nem do México. Nesse movimento pluridirecional, o Brasil recusaria repetir padrões de comportamento hegemônico no relacionamento com seus parceiros. Noutro círculo, o mais amplo, erigiria sólidas alianças com grandes países, tais como Rússia, China, Índia e África do Sul.
Nessa delicada tessitura, que se estendeu ao longo dos anos por amplo arco de iniciativas, se inscreveria a diplomacia multilateral brasileira, nós como demandantes de novas regras e espaços efetivamente vinculados com as grandes transformações mundiais ocorridas desde os anos 1950. Nós, demandantes tanto na ONU quanto na OMC. Nós, demandantes tanto em termos políticos quanto econômicos, comerciais e científico-tecnológicos. Nós, demandantes críticos. Em seu conjunto, esse leque de iniciativas, se continuado, poderia haver contribuído poderosamente para a emergência de um novo polo no sistema global, o sul-americano. Seu papel seria sem dúvida da mais alta relevância, valiosa contribuição ao mundo multipolar ‘in fieri’, apesar das resistências americanas e europeias.
Essencial, para dar corpo a essa grande estratégia, que em nosso entorno imediato buscássemos nos aproximar dos países com os quais partilhávamos e partilhamos similitudes, com os quais de alguma forma se estabeleciam weberianas afinidades eletivas. Ou, talvez mais precisamente, afinidades seletivas, diria Perry Anderson. Isso foi feito de maneira gradativa, sem em qualquer momento gerar fortes tensões nem marcados conflitos com os demais sul-americanos, nem mesmo com os governos mais conservadores ou menos conservadores, todos vizinhos em termos geopolíticos, a despeito das exceções geográficas do Chile e do Equador.
Na sua expressão maior, essa política externa, claramente definida, voltava-se para a vertebração de projetos de longo alcance, mas sem deixar de aproveitar as oportunidades que a janela de curto prazo abria, algumas vezes de maneira até surpreendente. Pensemos no ingresso da Venezuela no Mercosul, por exemplo. Esse episódio, oportunidade gerada pelo golpe que derrubou Lugo, permitiu criar no horizonte a expectativa de um Mercosul fortalecido a partir do momento em que a Venezuela recuperasse sua pujança econômica. Para se ter uma ideia da importância do feito, não esquecer que a entrada da Venezuela no Mercosul foi duramente combatida pelos Estados Unidos.
No tempo da longa duração, a criação do BRICS se destaca, quem sabe, como o projeto mais significativo no interior da moldura estratégica reformista global. Outros dois projetos inaugurais, a constituição da UNASUL e a formação da CELAC, completavam o que permitiria ao Brasil, à América do Sul e, no limite, à América Latina e Caribe gradualmente atuar de outra maneira e com outro peso no interior da fortalecida ordem mundial multipolar.
Esse, de maneira muito sintética, o esboço dos traços mais amplos, definidores da política externa de antes do golpe. Essa montagem de uma política externa onidirecional foi a condição e ao mesmo tempo o agente a conferir realidade ao que hoje está ameaçado, no todo mais do que em grande parte, dados os rumos contrários que caracterizam o governo golpista. Política externa, portanto, francamente reformista e construtiva. Política externa moderada, que numa vertente fortalecia a América do Sul, mas que em outra abria perspectivas de aumentada multipolaridade. E que, numa terceira, ensejava melhor aproveitamento, pelo Brasil, do jogo jogado no tabuleiro multilateral, tanto em Genebra quanto em Nova Iorque.
O balanço de Samuel Pinheiro Guimarães
Apresento a seguir um balanço mais preciso dos resultados alcançados pela política externa que se estendeu de 2003 até o “impeachment” da presidenta Dilma. Balanço elaborado por Samuel Pinheiro Guimarães pouco depois da chegada de Temer ao poder, concluídas todas as etapas parlamentares e jurídicas do golpe partidário-midiático.
Na América do Sul, multiplicação por cinco do comércio e dos investimentos; constituição da UNASUL e do Conselho Sul-Americano de Defesa; relações estreitas de cooperação e amizade com todos, absolutamente todos, os governos sul-americanos, em atmosfera de respeito mútuo; financiamento de grandes obras de infraestrutura – projeto IIRSA – visando à integração infraestrutural sul-americana; financiamento de grandes obras de infraestrutura acordadas com o Paraguai; importância, nesse contexto, da criação do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM); rejeição da ALCA, por um lado, e integração de Cuba na CELAC e no sistema latino-americano (ALADI, por exemplo); por outro lado, estreitamento dos laços com a Argentina. Expansão até seu máximo limite da rede diplomática brasileira na América Latina e Caribe. E ingresso da Venezuela no Mercosul.
Com a África: grande expansão do comércio, dos investimentos e das ações das empresas brasileiras de engenharia em obras importantes; expansão da rede diplomática; cooperação técnica, educacional e humanitária, com destaque para o papel da Embrapa e para a instalação de fábrica de retrovirais em Moçambique; apoio africano às posições brasileiras nas negociações internacionais, em particular no contexto da reforma das Nações Unidas e na tentativa de expansão do Conselho de Segurança; e a organização da primeira conferência de chefes de estado entre países da África e da América do Sul (ASA).
Com a Ásia: aproximação com a China, que se tornou o principal parceiro comercial do Brasil; expansão das exportações brasileiras para todos os países asiáticos; constituição do BRICS, que Pinheiro Guimarães vê como o principal fenômeno geopolítico do século XXI; criação do Banco dos BRICS e celebração do Arranjo Contingente de Reservas; criação do IBAS, agrupamento formado por Índia, Brasil e África do Sul, voltado para cooperação em terceiros países; conquista de apoios asiáticos ao pleito brasileiro a um assento permanente no Conselho de Segurança.
Com a União Europeia: estabelecimento de acordo de parceria estratégica, instrumento celebrado pela UE com pouquíssimos países, entre eles a China. Com a França: programa de construção de submarino com propulsão nuclear e de submarinos convencionais. Com a Suécia: programa de compra de aviões Grippen, com transferência de tecnologia.
Com o Oriente Próximo: busca de permanente equilíbrio nas relações entre o Brasil e Israel, por um lado, e entre o Brasil e os países árabes e o mundo islâmico, por tabela, por outro; o reconhecimento da Autoridade Palestina como estado; a organização da I conferência de chefes de estado de países da América do Sul com os países árabes; e o acordo entre o Irã, a Turquia e o Brasil sobre o programa nuclear iraniano. Sabotado pelos Estados Unidos e parceiros europeus, o acordo teve depois sua importância reconhecida, inclusive à luz do alcançado pelo Irã com o P5+1 (os cinco do Conselho de Segurança, mais a Alemanha), faz pouco denunciado por Trump.
Com os Estados Unidos, a relação foi marcada pela rejeição da ALCA, uma das mais importantes decisões na história da diplomacia brasileira, e pelo episódio de espionagem contra a presidenta da República e a Petrobras, que levou a afastamento entre o Brasília e Washington. Ainda assim, a cooperação foi aprofundada com vistas a terceiro países. Um exemplo, o fomento à produção de etanol na América Central. Na visão defendida por Samuel Pinheiro Guimarães, as relações do Brasil com os Estados Unidos são de tal forma densas que não necessitam de especial fomento. Fluíam por “canais tradicionais”, havendo clareza quanto a o que o ex-Secretário Geral do Itamaraty chama de “respeitosa e recíproca divergência em certos temas, como ALCA e a mudança do clima. Também divergentes no que se refere ao Iraque, à Líbia e à Síria”.
Com o FMI, e com isso encerro o balanço, pagamos a dívida contraída, o que levou à cessação dos mecanismos de supervisão das políticas brasileiras por técnicos daquela organização. Mais adiante, o Brasil inclusive concedeu empréstimo ao Fundo.
Os governos de Dilma Rousseff
Quando se compara a política externa de Lula com a conduzida por Dilma, observam-se diferenças de ênfase e outras, mas de nenhuma forma registra-se ruptura. Surgem, as diferenças, como variantes que apontam para uma continuidade básica. Importante não ignorar que esse gênero de exercício também indica que a política externa realizada durante o período Dilma sinaliza alguma fragilização, certa desaceleração, evidente perda de ritmo e perceptível introversão.
A crise externa e interna – e aqui a distinção entre o externo e o interno se mostra quão precária de fato é diante do fluxo do real – tem muito a ver com essa mudança de tom, de diapasão, de intensidade ao longo do período Dilma. Isso levou, inclusive, a que laços de cooperação com a América do Sul também tendessem a se limitar. Nesse contexto, por igual, o enfraquecimento da diplomacia presidencial revelou-se fator inibitório, bem assim como a queda no número de encontros e de entendimentos bilaterais de alto nível.
O mesmo padrão também se manifestou com respeito ao relacionamento com os países africanos e asiáticos, à medida que as atenções do governo passaram a se centrar mais e mais na crítica situação econômica e política interna. Ainda assim, a criação do Banco dos BRICS e a assinatura do Arranjo Contingente de Reservas, bem como a participação brasileira no Banco Asiático de Investimentos, foram lances de grande porte. A contribuição brasileira, em cada caso, relevante.
Positivas, por igual, as eleições de José Graziano para dirigir a FAO; e a de Roberto Azevêdo para Diretor-Geral da OMC. A realização no Brasil, apesar de todos os pesares, de megaeventos como o Mundial de Futebol e os Jogos Olímpicos indicava a aumentada capacidade do país de atuar de maneira decisiva em várias esferas.
O governo Temer
Passemos, então e para concluir, à política externa do governo Temer. Para mim, e talvez isso surpreenda alguns de vocês, a formulação inicial do que veio a ser a política externa do governo ilegítimo foi explicitada bem antes de desfechado o golpe. Mais precisamente, essa manifestação precursora aconteceu em outubro de 2015. Foi então que o PMDB divulgou o documento intitulado “Uma Ponte para o Futuro”, texto que formalmente consagra a adesão do partido – quem sabe se definitiva – ao ideário neoliberal. O manifesto do PMDB formula de maneira sintética o que se transformou, nas mãos de Temer e Meirelles, no programa de governo centrado na implantação acelerada de plataforma neoliberal cuja versão tucana, sempre bom ter em mente, havia sido rechaçada pela maioria do eleitorado em 2014.
Em determinado trecho desse conjunto de sugestões então feitas ao governo de Dilma, podemos ler que lhe “caberia realizar a inserção plena da economia brasileira no comércio internacional, com maior abertura comercial e busca de acordos regionais de comércio com todas as áreas econômicas relevantes – EUA, UE, Ásia –, com ou sem a companhia do Mercosul, embora preferencialmente com eles”. Também é dito que o governo deveria conferir “apoio real para que o setor produtivo se integre às cadeias produtivas de valor, com isso auxiliando no aumento da produtividade e atualizando as normas brasileiras aos novos padrões que estão se formando no comércio internacional”.
Dificilmente poderia haver ficado mais transparente a prioridade conferida à dimensão comercialista que hoje marca a política externa, na prática de todo concentrada nas relações com os países e áreas com os quais tradicionalmente o Brasil faz a parte mais significativa de nosso intercâmbio. De fato, perpassa o documento o desejo de o país, no “interno” e no “externo”, se ajustar de maneira mimética à globalização neoliberal, coisa vista como tão natural tão racional e tão evidente que o texto se dispensa de qualquer reflexão a respeito.
O inscrito em matéria de política externa no certificado de batismo neoliberal do PMDB foi desdobrado, aperfeiçoado e imposto ao Itamaraty, num primeiro momento, a partir da assunção do comando da chancelaria pelo senador José Serra. A obra está sendo continuada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira desde março de 2017.
A menos de um semestre das eleições presidenciais, a política externa do governo Temer cristalizou perfil próprio, nitidamente inverso ao que foi esculpido por Lula e Dilma. Sem que precisemos fazer análises sofisticadas, evidente que a política externa atual é, na essência, comercialista. O tom político, em sua dimensão construtiva, foi em muito abandonado. Restou o agressivo, que em sua virulência máxima se concentra nas críticas ao governo venezuelano e ao bolivarianismo.
Simultaneamente, a estratégia de abertura econômica se concretiza com aproximação aos Estados Unidos, em primeiro lugar; e, em segundo, com a União Europeia. Mantêm-se os laços já desenvolvidos com a China e com a Rússia, mas não se vê o mesmo empenho, longe disso, no que se refere ao BRICS.
Em termos de América do Sul, a confrontação ideológica aberta com o governo de Caracas e com o que, sem maior precisão, é chamado de bolivarianismo levou ao enfraquecimento do Mercosul. O feito no âmbito do bloco, em coordenação com o Paraguai e a Argentina, ademais de grave em si mesmo resultou em fratura exposta na área mais importante da nossa política externa, o espaço sul-americano. Esse trauma durará enquanto Maduro se mantiver no poder. Mas, piorando o quadro, a forma truculenta como a questão foi manejada não será esquecida pelo bolivarianismo real, não o fantasmagórico espantalho empunhado por Brasília, em nada diferente da imagem construída pela grande imprensa corporativa. Temerariamente foi ignorado que o bolivarianismo, não o seu fantasma, ainda é a força política, social e ideológica mais importante da Venezuela em crise.
A UNASUL foi desativada, consequência inevitável e desejada da visão de política externa que caracteriza o governo golpista. Nesse contexto, as articulações que envolvem o Mercosul, o Grupo de Lima e a OEA impedem, até onde a vista alcança, a recomposição do diálogo sul-americano do qual depende qualquer política externa brasileira não servil. Para fortalecimento dessa dinâmica imprudente contribuem os Estados Unidos, que pressionam cada vez mais os latino-americanos e deles cada vez mais cobram atitudes ainda mais fortes com respeito ao governo de Caracas, sob pretexto de defender a democracia e os direitos humanos. Esse jogo perigoso aponta para outro regime change na América do Sul, com custos humanos e materiais hoje incalculáveis, no limite quem sabe lançando o país vizinho nos horrores da guerra civil.
Essa mesma guinada brasileira à direita colocou em estado de dormência o Conselho Sul-Americano de Defesa, foro que parece destinado à irrelevância. Em paralelo, o governo Temer busca instituir uma Autoridade Sul-Americana de Segurança, à qual competiria combater a criminalidade transnacional. Esse objetivo, se houvesse vontade e interesse políticos, poderia ser parte da agenda do Conselho Sul-Americano de Defesa. Como inexistem a vontade e o interesse, a incorporação desse tema à agenda do Conselho não se coloca.
Para quem criticava a “política externa partidária do PT”, não deixa de ser irônico observar a distância que se criou na América do Sul, em termos político-diplomáticos e ideológicos, entre governos conservadores e governos reformistas, quadro difícil de imaginar até menos de dois anos atrás. De maneira similar, o relacionamento de Havana com Brasília é sombra do que já foi.
Por outro lado, a CELAC entrou em manifesto ocaso, enquanto que a OEA volta a ter inusitada importância para o Brasil, ambas realidades proclamando o caráter regressivo da política externa implementada desde o golpe. A regressão não é volta a qualquer das demais variantes de inserção do Brasil no plano externo observáveis desde o começo da Nova República. Lembra, em seu subserviente extremismo, o alinhamento automático que tem em Castelo Branco, Juracy Magalhães e na participação brasileira na invasão da República Dominicana seus atores mais importantes e seu desastre mais evidente.
Completando o círculo de ferro que abrange tanto o interno quanto o externo, nosso mais importante projeto político-diplomático em termos nacionais e regionais, a emergência, no tempo da longa duração, do polo sul-americano como parte do multipolarismo em gestação, foi totalmente inviabilizado.
Com a África, as relações estão reduzidas ao rotineiro, embora o mais desatinado haja sido evitado: dar seguimento às ameaças feitas por José Serra de reduzir drasticamente o número de embaixadas nossas, hoje instaladas em 37 das 54 capitais de estados africanos. Ainda assim, em lugar da confiança recíproca, da cooperação técnica e humanitária, de apoio político recíproco, de alento ao comércio e aos investimentos, criou-se situação de pasmaceira. Decorrente, a calmaria que não tem tempo para terminar, do planejado distanciamento brasileiro, complementado por certeza compartilhada pelos “vizinhos de em frente”. Cristalino, para os africanos, que no governo Temer o continente voltou a ser secundário ou terciário, seja como interlocutor político-diplomático seja como parceiro comercial.
O mesmo, embora com nuances, pode ser dito das relações do Brasil com o Grande Oriente Médio, e também sobre a nossa interação atual com boa parte do Extremo Oriente, salvo as exceções óbvias, China, Índia, Coreia do Sul e Japão. Enquanto isso, com a Rússia o relacionamento bilateral, apesar de isento de crises, não parece avançar. Razoável pensar que o desinteresse do atual governo pelo BRICS tenha algo a ver com isso.
Visto o lado desconstrutivo da política externa atual, sua face pós-moderna, passemos ao “construtivo”. Em termos propositivos, a política externa de Temer se empenha, de maneira ostensiva, em aprofundar os laços geopolíticos com os Estados Unidos. Mas o resultado das eleições presidenciais americanas, a surpreendente vitória de Trump sobre Hillary, somado à imprevisibilidade que até hoje marca o governo do bilionário republicano, em certa medida frustrou os propósitos de Temer, Serra e Nunes Ferreira. Perderam-se o brilho e a aura, para lembrar de La Boétie, da estratégia da servidão voluntária.
Washington, em matéria de América Latina, privilegia geopoliticamente apenas México, Venezuela e Cuba. Mas um privilegiar que aponta para tensões crescentes, antes que para a busca de padrão mínimo de convivência, diálogo e cooperação. Nessa moldura interpretativa, a ausência de Trump na Cúpula das Américas há pouco celebrada em Lima fala mais alto do que toda a retórica governamental brasileira. Uma ausência, a de Trump, mais esclarecedora do que qualquer discurso.
No plano bilateral, a imposição de sobretaxa ao aço e ao alumínio brasileiros não parece questão a ser solucionada no curto prazo. Ou seja, improvável, embora não impossível, que o Brasil consiga, ainda neste governo, uma composição com os Estados Unidos capaz de atender adequadamente aos interesses dos exportadores. O calendário eleitoral estadunidense – as eleições intermediárias de novembro talvez afetem gravemente o governo republicano – pode dilatar o tempo do encaminhamento dessa importante questão comercial.
Com respeito à Europa, dois temas focam o interesse da agenda governamental: o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, e a adesão do Brasil à OCDE. De acordo com notícias de imprensa, o Brasil e a Argentina estariam decididos a chegar a um acordo com os europeus em brevíssimo prazo, o que porá termo a processo que – dada a complexidade do tema e devido às exigências excessivas da OCDE – vem da década de 90 do século passado. O entendimento entre o Mercosul e o bloco europeu deve ser anunciado mês que vem ou em julho próximo.
Entretanto, o que até semanas atrás parecia seguro pode haver ingressado no terreno da incerteza. O acordo pode vir a ser um dos danos colaterais, em termos de timing, derivados da crise cambial que levou o governo Macri a pedir socorro ao FMI. A partir dessa decisão in extremis, o governo argentino, em especial o chefe de Estado, se concentrará na questão que possivelmente decidirá o futuro do país por um bom tempo, ao mesmo tempo incidindo pesadamente sobre a carreira de Macri. Não esquecer que o antecedente mais próximo das relações carnais com o FMI é a queda de De La Rúa.
Já o pedido brasileiro de adesão à OCDE, se conjugado ao desfazimento da estratégia anterior vis-à-vis a América do Sul e à perda de visibilidade dos BRICS para o atual governo, completa a virada político-diplomática regressiva. A entrada do Brasil no que, sob o registro da cooperação e do fortalecimento de certo tipo de rationale administrativa, é na verdade um clube de países ricos voltados para a promoção da liberdade do mercado e para a defesa da democracia liberal, sinal potente da mudança de caráter conceitual, operacional e simbólico realizada pelo governo ilegítimo no concernente à política externa. Ao reforçar seu “regressismo”, indica como o grupo no poder vê o país: ator internacional que se esforça por se integrar, numa modalidade subalterna, às estruturas, instituições e organizações que, a partir da ótica neoliberal, buscam organizar a economia do sistema-mundo.
Em termos operacionais, a adesão do país à OCDE implicará esforço significativo de adequação à normatividade da Organização. O “mapa do caminho” é complexo; e as exigências, fortes. Mas, se o processo chegar a se concretizar, o país terá sobretudo proclamado que pretende juntar-se, como o México e o Chile – nítida convergência de intenção e gesto – ao que já se chamou Primeiro Mundo, para isso o Brasil devendo abandonar sua trajetória anterior, que arranca dos anos 50 do século passado. Trajetória que, salvo durante o governo Castelo Branco, tinha na concertação com outros países em desenvolvimento uma faceta definidora de sua política externa, independentemente, inclusive, do regime político interno. A característica “terceiro mundista” da diplomacia brasileira sendo mais destacada em certos períodos do que em outros, sua força dependendo das circunstâncias nacionais e das externas.
Nesse registro, ainda não terá ficado claro para a opinião pública que vantagens efetivas, em termos de desenvolvimento, seriam obtidas pelo Brasil ao seguir o caminho trilhado pelos dois outros latino-americanos. Em termos simbólicos, entretanto, a adesão sublinhará que o país já não se vê geopoliticamente como parte do mundo em desenvolvimento, o que não deixará de produzir certos distanciamentos e desconfianças, tanto no plano bilateral quanto no multilateral.
Dessa perspectiva, a adesão constituirá crucial episódio no interior da modernização neoliberal forçada hoje em curso. De certa maneira, aponta para o abandono de uma identidade solidamente construída, baseada em nossa real condição de país em desenvolvimento, não em veleidades cosmopolitas. Trata-se de operação afobada, realizada às pressas com vistas a que o país assuma outra identidade, em muito fictícia, o que não deixa de criar certo ridículo, por a identidade perseguida não ser, mesmo, a nossa. Outra ideia fora de lugar.
Ao concluir esta sumária avaliação da política externa do governo Temer, penso haver demonstrado as diametrais oposições entre a visão do governo atual, pequena estratégia comercial-pragmática de caráter adaptativo, e a perspectiva amplamente reformista da política externa de ambos os governos anteriores, grande estratégia centrada na tentativa de concretizar outro modo de relação do Brasil com a América do Sul, com a África, com a América Latina e Caribe, e com o sistema internacional como um todo. Em termos de projeção externa, a continuidade e o fortalecimento da orientação econômica e política hoje dominante – microvisão de mundo norteada pela húbris da cristalização de um Brasil irreversivelmente neoliberal – se traduz, no cotidiano, em ajuste passivo à globalização.
Mas, e isso é o fundamental de minhas conclusões, cumpre não esquecer: tudo ainda está em aberto, tudo em muito dependerá, no tempo curto, do resultado da próxima eleição presidencial. Para os que hoje ocupam o poder executivo, e para as reacionárias forças políticas, ideológicas, econômicas e sociais que os sustentam, é mandatório dar por formalmente concluída a etapa, que veem como heroica, iniciada dois anos atrás. No pleito de outubro, êxito da direita em qualquer de suas variantes – que vão da centro direita em decadência ao extremismo “bolsonarista” em ascensão – permitirá ao sucessor de Temer afirmar que, superado o interregno, estamos todos “de volta à plena normalidade”. A capacidade de convencimento desse tipo de discurso se fundará no quantum de legitimidade do qual disporá o futuro chefe de Estado.
Em outras palavras, nesse cenário ideal para os neoliberais, o golpe, jamais admitido, será higienizado pela água lustral das urnas. E, para nenhuma surpresa nossa, tal operação será objeto do trabalho de convencimento maciço da iludida opinião pública, o exercício de construção do consenso neoliberal-conservador-reacionário a que no dia a dia se dedica a grande mídia corporativa. Mais importante ainda: na vigência desse cenário catastrófico estarão assegurados a continuidade, a intensificação, o espraiamento e o aprofundamento da maré cuja cheia começou com o “impeachment”.
Caso venha a ser assim, mais quatro anos de neoliberalismo galopante poderão realmente mudar para muito pior a face do país, essa que hoje já nos espanta. Quatro anos mais do que aí está tornarão extremamente difícil efetuar a futura e indispensável recuperação de um projeto de desenvolvimento ancorado em forte componente social, o todo garantido por efetiva democracia participativa.
Os dois turnos de outubro têm, portanto, extraordinária importância histórica. Nesta minha afirmação, sublinho, não habita qualquer artifício de retórica. Outubro será momento decisivo, no registro do tempo curto, para o país que queremos construir no tempo da longa duração.
Em um dos poemas escritos no “tempo da reconstrução”, Brecht faz um balanço otimista: “Deixávamos para trás as fadigas da montanha, / à nossa frente estendiam-se as fadigas da planície.” No nosso caso, a crise é de tal ordem que só temos pela frente as fadigas da montanha. E elas não desaparecerão, muito pelo contrário, se em outubro vindouro alcançarmos não a brechtiana planície, mas sim algo comparativamente menor, a volta ao palácio do Planalto.
Que os golpeados em 2016 saibam e possam construir a aliança ampla que nos permita sair do círculo de ferro que nos constrange. Que possam congregar não só a esquerda, mas também os que, sendo do centro democrático, percebem os riscos de desagregação nacional que balizam a ponte para o desastre em que trafegamos em alta velocidade desde quase dois anos atrás. Que os golpeados possam conter o bolsonarismo que cresce nas periferias também.
Façamos todos nós, sob condições tão adversas, o indispensável esforço, abrangente e flexível, mas não destituído de princípios, que possa nos reconduzir ao Planalto. Esse, o primeiro passo de nova caminhada. Essa, a porta que, se for franqueada no curto prazo, permitirá um dia, quem sabe, chegarmos à planície e suas bem-vindas fadigas. Imbricar de maneira ambiciosa o curto prazo da conjuntura com o tempo da longa duração tornou-se engenho e arte indispensáveis à sobrevivência da esquerda, à sua reestruturação e à retomada, em novas bases, do processo de transformação num país interrompido.
Concluo com uma avaliação absolutamente pessoal: tal esforço para pôr termo ao experimento destrutivo que nos atropela e infelicita não pode se fundar na ilusão de que basta mais do mesmo, só que feito de melhor maneira. Tal caminho, mera acumulação do antigo com retoques de novo, se vier a ser adotado, provavelmente se revelará, pouco mais além, atalho para outro desastre. Desastre que poderá assumir aspecto ainda mais brutal e autoritário, ao nos afogar na mais completa barbárie.
*Tadeu Valadares é embaixador aposentado.
Palestra no Instituto de Letras da UnB em 14 de maio de 2018