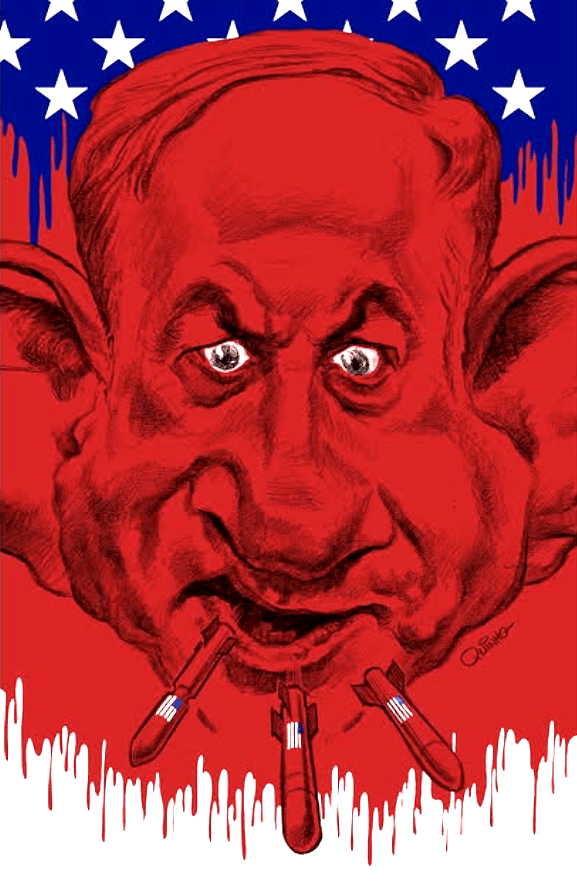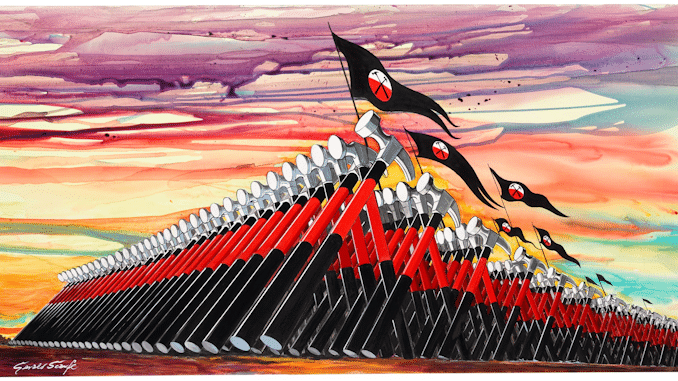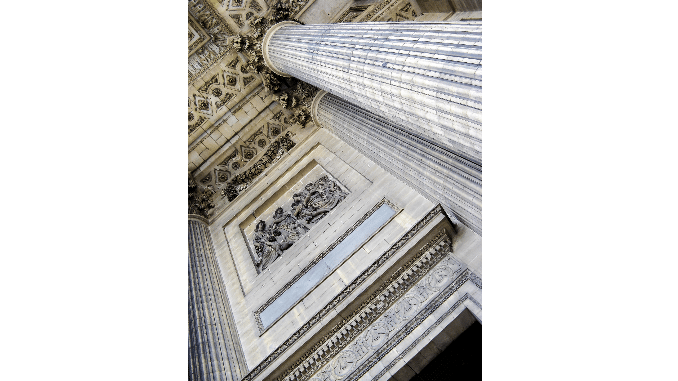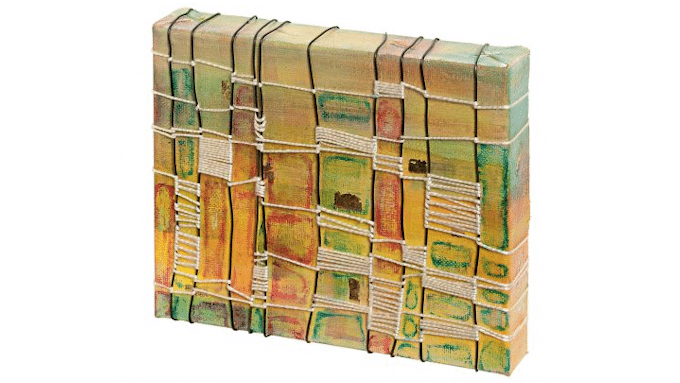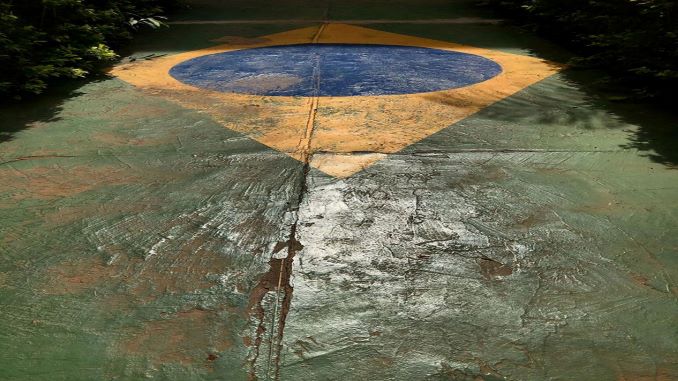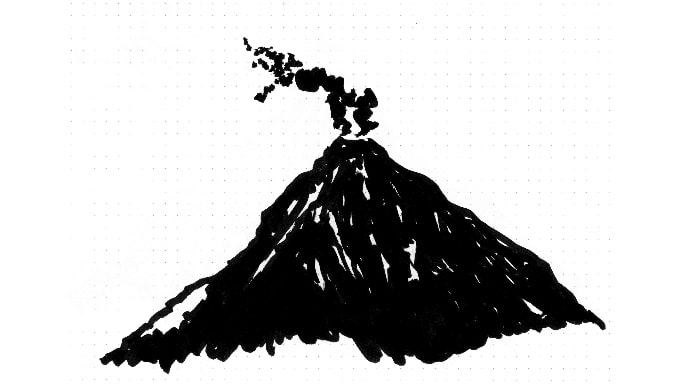Por FLÁVIO R. KOTHE*
A busca por voz própria e liberdade intelectual num mundo marcado pela autoridade violenta da família, da religião e do Estado – e os lampejos de beleza e saber que tornam essa busca possível
Quando eu era pequenino e minha mãe não me dava mais leite, viver era surpresa, tortura e enigma, a mulher que diziam ser minha mãe me comunicou:
– Hoje à tarde vamos visitar a Irmã Carla. Ela está morando no Hospital, quer nos ver.
– Ela não era professora no Colégio das Freiras?
– Sim, era, mas teve um esgotamento nervoso, não está mais dando aulas. Tanto o colégio quanto o hospital são cuidados pelas freiras franciscanas. Na ordem se faz voto de pobreza, obediência e caridade.
– O que é caridade?
– É ajudar os pobres, os necessitados.
– Quer dizer, trabalhar de graça, feito escravo, sem receber salário?
– Há pagamentos que não são feitos em moeda.
– Tio Edmundo diz que, quando há dinheiro, ele vai para o bolso de alguém. Por que ela virou freira?
– Recebeu um chamado de Deus. Como o Padre João, o irmão mais velho do meu pai. Ele era meu padrinho e pagava meus estudos. Morreu quando eu tinha 12 anos. Meus pais tiveram de me tirar da escola, mas eu queria muito continuar estudando. Eu tinha um irmão mais novo, disseram que só podiam pagar por um, deram preferência ao filho. Era o melhor aluno da escola, mais inteligente que eu. Eu tive de costurar para fora.
– Se a Irmã Carla não podia pagar, por que seus pais não foram falar com a diretora para conseguir bolsa, redução da mensalidade?
Lá estava eu fazendo perguntas indevidas! Minha mãe sempre havia aceitado ser humilhada. Achava que isso era virtuoso. Não se rebelava. Jamais ela se ergueria contra os pais. Eles a deserdaram, e ela continuou achando bom. Os pais eram ricos herdeiros, mas doaram as terras para a irmã mais nova de cada um, deixando a filha e os netos sem nada. A propriedade era deles, podiam fazer o que queriam com ela. O filho morreu pouco depois de se tornar oficial da marinha.
O que havia sido esse chamado de Deus eu só soube meio século depois. Um parente idoso contou que Carla, quando adolescente, havia se apaixonado por um rapaz que não valia nada. Os pais proibiram o namoro. Ela decidiu então ir para a vida religiosa. Os pais tinham feito uma avaliação correta do pretendente, estavam certos, como se mostrou depois. Naquela época e lugar, os pais decidiam sobre o casamento dos filhos. Os casamentos arranjados davam mais certo que os por amor, já porque não havia divórcio nem separação: o que Deus uniu, homem nenhum haveria de separar. Mulher, menos ainda.
– A Tia Carla não recebe dinheiro. Fez voto de pobreza. Meus pais só podiam pagar por um filho. Meu irmão era mais inteligente que eu. Meus pais não queriam mendigar. Menos ainda por mim. Eu queria estudar, mas tinha de obedecer à decisão deles. Foi uma época difícil, a pobreza era grande. Melhor ser pobre e ganhar o céu.
– Tio Edmundo diz que a Igreja diz isso para ficar com o dinheiro, mandar para o Vaticano. Ela pode dar graças a Deus, pelo muito que ganha dos católicos, sempre dizendo que é pobre e precisar de mais doações. Para fazer caridade é preciso ter dinheiro.
– Ela manda para missionários para converter os gentios, salvar os índios do inferno. Manter o hospital. Ela é a salvação.
– Podiam ter feito ao menos a caridade de deixar a senhora terminar o ginásio, se era boa aluna.
– Humildade é virtude; humilhação, não.
– Sempre noto vergonha na senhora quando encontra antigas colegas que puderam terminar o curso.
– Na nossa cidade não tinha curso depois do ginásio, nem faculdade.
– Eu quero estudar depois do ginásio, mas se tiver muito irmão não vou conseguir.
– Vou fazer tudo para você estudar. Prometo. Agora vá se aprontar antes de falar mais bobagens. Seu pai vai nos levar.
Bem, nada havia a fazer senão obedecer. Não adiantaria comprar briga dizendo que ela deveria aprender a dirigir. Era o momento em que tornava servo ao seu amo e senhor, o marido, meu excelentíssimo Pai. Ele se sentia um cavalheiro ao poder levar a esposa para onde ela quisesse, que era sempre um lugar que ele aprovaria.
O chofer, que diziam ser meu pai, havia me fabricado para ter um escravo, um criado mudo. Era um beberrão de cerveja, cachaça e conhaque. Quanto mais bebia, mais horrível se tornava e mais maravilhoso se achava. Era um narcisista, que via seus defeitos como virtudes e queria que eu fosse cópia dele. Era prepotente e violento. Não merecia ser meu pai.
Nas muitas surras que me deu, tanto em público quanto no privado, havia provado dezenas de vezes que não era meu pai e não me merecia como filho. Tentava superar o abismo entre nós com pontes de varas de marmelo e pereira, que eu era obrigado a colher e fornecer como se quisesse participar dessa construção. A esposa dele, minha mãe, nunca me defendeu e já por isso não merecia o nome de mãe, mas esse ela perdera ao me dar uma surra em público aos quatro anos, quando eu tinha sujado a roupa ao resvalar, após uma chuva forte, para dentro de uma canalização recém-feita, que levava a uma tubulação de centenas de metros. Um primo meu havia me salvado. Quando fui procurar minha mãe, ela me deu uma surra tremenda, como se fosse erro eu ter voltado do mundo dos mortos.
Quando aprendi a palavra “genitores”, aprendi a distinguir com clareza entre a figura de reprodutor e a de pai e mãe. Não haviam perguntado se eu queria nascer. Por azar, agora estava aí. Eu seguia calado no carro. O silêncio da boca ficava longe do que eu estava pensando. Eu não me sentia solitário: o redemoinho das lembranças me enchia de fantasmas, mais ou menos indesejados.
Se do que eu calando pensava iria talvez um dia brotar a palavra que fosse ponte do silêncio, isso eu não sabia nem me preocupava. Meu problema era sobreviver nessa floresta de sombras ameaçadoras. Eu era obrigado a fornecer varas como quem pede para apanhar. Eram cínicos e eu era impotente, mas, a seu modo, me treinavam para sobreviver nas ditaduras que encontrei espalhadas pelo país.
Meus pais não tinham noção do que haviam construído em mim. Achavam que eu era emburrado. Tio Edmundo dizia que burro quando empaca é porque notou um perigo, que aqueles que batem nele não perceberam. Eles me batiam até lhes cansarem os braços. Eu era proibido de gritar. Era cria de algozes.
Daí queriam que eu me sentisse culpado por apanhar. Eu já sabia que não iria ao enterro de nenhum deles. Não havia mais escolha. Restava sobreviver até conseguir fugir do inferno. As cicatrizes seriam para sempre; o ódio, também. Eu tratava de escondê-las, com vergonha dos pais que tinha.
Eu era um escravo que dependia de meu amo e senhor para sobreviver. Queriam que eu ajoelhasse diante de Deus, como quem aceita ser servo. Fingi ajoelhar enquanto era obrigado para ter o que comer, mas meu espírito se rebelava enquanto o joelho dobrava. Eu jamais seria fiel. Se as pancadas na pele se apagavam, as nos neurônios jamais. Nomes como Parkinson e Alzheimer – que aprendi bem depois –, não diziam o que significavam.
O carro parou em frente ao Hospital São Francisco, que era então o portal de entrada e de saída na vida. Entrei nele como quem busca destino. Na portaria nos disseram que a Irmã Carla estava no final do pátio interior, que ficava entre os dois blocos em que estavam as salas de cirurgia e os quartos dos pacientes. O pátio interior tinha uma ala central larga, para pacientes poderem espairecer. Dos dois lados dela havia canteiros com roseiras, lilases, cravos, hortênsias, margaridas, tulipas, camélias, begônias. Cores e formatos variados, exibindo ânsia e alegria de viver, para animar pacientes, espairecer médicos e enfermeiros.
As freiras se distinguiam dos mortais com os hábitos e véus que usavam, mostrando os votos que haviam feito, de dedicar a vida a Deus. Os cabelos ficavam escondidos por um véu e cobertos por uma touca. Estavam como que encapsuladas pela fé e pelo dogma. Haviam desistido de pensar, tudo já estava resolvido para elas. Ao fazerem os votos, acreditava-se que elas flutuavam entre o céu e a terra, numa rota que ia para o paraíso.
No final do pátio vimos a Irmã Carla, com pequena pá na mão, inclinada sobre um canteiro. Quando nos ouviu, abriu um sorriso luminoso sob o véu negro e ergueu os braços para agradecer aos céus, mas não para nos receber com um abraço: freiras abdicavam do corpo. Queriam ser puro espírito, como se o espírito só pudesse ser puro sem corpo. Seus olhos escuros, atrás de óculos de aros redondos, brilhavam com alegria. Estava feliz por nos ver, em especial minha mãe, eu era apenas um apêndice. Ao me dar atenção, dava à minha genitora. Ou eu seria o filho que ela poderia ter tido e jamais teria? Era boa gente.
– Vejam aqui! Estou fazendo uma pequena experiência com as cores do amor-perfeito. Quero ver se consigo prever a cor que vai surgir da semente e daí pintar com flores. Dei preferência às cores mais escuras. Talvez um dia consiga uma flor bem negra.
Eram flores pequenas, pareciam rostos, como se fossem alunos na sala que era o canteiro. As pétalas tinham formato de coração, não havia duas iguais. Cada flor era uma surpresa. Enquanto isso, ouvi a Irmã Carla, tia Carla, explicar à sobrinha:
– A Madre Superiora me mandou para cá. Eu decidi cuidar das flores: faz bem para mim, para elas, para os pacientes e para os enfermeiros. Vou ficar ao menos um ano fora das salas de aula. Eu não aguentava mais corrigir redações malfeitas, conversa boba de adolescentes.
– Mas a senhora não tinha nenhuma aluna no curso normal que soubesse escrever melhor?
– Tive uma, a Lya, filha do advogado Fett. Dentro de vinte anos, vão ouvir falar dela. A família é luterana, mas decidiu colocar a filha no colégio católico. A Lya prendia a atenção, tinha um texto fluente, vários pontos acima das redações das outras alunas, que sonhavam com um vestido branco de noiva e um casamento com muitos convidados. Achavam que, quanto mais pontos de exclamação escrevessem, mais o leitor ficaria comovido. O grande afeto leva ao silêncio, não é proporcional aos adjetivos.
– Será que o contato próximo das religiões faz bem para ela?
– Sim, com certeza, mais ainda que a família é de boa cultura, com biblioteca em casa. A criança crescer bilíngue ou trilíngue é bom para a formação. Foi o que eu lhe disse quando esse mocinho nasceu, mas precisa ensinar primeiro a língua que tem menos poder no lugar. Cada língua define o mundo a seu modo. Nenhuma é absoluta.
– Irmã, nós aqui estamos perdendo a língua e a cultura dos nossos antepassados, a nossa identidade…
– Isso eu falei para a Madre Superiora. Eu tinha a sensação de estar traindo meus pais, meus avós, convertendo as jovens à força para a língua oficial do Brasil. Nossos imigrantes nunca foram contra aprender a língua oficial, mas queriam ter o direito de manter a dos antepassados.
– Quem quiser escrever aqui vai ter de escrever na língua do Estado, oficial. Vai perder a ponte com a origem. Falar a língua alemã tem sido um perigo aqui, continua sendo. Se eu tiver mais algum filho, acho que não vou ensinar o alemão.
– A língua portuguesa que nos domina vem do galego, foi levada na Península Ibérica para o sul quando houve a reconquista cristã, ela surgiu mais tarde, como invenção do Estado lusitano, séculos depois que ele já tinha se constituído. Catalão, galego, espanhol, português, francês e outras línguas são derivadas da dominação militar estrangeira, do império romano. Umas passaram de língua de dominado a línguas de dominação. São latim mal falado, por causa da influência das línguas dos povos que foram dominados pelos romanos.
– Que confusão!
– O espanhol tem menos fonemas, só um grafema para cada fonema e um fonema para cada grafema, é uma língua mais adequada para o contato internacional do que o português, e até mais do que o inglês, que tem duas línguas em uma, a escrita é diferente da falada. No Brasil nem falamos português, mas brasilês, uma língua vocálica, cheia de influências de línguas indígenas e africanas, diferente da língua de Portugal, que é consonantal. Todo Estado precisa de uma língua de comunicação geral, mas a cultura é tanto mais rica quanto maior a diversidade de línguas e etnias que existirem nele.
Tendo acompanhado essa conversa, vi que a Irmã Carla tinha boa cabeça, melhor do que as adolescentes da escola poderiam precisar. Ela explicou logo que não falava essas coisas em sala de aula e pediu que minha mãe não contasse nada adiante. Estava alarmada.
Eu me aproximei, minha mãe estava estendendo uma toalha sobre o banco para o piquenique que ela dissera que iríamos fazer. A Irmã Carla disse ainda que preferia ficar em nossa cidade, pois assim podia ver os parentes que moravam por perto. Se tivesse ido para a capital, iria ficar longe de todos.
Pouco depois, minha mãe se despediu, dizendo que precisava ainda passar em duas lojas de armarinhos no centro. Nada mais me restava senão dizer adeus à Irmã Carla, carregar o cesto ao lado de minha mãe. Na outra mão eu tinha um cesto invisível, recheado das coisas que havia escutado.
*Flávio R. Kothe é professor titular aposentado de estética na Universidade de Brasília (UnB). Autor, entre outros livros, de Alegoria, aura e fetiche (Editora Cajuína). [https://amzn.to/4bw2sGc].