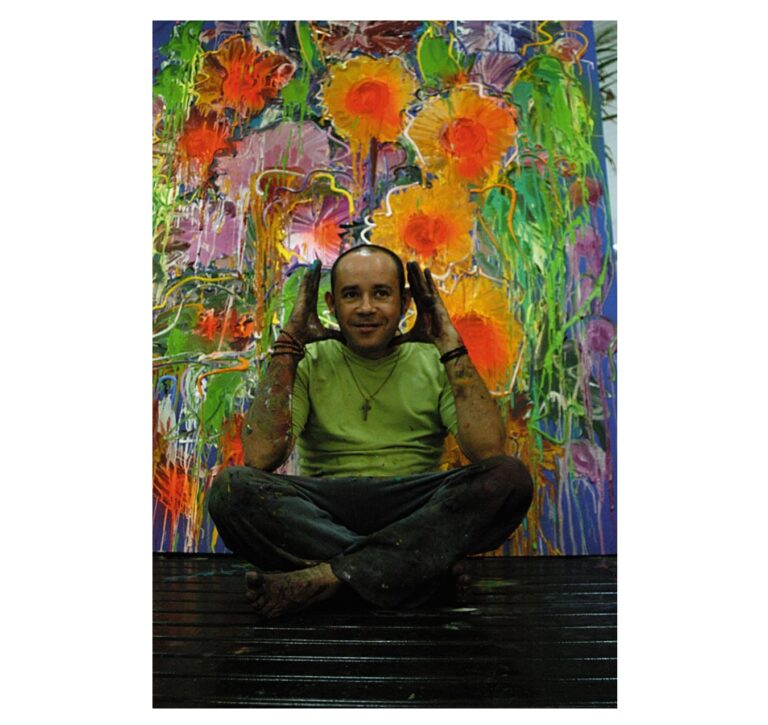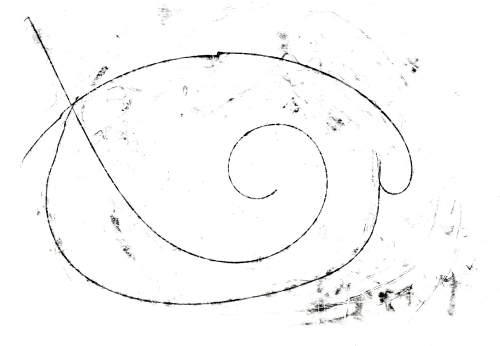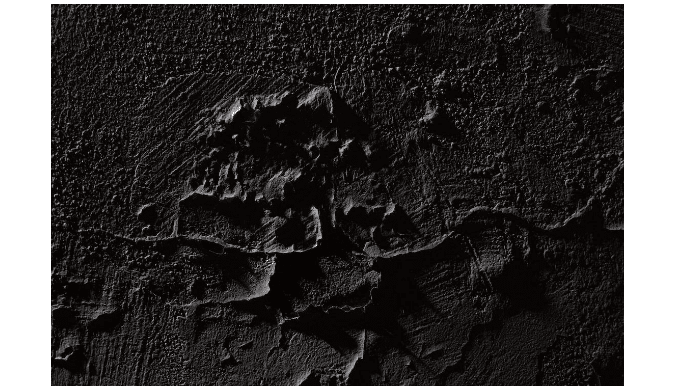Por GILBERTO LOPES*
Comentários sobre acontecimentos recentes na política internacional
Começa novembro e os números da pandemia disparam no mundo. Já são cerca de 600 mil novos casos diários. O número de mortos superou o auge do final de julho: mais de 7.500 mortes diárias. Seguimos rapidamente para os 50 milhões de casos. Ultrapassamos 1,2 milhão de mortos desde o início da pandemia, há oito meses. Apenas três países – Estados Unidos, Índia e Brasil – com cerca de 23 milhões, representam a metade dos casos em todo o mundo. Os três somam mais de 520 mil mortos. Peru, Brasil, Bolívia, Chile, Equador, México e Argentina, nessa ordem, estão entre os doze países com mais mortos por milhão de habitantes. Os Estados Unidos também estão entre eles.
As cidades desertas
Na Europa, os casos aumentaram muito na semana passada: quase 50 mil num só dia na França. Itália, Espanha, Inglaterra, Bélgica, Polônia, Alemanha, todos eles entre os dez países com mais casos diários. O presidente francês, Emmanuel Macron, tal como no início da primavera, decretou novo confinamento, até o dia primeiro de dezembro. Na última sexta-feira, o comércio não essencial foi fechado, os movimentos foram limitados. Não se poderá sair de casa sem uma autorização. Será possível sair para “toma um ar” pelos arredores, mas não mais do que a um quilômetro de casa. Fecharam-se as fronteiras para os cidadãos de fora da comunidade europeia. “Estamos sobrecarregados, perdeu-se o controle”, afirmou. Teme-se que outras 400 mil pessoas morram se não se tomarem medidas estritas de controle. Não haveria camas suficientes para atender os doentes da pandemia. “Antes até que Macron falasse, os líderes empresariais mostraram sua enorme inquietude pelas consequências das severas restrições”, disse Eusebio Val, correspondente do jornal catalão La Vanguardia em Paris. Geoffroy Roux de Bézieux, presidente do principal sindicato patronal (Medef [Movimento das Empresas da França]), advertiu sobre o perigo de queda da economia francesa. “A Confederação das Pequenas e Médias Empresas (CPME) chamou a atenção para o fato de que as empresas estão muito mais frágeis agora do que na primeira onda da pandemia e será problemático assumir maior endividamento para sobreviver”.
Decidir quem deve morrer
Com matizes, a pandemia volta a crescer em toda a Europa. As mortes por Covid-19 aumentaram quase 40% na Europa na semana passada, em comparação com a semana anterior, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). As Unidades de Tratamento Intensivo dos hospitais estão começando a lotar, disse a porta-voz da organização, Margaret Harris. É necessário observar o mapa da pandemia na Europa, os tons mais escuros da Bélgica e República Tcheca; seguidas de França, Holanda e Eslovênia. Os casos crescem na Rússia, Itália e Inglaterra. Boris Johnson decretou, no sábado, o fechamento total do país durante quatro semanas.
Na Bélgica, os hospitais pedem para seus médicos seguirem trabalhando, inclusive se estiverem infectados mas sem apresentarem sintomas, porque o sistema de saúde corre o risco de colapsar. Com quase 550 mil casos e mais de dez mil mortes, a Alemanha, que foi relativamente bem na Europa, tampouco escapa dos desafios da pandemia. Como na França, se as infecções continuarem nesse ritmo, o sistema sanitário vai atingir rapidamente seus limites. O governo perdeu a capacidade de rastrear os contágios. “Não sabemos a origem de 75% dos contágios”, disse a chanceler alemã, Angela Merkel.
Com quase 20 mil casos confirmados em 24 horas, dispararam-se os alarmes. Na quarta-feira da semana passada, Merkel adiantou novas medidas de fechamento da vida pública. “Nos encontramos numa fase de crescimento exponencial das infecções, e devemos atuar para evitar uma grave emergência sanitária nacional”. “São medidas duras e para todo o país”, disse a chanceler. A partir de segunda-feira, 2 de novembro, foram fechados os bares e restaurantes; as hospedagens em hotéis limitam-se a casos justificados. Nada de turismo.
Cada um só poderá sair às ruas em companhia de pessoas com as quais conviva; ou uma pessoa de outra moradia. Novamente as cidades, desertas, encolhem-se, tentando evitar a propagação da pandemia, como na Espanha, ou na Itália. Na Catalunha, se perguntam como foi possível passar de pouco mais de mil casos diários aos cinco mil atuais. Com um sistema sanitário capaz de atender com certa normalidade um cenário de 1.800 casos diários, nesse ritmo, apesar do aumento de leitos disponíveis, em duas semanas não haveria como atender nenhuma outra doença distinta da Covid-19.
Cresce a ocupação das UTIs, a possibilidade real de colapso voltou; uma tragédia em que a “autonomia do paciente” deve ceder lugar ao “benefício social e coletivo”, critério com o qual se decidiria quem recebe os cuidados e quem deve morrer. “A partir de 400 camas de UTI ocupadas pela Covid-19, é necessário começar a desmarcar cirurgias que permitam o adiamento. A partir de 600, o que pode ocorrer na próxima semana, suspende-se tudo e só ficam as reservas inadiáveis. Números assustadores, que voltam a retrocederao que ocorreu em março e abril passados, lembrou Adrià Comella, diretor do sistema de saúde público da Catalunha (Catsalut).
Com um registro oficial de desemprego na Espanha de 16,3%, e a taxa poderia aproximar-se de 20%, caso levem em consideração os trabalhadores submetidos ao chamado Expediente de Regulação de Emprego Temporal (ERTE), que permite às empresas adotarem medidas de emergência para enfrentar a crise. Entre os menores de 25 anos, o desemprego disparou para 40%, e 1,1 milhão de famílias tem todos os seus membros desempregados. O governo apresentou o orçamento ao congresso na semana passada, com um aumento sem precedentes do gasto público, de 20%, sustentado pelos fundos europeus de recuperação e pelos aumentos de impostos que afetam, sobretudo, as maiores rendas e as empresas.
Uma situação limite
Depois de anos de redução do investimento em saúde pública, a pandemia deixou evidente a necessidade de reverter essas políticas. Oliver Roethig e Adrian Durtschi, representantes sindicais do setor de serviços e de saúde na Europa, escreveram sobre as dramáticas condições das famílias de idosos na região. Em situação cada vez mais precária, a crise levou-os a uma situação limite. Entre 30% e 60% dos mortos por Covid-19 na Europa foram idosos dessas residências, “assustadoramente mal preparadas para atender a crise”, com redução de pessoal, pessoal pouco preparado e sem equipes suficientes. Cortaram-se os gastos para economizar dinheiro em vez de priorizar o salvamento de vidas. O resultado só podia ser um desastre, asseguram. A paralisia se generalizou nas residências de idosos durante a pandemia.
Houve um tempo em que os trabalhadores do setor diziam algo sobre suas condições de trabalho. Então, era melhor para eles e para os idosos. Mas isso é coisa do passado. Acabaram-se as negociações coletivas e as condições de trabalho deterioraram-se. “Investir em cuidado implica melhorar o nível do pessoal, de modo que os pacientes recebam a atenção digna que merecem”, afirmam Roethig e Durtschi. O problema não é a falta de recursos. O dinheiro existe, mas é distribuído para cima. Os investidores privados espreitam em busca de “oportunidades atrativas”. Especulam com a propriedade, enchem a empresa de dívidas e hipotecas. Recompram ações, pagam a dívida e distribuem dividendos aos investidores, ao que se somam outras formas de extração de riqueza. Enquanto retiram seus lucros, a empresa quebra. “Mas esses predadores sabem que os governos terão que intervir, pois não poderão deixar os idosos na rua”.
O fim da Pax Americana
“Estou de acordo”, respondeu Josep Borrell, alto representante para Assuntos Exteriores e Política de Segurança da União Europeia. O evento mais importante da nossa época é o fim dos cem anos da Pax Ameriana, disse o professorJ. H. H. Weiler, coeditor chefe do European Journal of International Law. Os Estados Unidos continuam sendo uma potência formidável, mas sua capacidade de liderança econômica, política e moral diminuiu consideravelmente, acrescentou.“É a primeira vez que não houve liderança dos Estados Unidos numa crise mundial, como foi agora no enfrentamento da pandemia de Covid-19”, lembrou Borrell. Biden explicou por que, na opinião dele, os Estados Unidos devem assumir novamente a liderança internacional que perdeu. Num artigo publicado na revista Foreign Affairs, na edição de março/abril, Biden disse que os Estados Unidos devem endurecer sua posição em relação à China, construir uma frente unida com seus aliados para confrontá-la. Fala como se a roda da história pudesse girar para trás.
Afirma-se – e com razão, disse Borrell – “que assistimos a uma intensificação das tensões entre Estados Unidos e China. Independentemente de quem ganhe as próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos, esta rivalidade entre os dois países será provavelmente o principal vetor da política mundial”. Com a China, está em disputa a presença dos Estados Unidos nos temas multilaterais – como os da Covid-19 ou do aquecimento global; a competição econômica e o desenvolvimento tecnológico; e a rivalidade nos cenários geopolíticos. Desde o que está relacionado diretamente com a soberania chinesa – como Taiwan, Hong Kong, ou o mar da China oriental –, até uma rede de alianças regionais com as quais Washington pretende limitar o crescimento chinês. Nessa rede estão Austrália, Japão, Coreia do Sul, Índia, enquanto Washington trata de recompor suas relações com o Vietnã e de consolidá-las com outros países da região.
Para Robert Kaplan, titular da cátedra Robert Strausz-Hupé de geopolítica no Foreign Policy Research Institut, os Estados Unidos necessitam urgentemente de rever seu debate sobre as relações com a China. “No nível atual de tensão entre Washington e Pequim, não se pode simplesmente seguir sem que ocorra um incidente que os dois lados depois lamentariam”, afirmou. Não se trata de boa vontade, mas de estabelecer urgentemente regras para lidar com o conflito e evitar que surjam acidentalmente hostilidades militares ou ciberconflitos que ponham em perigo a paz e a estabilidade globais.Raja Mohan, diretor do Instituto de Estudos da Ásia do Sul, da Universidade Nacional de Singapura, sugere ao próximo governante dos Estados Unidos que, caso queira uma estratégia sustentável – que custe pouco, capaz de entusiasmar seus aliados –, deve reforçar os nacionalistas asiáticos. Ao contrário do que ocorre no Ocidente, onde os movimentos nacionalistas não são populares, na Ásia ocorre o contrário, disse Mohan.
O quintal
A América Latina quase não está presente nestas análises. Sempre que a região volta a ser tratada como “quintal” dos Estados Unidos, presta-se pouca atenção em seu papel no cenário internacional. No inicio do mandato de Trump, predominavam na América Latina governos alinhados com Washington: o da Colômbia, seu principal aliado; o de Macri na Argentina; o Chile de Piñera; depois o de Bolsonaro no Brasil; o da Bolívia, depois do golpe; o do Equador, depois que seu presidente deu um giro de 180 graus na política de seu antecessor. Depois somou-se Lacalle no Uruguai; junto com o tradicional alinhamento da América Central com os Estados Unidos (salvo no caso da Nicarágua).
Mas as coisas começaram a mover-se novamente. Chegaram as mudanças na Argentina e na Bolívia, há eleições em fevereiro no Equador, o desempenho de Bolsonaro no Brasil debilitou-o. Tampouco o atual governo do México possui as mesmas relações com Washington que os anteriores. No Brasil, predisse José Dirceu – chefe do Gabinete Civil da presidência durante o governo Lula –, aproxima-se uma tempestade, “a combinação de uma crise social, econômica e institucional que porá todos à prova”.
No Chile, o triunfo aterrador (pouco mais de 78%) dos votos favoráveis à revisão da Constituição de 1980, com uma razoável participação eleitoral (similar ao primeiro turno da eleição presidencial de 2013, na qual votou a metade do eleitorado), é outro elemento a considerar no cenário político latino-americano. O ex-presidente socialista Ricardo Lagos (2002-2006) gostava de dizer que, no Chile, as instituições funcionavam. Em seu período, introduziram-se importantes reformas na constituição de Pinochet. Mas a crise atual deixou em evidência que, se funcionavam, funcionavam mal. Em abril, se elegerá a Assembleia Constituinte, o que abrirá, provavelmente, um cenário de novas lutas políticas no país.
Durante seu primeiro período, o principal objetivo de Trump na América Latina foi derrotar o governo de Nicolás Maduro. Para isso mobilizou todos os seus aliados, principalmente Colombia e Brasil, países com uma ampla fronteira com a Venezuela. A chancelaria brasileira acaba de decretar segredo para as mensagens diplomáticas trocadas sobre a visita do Secretário de Estado, Mike Pompeo, a Boa Vista, na fronteira com a Venezuela, em 18 de setembro passado.
Não obstante, depois de três anos, os resultados das políticas da Casa Branca para a Venezuela “são bastante medíocres”, avaliou o Escritório de Washington para Assuntos Latino-americanos (WOLA), um think tank com sede na capital norte-americana. Cuidadoso para evitar que se pense que faz parte do governo Maduro, o informe do WOLA, de 53 páginas – “Impacto das sanções financeiras e petrolíferas sobre a economia venezuelana”, publicado no mês passado por Luis Oliveros –, não pode ocultar que as sanções de Washington agravaram a pobreza e deterioraram o nível de vida da população.
Como ocorreu na época dos “contras”, financiados pelo governo de Ronald Reagan em sua luta contra o governo sandinista da Nicarágua nos anos 80, as sanções agravaram as condições de vida da população e criaram extremas tensões sobre os governos afetados. Depois vêm os pedidos de eleições “livres”, com a oposição financiada por Washington e o governo desprestigiado pelas graves consequências que as sanções têm sobre a vida da população. “Para nós, não importa quem ganhe nos Estados Unidos”, disse no sábado passado o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Ganhe quem ganhar, “os ataques contra a Venezuela não cessarão”. Um triunfo de Trump poderia dar um novo impulso para seus planos contra Venezuela, Cuba e Nicarágua. Em contrapartida, a política para Cuba poderia variar, dependendo de quem seja o ganhador das eleições.Biden possivelmente retomaria as políticas de Obama, que restabeleceu relações diplomáticas com o governo cubano, sem que isso significasse o fim do bloqueio, algo que exigiria mudanças na legislação.
*Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR).
Tradução: Fernando Lima das Neves.