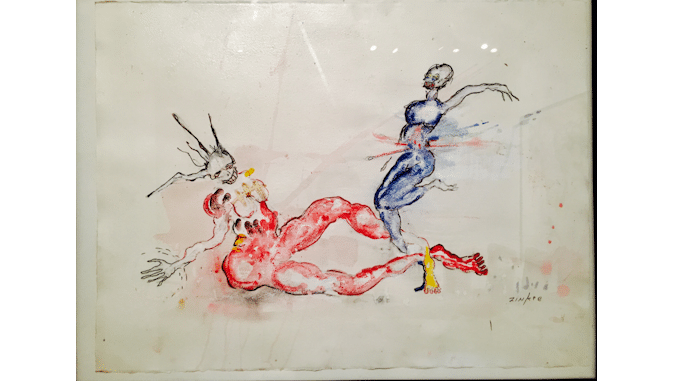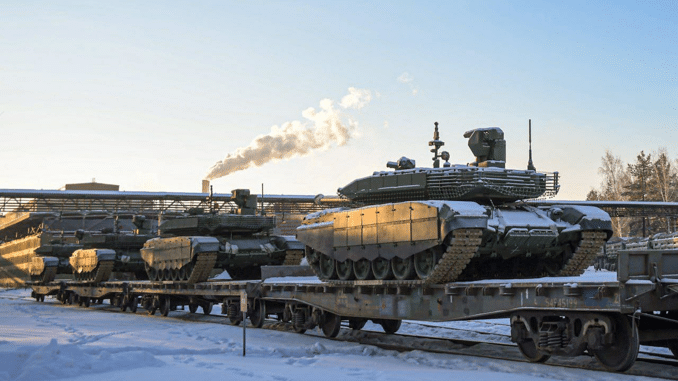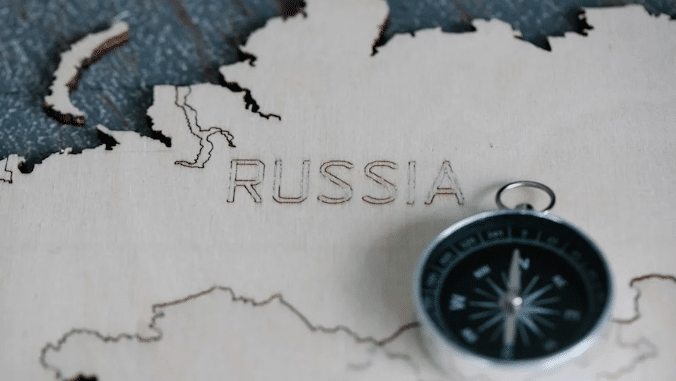Por GILBERTO LOPES*
Comentários sobre acontecimentos recentes na política internacional
Mais de cinquenta milhões de casos e quase 1,3 milhão de mortos em todo o mundo devido à pandemia de Covid-19. Só no último dia 4 de novembro, mais de nove mil pessoas perderam a vida. Um número sem precedentes, que superou as 8.530 mortes de 17 de abril, e as 7.313 de 22 de julho, os dois picos anteriores. Quase 250 mil mortos deixou a pandemia nos Estados Unidos até domingo 8 de novembro, quando o presidente Donald Trump iniciou sua jornada rumo ao final de seu governo. Mais de 1.200 mortes diárias. Restam-lhe pouco mais de dois meses para passar a presidência ao democrata Joe Biden, no próximo dia 20 de janeiro. Embora seja difícil calcular os números exatos, não parece arriscado pensar que o fará com quase 300 mil mortos na conta. Um número trágico que – juntamente com os falecidos no Brasil e na Índia – compõe quase a metade das mortes por Covid-19 no mundo.
No último dia 3 de novembro, Deborah Birx, assessora científica da Casa Branca, advertiu que o país estava entrando numa nova fase mortal da pandemia e exigiu a adoção urgente de medidas agressivas para conter sua propagação. Com um sistema de saúde orientado para o lucro – não para cuidar dos doentes –, os Estados Unidos não estão em condições de enfrentar uma crise sanitária nacional, disse o destacado jornalista norte-americano Chris Hedges, num artigo sobre as perspectivas de seu país, publicado em 5 de novembro último, e intitulado “America requiem”. Lutando por sua reeleição, o governo Trump tinha desistido de controlar a pandemia para concentrar seus esforços em encontrar uma vacina ou medicamentos para tratá-la, disse à CNN o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, no último dia 25 de outubro. Perdidas as eleições, Meadows também testou positivo para o coronavírus.
Em todo o mundo
A pandemia ganhou nova força em todo o mundo, sobretudo na Europa, onde ultrapassou os onze milhões de casos na semana passada. A Áustria e a Grécia somaram-se aos países com novas restrições de mobilidade. As medidas anunciadas pelo presidente francês, Emmanuel Macron, desencadearam o caos em Paris: um congestionamento que, no total, alcançou 730 quilômetros. As imagens mostravam as ruas repletas de carros incapazes de moverem-se para qualquer lugar. O novo período de quarentena começou na sexta-feira passada, enquanto a França registrava 60 mil casos diários, o número mais alto da Europa.
A Itália se aproxima dos 40 mil casos diários. A Polônia regista novo recorde de casos: quase 28 mil num só dia. Foram 25 mil na Inglaterra. Alemanha e Espanha, pouco mais de 22 mil. A Hungria fecha os bares e locais de entretenimento e o primeiro-ministro Viktor Orban anuncia um toque de recolher a partir de meia-noite. Todos buscam evitar que os hospitais estejam sobrecarregados por uma avalanche de doentes. O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, ordenou novas medidas de controle na semana passada: limitam a duas pessoas reunidas nas ruas que não sejam da mesma família. Os hospitais, na Holanda e na Bélgica, estão ameaçados em sua capacidade de atendimento. Na Bélgica, começaram a enviar pacientes graves de Covid-19 para serem tratados na vizinha Alemanha, alguns transportados ligados a respiradores artificiais. A Índia ultrapassa os 50 mil casos diários. O Brasil super aos 23 mil.
A semana mais extraordinária
Uma semana de acontecimentos políticos extraordinários culminou com a posse de Luis Arce como novo presidente da Bolívia, no domingo 8. Trata-se do fracassado golpe de estado perpetrado pelas forças conservadoras na Bolívia, em novembro do ano passado, encorajadas pelo falso relatório da Organização dos Estados Americanos (OEA) que sugeria ter ocorrido fraude nas eleições de 20 de outubro. As declarações do ex-chanceler costa-riquenho Manuel González, chefe da missão de observadores da OEA, sobre uma fraude que depois se comprovou inexistente, deram lugar a uma escalada que terminou com a cúpula militar forçando a renúncia do presidente Evo Morales. Durante um ano, o governo foi liderado pela senadora Jeanine Áñez, que não assistiu à passagem do poder no domingo. O parlamento boliviano recomendou a abertura de dois processos contra ela por sua responsabilidade na morte de dezenas de pessoas em manifestações que ocorreram no país após a demissão de Morales. Dois dos ministros de Áñez – o de governo, Arturo Murillo, e o de defesa, Luis Fernando López – estão proibidos de deixar o país por ordem de um procurador que os está processando por corrupção.
A partir de 10 de novembro de 2019, a Bolívia foi o cenário de uma guerra interna contra o povo, especialmente contra os setores mais humildes. Semearam-se morte, medo e discriminação, disse Arce no seu discurso de posse. A forte crise que se verificava desde o golpe, com a mudança abrupta da política econômica, aprofundou-se com a pandemia. Num ano, retrocedeu-se em todas as conquistas do povo boliviano, disse Arce. “O governo de fato deixa uma economia com números que não se viam nem mesmo nas piores crises que a Bolívia já viveu. Nosso país passou da liderança no crescimento econômico da América do Sul durante seis anos a apresentar a queda mais acentuada da economia em quase 40 anos. Atualmente temos uma queda do PIB de 11,1%. O déficit fiscal programado atinge 12,1%”.
O governo do Movimento ao Socialismo (MAS), que é liderado por Arce, irá provavelmente retomar políticas de controle nacional dos recursos econômicos, incluindo o lítio, de particular importância para o país e por cujo controle o diretor da Tesla, Elon Musk, disse que está disposto a dar golpes em qualquer lugar. Arce também defendeu os esforços de integração realizados na região no passado recente, incluindo “a recuperação da Unasur como espaço de integração e mecanismo de articulação política em que nos encontremos todos nós, independentemente da orientação política dos governos”. A Unasur, cuja sede estava em Quito, foi desmantelada, com o abandono gradual dos governos conservadores da região, incluindo os da Colômbia e do Brasil, antes do governo do Equador anunciar o fechamento de sua sede. Se os setores próximos do ex-presidente Rafael Correa vencerem as eleições nesse país em fevereiro próximo, a instituição poderá recuperar o seu funcionamento.
Well, it’s over
Sim, acabou! Mas não se trata das eleições. Para Chris Hedges – no artigo já citado –, os Estados Unidos tornaram-se um “estado falido”. Na sua opinião, há muitos atores responsáveis pela morte da sociedade aberta nesse país, incluindo a oligarquia corporativa, os tribunais e os meios de comunicação; os militaristas e a indústria bélica, que desperdiçaram sete trilhões de dólares em conflitos intermináveis “que transformaram o país num pária internacional”; a imprensa, que converteu as notícias em entretenimento sem sentido. E os intelectuais “que se retiraram para as universidades para pregar o absolutismo moral da política de identidade e do multiculturalismo, enquanto viravam as costas à guerra econômica contra a classe trabalhadora e ao ataque implacável às liberdades civis.
A vitória de Biden não transformaria radicalmente essa situação. Mesmo que Biden ganhe, disse Jonathan Tepperman, editor-chefe da revista Foreign Policy, os Estados Unidos são de Trump. Muitos pensaram que o resultado das eleições de 2016 foi um acaso. Agora, com mais de 71 milhões de votos – oito milhões a mais do que conseguiu na ocasião – e com 48% dos votos populares dados a ele, é impossível seguir argumentando assim, diz Tepperman. O sentimento é generalizado, na opinião de um grande conjunto de autores destacados. Susan B. Glasser, jornalista do The New Yorker, afirmou: “Biden pode ganhar, mas Trump continua sendo o presidente dos Estados Unidos vermelhos”. Com a contagem dos votos apenas no início, Glasser já vislumbrava a possibilidade de Trump acabar com mais votos do que em 2016. O que de fato aconteceu, como vimos.
“Agora, o quê?”, ele se pergunta. “Podemos dizer algo: a ansiedade e incerteza desta etapa eleitoral continuará na luta pós-eleitoral, com potencial consequência para nossa democracia. É algo que vai muito além da questão de como contar os votos”, disse ele. “A vingança não é o único perigo que nos espera. Mesmo derrotado, Trump pode usar seus poderes executivos para causar danos adicionais significativos antes do próximo dia 20 de janeiro”, que é quando Biden tomará posse. “Há muitos cenários catastróficos que poderíamos ver, bem de acordo com o que foi a presidência de Trump”.
Ainda dividido
Para Martin Kettle, colunista do jornal britânico The Guardian, a mensagem destas eleições é que os Estados Unidos seguem divididos, que o país ainda não está livre do cenário de 2016, nem do clima criado por Trump, com a sua negação das mudanças climáticas, o racismo crescente, as políticas isolacionistas e as iniciativas para controlar o poder judicial, especialmente a Suprema Corte. Os trabalhadores brancos do “cinturão da ferrugem” e dos estados do meio-oeste, que continuam votando em Trump, têm muitas razões para fazê-lo, disse Kettle: eles sentem-se ignorados, seus trabalhos e comunidades desapareceram, pensam que outros (incluindo os estrangeiros) estão fazendo bons negócios e querem que alguém fale por eles. Para eles, essa voz é a de Trump.
Longe de dedicar-se a estas questões, a campanha de Biden concentrou-se na má gestão da pandemia por parte da administração Trump. A boa votação de Trump mostrou – acrescenta Kettle – que o determinante não foi a Covid-19, nem a morte do negro George Floyd, sufocado pelo joelho de um policial branco em Minneapolis. Foi a economia e o trauma causado pela crise financeira de 2008, que nunca foi totalmente superada. Em todo caso, estas eleições não foram o divisor de águas que muitos no mundo e pelo menos metade dos americanos esperavam. “Não foi a rejeição catártica que parecia possível no verão”. “Mesmo que Trump perca, o trumpismo terá triunfado. Qualquer derrota será apresentada como sendo, na melhor das hipóteses, estreita e, na pior, ilegítima.
Uma América do Norte que parece já não existir
É a mesma ideia defendida pelo historiador inglês Adam Tooze, professor de história em Yale. Seja qual for o resultado das eleições, a verdade é que não produziu um repúdio generalizado de Donald Trump. Pelo contrário, os resultados provaram ser uma reacomodação equilibrada da política norte-americana, profundamente polarizada. Ainda que tenha perdido na votação popular – como em 2016 – Tooze lembra-nos que Trump segue tendo um enorme apoio nas pequenas cidades e áreas rurais do país. Apesar da sua hostilidade em relação aos imigrantes, obteve grande apoio entre cubanos e venezuelanos, mas também entre mexicanos-americanos no Texas. Neste momento, ninguém deve ter quaisquer ilusões sobre o que Tooze chama “o bloco eleitoral nacionalista e xenófobo”.
O resultado final ainda estava, contudo, pendente na Câmara e no Senado. Na primeira, os democratas provavelmente continuarão com a maioria, porém mais reduzida. No Senado, com 48 senadores para cada partido, os quatro lugares que faltam para decidir serão decisivos. Em todo caso, um possível empate com 50 senadores por partido daria aos democratas o controle da casa, pois se somariam ao voto da vice-presidente Kamala Harris.
O formidável inimigo de Biden no Congresso será o líder republicano no Senado, Mitchel McConnell. Biden anunciou a sua vontade de negociar. Mas este é um sinal sinistro, que tem animado Wall Street, diz Tooze. Nada com que McConnell concorde permitirá a Biden enfrentar a crise social de milhões de americanos desempregados, nem apoiar cidades ou estados em dificuldades.
Algo mais. A administração Biden irá enfrentar o legado mais formidável do governo Trump: tribunais nas mãos de juízes pró-negócios e anti-regulamentações, resultado de nomeações feitas por Trump para um quarto dos juízes federais durante o seu mandato, incluindo, naturalmente, a grande maioria na Suprema Corte. O que poderia o presidente Biden fazer, pergunta Edward Luce, no Financial Times. A resposta curta, diz ele, “é tentar encontrar uma América do Nortede centro que parece já não existir”.
Um esforço extraordinário
De qualquer forma, não é assim que o senador Bernie Sanders vê as coisas. Numa breve intervenção, no domingo 8 de novembro, o senador de Vermont apresentou seu programa para esta nova etapa. Primeiro, Sanders lembrou Biden que não teria tido sucesso sem o apoio das organizações progressistas das quais é o principal porta-voz. “É importante que a nova administração avance rápida e agressivamente para resolver os enormes problemas do nosso país”, disse, anunciando a apresentação nas próximas semanas, no senado, de uma agenda que ele gostaria de ver aprovada nos primeiros 100 dias do novo mandato.
Uma agenda que inclua um pacote de atenção aos desempregados e às pequenas empresas afetadas pela Covid-19; que ponha fim “aos salários de fome nos Estados Unidos”; que facilite a adesão dos trabalhadores a sindicatos e ofereça salário igual para trabalho igual; ou que crie bons empregos para a reconstrução da “nossa infra-estrutura destruída”. Sanders também propôs que os cuidados em saúde sejam considerados um direito humano, “enquanto avançamos para um Medicare for all”, e que se reduzam os preços exorbitantes dos remédios; que seja possível para toda a classe trabalhadora jovem obter uma educação universitária sem ter que se endividar; que se melhore radicalmente “nosso sistema disfuncional de atenção infantil”; que o país lidere a luta contra as mudanças climáticas e transforme a utilização de combustíveis fósseis num modelo energético eficiente e sustentável. Uma agenda na qual se exija dos mais ricos e das grandes corporaçõeso pagamento de impostos de acordo com a sua riqueza.
E, finalmente, que ataque “o sistema racista que prevalece no nosso país” e transforme o criminoso sistema judicial racista; que inclua uma reforma da política migratória e conceda cidadania aos sem documentos. Para isso, Sanders contará com a formidável equipe de congressistas composta por Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar, Rashida Tlaib e Ayanna Pressley, conhecida como “o esquadrão”, situadas à esquerda do Partido Democrata, todas elas reeleitas. Numa entrevista ao New York Times, Ocasio-Cortez advertiu que, se Biden não tomar posições progressistas, o partido sofrerá uma grande derrota nas eleições de meio-período, daqui a dois anos e declarou terminada a trégua com os setores mais conservadores do Partido Democrata.
*Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR).
Tradução: Fernando Lima das Neves.