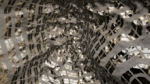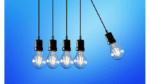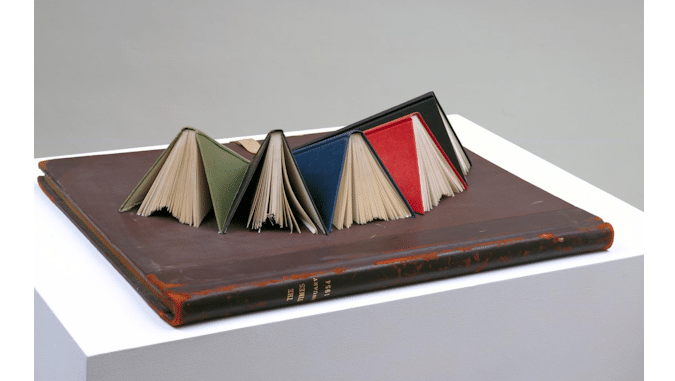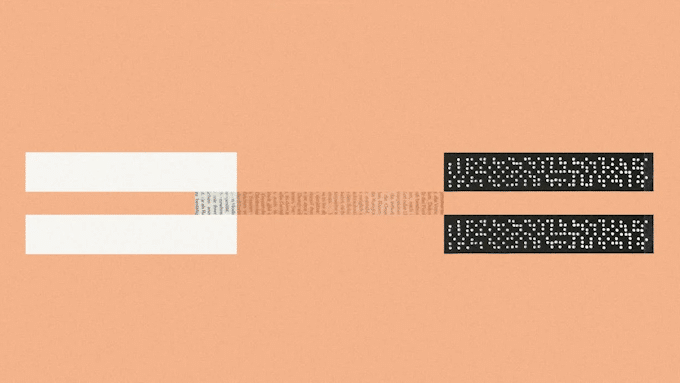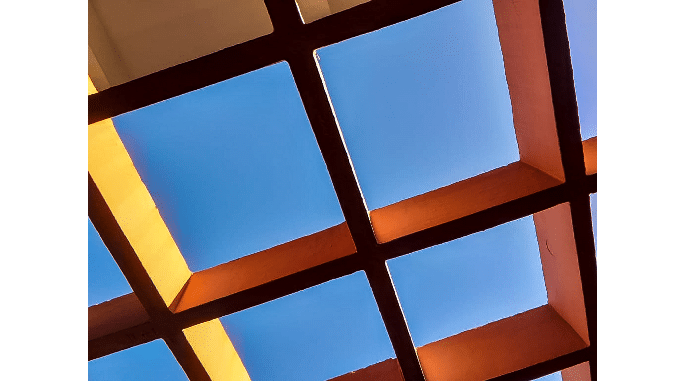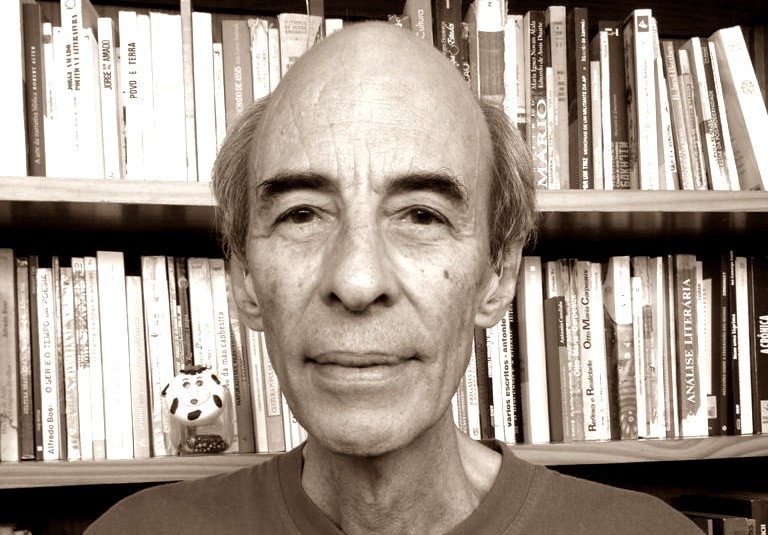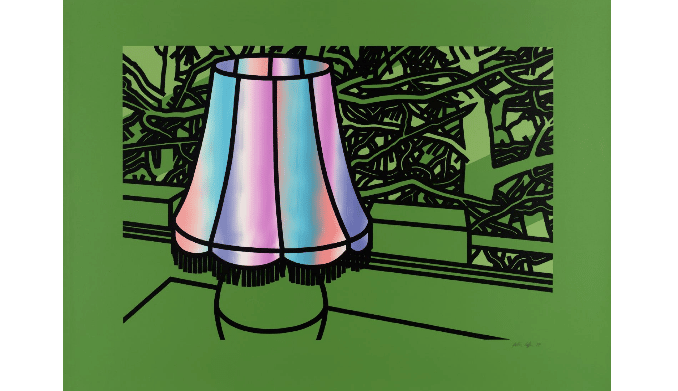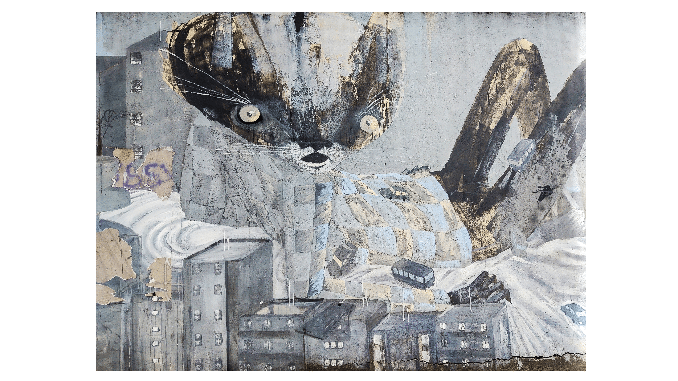Por LINCOLN SECCO*
A função principal de uma monarquia contemporânea é o espetáculo
A morte da Rainha da Inglaterra em 2022 trouxe uma vaga de homenagens a uma instituição desgastada, mas resiliente. Basta contrastar com a outra “grande” monarquia europeia, derrubada várias vezes desde a invasão napoleônica e ressurrecta em plenos anos 1970.
Em 2014 o Rei Juan Carlos de Bourbon abdicou em favor de seu filho, Felipe VI. Atribuiu-se a transição dinástica aos escândalos que só reafirmaram a sua controversa biografia. Afinal, nada havia de novo no polêmico safári africano em que ele alvejou elefantes em extinção. Caçar é a principal função da nobreza depois que ela perdeu seu papel militar. Juan Carlos tinha em seu passado problemas muito maiores. Quando tinha 18 anos matou «acidentalmente» seu próprio irmão com um tiro.
A reinvenção da Monarquia espanhola em 1975 foi uma traição do ditador Francisco Franco ao próprio fascismo espanhol que era tudo menos monarquista. Por outro lado, a sua oposição se definia como republicana. Por isso, muitos espanhóis se perguntam com toda a razão por que preservar uma monarquia tão recente e sem base social.
Criou-se a lenda de que Juan Carlos seria um elemento moderador, fato demonstrado quando ocorreu uma tentativa de golpe militar em 1981 e o monarca, convenientemente, não apoiou, já que se tratava de uma quartelada de uns poucos oficiais descontentes.
Mas o movimento dos indignados, os escândalos de corrupção da família real e o ressurgimento de propostas separatistas tornaram a figura do rei inconveniente. No entanto, monarquias contemporâneas insistem em permanecer no cenário político em pleno século XXI. Qual a razão?
O que foi a monarquia?
A Monarquia foi um sistema baseado fundamentalmente na autoridade tradicional de um indivíduo dotado de poder mágico e tendencialmente absoluto. Assim, o Rei não tinha sua autoridade legitimada por leis, mas por costumes; não governava cidadãos, mas súditos. Rigorosamente, não havia opinião pública nem sociedade civil e muito menos a ideia de liberdade.
Um reino era a extensão da família. Os súditos eram filhos num Estado patrimonialista e paternalista. E, como diria o historiador francês Emmanuel Le Roy Ladurie, a própria população enxergava na família real e no Estado, que era o patrimônio do Rei, uma representação das próprias famílias dos súditos.
É claro que esta definição é um tipo ideal. Reis nunca foram totalmente absolutos. Em primeiro lugar porque precisavam respeitar as franquias (liberdades) de corpos específicos do Estado. Além disso, o estado moderno possuiu menos controle de seus súditos do que o estado contemporâneo dotado de um inigualável poder sobre o território e os cidadãos.
Monarquia fake
As Monarquias foram deixando a cena ao longo dos séculos, quando as chamadas revoluções burguesas destronaram os reis e criaram um sistema legitimado não mais por tradição e costumes, mas por leis.
Mas ao contrário do que se pensa, a burguesia não governou depois disso. Ao contrário. O historiador Arno Mayer demonstrou que a aristocracia continuou firme no leme das principais potências europeias. Até as duas guerras mundiais do século XX as forças do Antigo Regime eram politica e culturalmente dominantes e a propriedade da terra era ainda o sinal máximo de riqueza.
No caso inglês isto explica a permanência da coroa britânica. Mas para isto foi preciso inventar tradições (como diria Eric Hobsbawm) para justificar sua continuidade. Em 1917, no meio da Guerra, o Rei George V alterou os sobrenomes alemães de sua família e criou a Casa de Windsor. Afinal, a Inglaterra estava em guerra com a Alemanha. Isso não impediu que Eduardo VIII, coroado em 1936, fosse um simpático do nazismo, o que o transformou em figura inconveniente até que foi forçado a abdicar sob o pretexto de querer se casar com uma estadunidense divorciada duas vezes.
No início da primeira guerra mundial havia apenas três repúblicas para 17 monarquias. No final havia tantos estados republicanos quanto monárquicos porque surgiram novos estados nacionais. As monarquias tiveram, então, que se redefinir. Elas jamais foram nacionalistas porque um mesmo rei governava territórios e povos em muitos lugares distintos. Ainda hoje a o novo rei Charles será nominalmente soberano de países tão diferentes como Austrália e Jamaica.
Fim das monarquias?
Nos últimos decênios transformações culturais profundas arrancaram os últimos alicerces monárquicos. A família extensa hierárquica, aquele microcosmo da realeza, erodiu-se. O casamento monogâmico obrigatório e o autoritarismo paterno entraram em crise, ao menos no Ocidente, embora o machismo persista.
A atual família real sueca descende de um general de Napoleão Bonaparte e a atual herdeira do trono sueco casou-se com seu personal trainer. A Rainha Consorte da Holanda é filha de um ministro da ditadura argentina. A princesa Martha Louise da Noruega anunciou noivado com o americano Durek Verrett, charlatão espiritualista que denunciou a própria ex-mulher para deportação. A futura Rainha da Noruega é plebéia e mãe solteira, o que não tem nada de errado para pessoas comuns. Mas não é o que se espera de uma instituição retógrada como a Monarquia. Ou talvez seja exatamente isso?
Costuma-se contrapor o exemplo “tradicional” da realeza britânica com a novíssima monarquia espanhola. Nada mais falso, como já vimos. As tradições de uma e outra são igualmente inventadas. Mas isso não quer dizer que a da Inglaterra não exerça fascínio maior. Antes de tudo porque a Grã-Bretanha perdeu grande parte do seu império, mas se manteve como uma potência econômica, colonialista e militar e a Espanha não.
A morte da Princesa de Gales, Diana ao lado de seu namorado, o milionário egípcio Dodi Al-Fayed em 1997 reacendeu a polêmica da sobrevivência da monarquia. É que o acidente caiu como uma luva para a família real britânica manter suas “tradições” e evitar um muçulmano. Logo se viu de jovens punks a velhas senhoras lacrimejando diante de redes de televisão.
Mais do que render notícias, o papel das famílias reais é produzir regularmente escândalos que encantam as multidões. Mas só até o próximo capítulo. É quase indiferente chorar pela princesa abandonada e supostamente morta pelo serviço secreto inglês (no imaginário midiático) ou lamentar a morte de Airton Senna. A espetacularização dos dois é um mesmo fenômeno.
Mas há uma diferença de conteúdo nada negligenciável. O ritual démodé que primeiros ministros devem cumprir diante da monarquia serve para dividir a atenção pública entre aqueles enfadonhos burocratas que governam a Europa e a figura midiática de um monarca. Esta é a função da Monarquia onde o acaso histórico permitiu que ela ainda exista.
Por que non te callas?
Com esta frase típica da cortesia de um rei que ainda imaginava a América Latina como sua colônia, Juan Carlos interpelou o presidente da Venezuela na Conferência Iberoamericana de 2007. Como Chavez era o inimigo dos Estados Unidos no momento, a opinião publicada deu ao rei da Espanha seu último minuto de celebridade.
Mas ninguém perguntou ao rei: ¿por qué todavía hay reyes?
Como Marx ensinou, a política é um teatro. Nela, as desigualdades terrenas aparecem representadas no mundo celestial sem conflitos sociais. Que uma celebridade um tanto cômica assuma o poder visível do estado enquanto burocratas «impessoais» nos governam de fato, é uma imposição da vida moderna.
Cada vez mais a produção da própria política pertence à indústria do entrenimento. Chefes de estado devem ser gerados por operações de marketing tanto quanto um astro de cinema ou de futebol.
Incluindo pequenos Estados que só sobrevivem por condescendência histórica ou enquanto paraísos de bilionários como Mônaco ou Liechtenstein, ainda há 12 monarquias europeias.[1] Perdida a sua razão histórica de existir, elas se combinaram muito bem com a nova exigência da política contemporânea. E isto explica sua manutenção.
A função principal de uma monarquia contemporânea é o espetáculo. A economia foi naturalizada e os teólogos do novo dogma capitalista justificam a total independência de Bancos Centrais e o socorro estatal a grandes bancos em falência. Ninguém elege os burocratas que efetivamente governam a economia europeia.
*Lincoln Secco é professor do Departamento de História da USP. Autor, entre outros livros, de História do PT (Ateliê).
Nota
[1] Ou treze com a monarquia eletiva do Vaticano, mas sua natureza é distinta, pois é religiosa e, durante a unificação italiana, perdeu os territórios do passado que lhe permitiam interferir na política europeia.
O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores. Ajude-nos a manter esta ideia.
Clique aqui e veja como