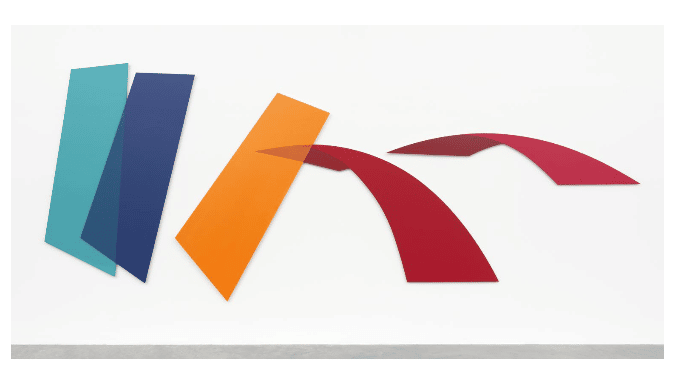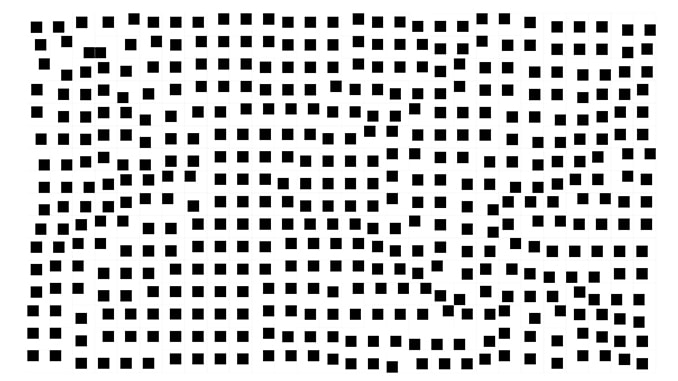Por Luiz Roncari*
O Grande Sertão: Veredas, como todo grande livro, foi logo visto como um texto carregado de atrações, onde se tinha de tudo e para todos. À medida que foi sendo explorado pela crítica, notou-se também que era composto por diversas camadas de sentido que se superpunham. E foi assim que ele se mostrou, generoso, dando a possibilidade das mais diferentes leituras: linguísticas, estilísticas, históricas, sociológicas, mitológicas, psicanalíticas, esotéricas; a sua bibliografia é imensa e variada. Com a decantação delas, necessárias, e uma vez incorporadas as suas contribuições, seria então possível uma visão menos segmentada e mais integrativa, holística; era este o desafio, apreciá-lo por inteiro, no seu todo, seria talvez esta agora a tarefa da crítica.
Pelo menos para o leitor brasileiro, o livro também mostrou que, além dos aspectos atrativos, tinha um fundo arenoso, composto de uma farinha fina altamente incômoda, que resseca a nossa língua e garganta e pode nos sufocar. Isto porque o Grande Sertão é também um livro especular – embora se pretenda em tudo avesso a isso. Porém, nas manchas das imagens turvas refletidas, ele nos revela também a nós mesmos, como humanos e na nossa particularidade. Penso nos retratos dos mercadores ricos, doges e Papas, de Giorgione, Bellini e Tiziano: apesar do luxo das vestes ricas e empetecadas, eles refletem também com as belas aparências, uma trinca e um fundo escuro das suas almas, que não é bem o que procuramos no espelho. É um pouco disso que irei falar.
Guimarães Rosa, além de profundo conhecedor da literatura brasileira, o era também das literaturas clássicas e modernas europeias, e todas lidas nas respectivas línguas originais. De modo que os seus referenciais eram os mais altos e, ao escrever o seu romance, revela-nos que as suas pretensões não eram pequenas, ao contrário, ele se propunha a um livro para ombrear com os melhores das grandes literaturas, do seu presente e passado. Nesse plano, ele não respeitava fronteiras temporais, espaciais ou linguísticas. Mas sabia também que tudo o que fizesse, carregaria consigo o Brasil: um lugar do antigo mundo colonial português, de passado escravista, ainda atravessado por todos os ranços e as deformidades que isso implicava.
A experiência social e espiritual adquirida nele é que serviria de estofo às suas representações e, por mais que quisesse, não conseguiria se desvencilhar delas, nem conviria, pois eram as mais formadoras que possuía, mesmo depois de já vivido em grandes centros adiantados, como Alemanha e França. Assim, ele era também um condenado, e tinha plena consciência disso, de que as altas aspirações que o conhecimento lhe possibilitava, teriam sempre que arrastar consigo o mundo reduzido da vivência rústica, e, pela sua grandeza pessoal, sabemos que a prezava tanto quanto a erudita. De modo que devemos ler esse livro também a partir da mesma pauta usada por Antonio Candido para falar da Formação da Literatura Brasileira, quando ele diz, no final do livro, referindo-se a um ensaio de Machado de Assis: “combinando de modo vário os valores universais com a realidade local e, desta maneira ganhando o direito de exprimir o seu sonho, a sua dor, o seu júbilo, a sua modesta visão das coisas e do semelhante”. [i] Um pouco antes, ele havia escrito, “a literatura acompanha a própria marcha da nossa formação como país civilizado, contribuindo para definir a sua fisionomia espiritual através da descrição da sua realidade humana, numa linguagem liberta dos preconceitos linguísticos”. [ii] O grifo, “país civilizado”, é meu, pois será importante para o desenvolvimento desta exposição.
Guimarães viveu a mesma oscilação do escritor no antigo mundo colonial entre o universal e o particular: ele olhava para os altos modelos literários, mas não conseguia se livrar das asperezas da vida na antiga colônia escravista. De modo diferente, mas também como James Joyce, que, ao escrever a sua epopeia de vanguarda, Ulisses, não se desvencilhava da sua Dublin católica e provinciana. Porém, nosso autor mineiro usava as suas experiências para dar estofo e concretude aos seus projetos mais elevados e abstratos. Seria para ele a atitude mais sábia.
O grifo da última fala de Antonio Candido, no livro publicado em 1959, apenas três anos depois do Grande Sertão, de 56, o fiz só para exemplificar como a camada de homens cultos desse tempo trazia consigo a angustiante pergunta que se fazia sobre o Brasil: no que daria o nosso processo político-social, em civilização ou sertão? Homens como Antonio Candido, Mário de Andrade e Sérgio Buarque de Holanda (este, um pouco depois, organizará uma coleção que chamou de História Geral da Civilização Brasileira), pelo que escreveram, acreditavam na primeira hipótese – ainda que fosse uma civilização ”solar”, como dizia Mário de Andrade, ou “penumbrosa”, como talvez dissesse Oswald de Andrade, e para isso lutaram, principalmente com as suas obras, mas não só, já que foram homens também compromissados na nossa vida política.
Desde o começo de meus estudos sobre Guimarães Rosa, nos anos 60, quando ainda no país se compartia com a visão crítica da academia uma idílica do sertão e do cangaço, concordava com outros estudiosos que afirmavam que o Grande Sertão falava de uma travessia civilizatória, que, de certo modo, era para o autor a própria história do Brasil. Para ele, o país transitava de um mundo hobbesiano, violento, onde dominava a luta de todos contra todos, segundo a lei do mais forte, do astuto e da traição, sertão, para um mundo mais ordenado pela Justiça e de vida institucionalizada. O modelo a que aspirava o herói Riobaldo, e por isso pode ser também considerado um herói-civilizador, era o da cidade da Januária, tal como aparece no livro, com toda a sua força simbólica, de uma vida com as comodidades urbanas, como toalhas limpas nos hotéis, passeios na praça, “a passeata das bonitas moças morenas, tão socialmente […], cheirando a óleo de umbuzeiro”, e a saborosa cachacinha. Ou então, para não sairmos do romance, da pacificada e feminina Veredas Alas, da fazenda Barbaranha, de seo Ornelas e dona Brasilina, local onde se dava, no final do livro, o apaziguamento do grande proprietário rural com o homem do capital, seo Habão, e o casamento e a integração familiar do herói por ele patrocinada. Mas, agora que o banho químico do tempo presente dissolve as instituições políticas, jurídicas e culturais do país, com as milícias dos novos jagunços nos porões do Planalto e um corpo militar de generais tutela e modera o poder civil, mais bravo do que ele, as perspectivas parecem se inverter e se ajustar mais do que nunca à verdade profética da canção do bando de Riobaldo:
Olerereêe, bai-
ana…
Eu ia e
não vou mais:
Eu fa-
ço que vou lá dentro, oh baiana,
e volto
do meio
p’ra trás… [iii]
É importante, na leitura, respeitarmos as cesuras e os cortes dos versos, pois eles duplicam e reforçam o sentido da letra, onde o “p’ra trás…” fica isolado no verso final e assim o acentua, “ p’ra trás...”. Tudo indica que caminhamos hoje para uma situação de incivilidade, no sentido de redução do caráter civil, urbano e pacificado das nossas relações e de retorno à vida agressiva e rústica armada do sertão. Esse seria o tema do livro que o nosso presente atualiza, um fato extemporâneo que desperta e ativa no texto a possibilidade de novas leituras. Se tiver tempo, voltarei a isso. Agora, é da forma que pretendo falar, voltemos à ficção.
A Face Branca – Depois do Julgamento de Zé Bebelo e da passagem do bando pela pastoral da Guraravacã do Guaicui, com o anúncio da morte de Joca Ramiro, quando os homens leais ao chefe morto saem em busca de Medeiro Vaz para substituí-lo, inicia-se um momento carregado de referências de que se estava no meio de alguma coisa; em duas páginas, o herói-narrador diz: “Travessia, Deus no meio”; “Aqui é Minas; lá já é Bahia?”; “Minha vida teve meio-do-caminho?”; “O São Francisco partiu minha vida em duas partes”. Antes um pouco, ele afirmara, num trecho muito observado e comentado pela crítica: “Aqui eu podia pôr ponto. Para tirar o final, para conhecer o resto que falta, o que lhe basta, que menos mais, é pôr atenção no que contei, remexer vivo o que vim dizendo. Porque não narrei nada à-toa: só apontação principal, ao que crer posso. Não esperdiço palavras”. [iv] O que gostaria de acrescentar, é que se estava também no meio físico do livro. Na 3a. edição, que acompanha a segunda, dada como a definitiva pelo autor, num volume de 572 páginas, essa passagem se dá na página 292, só seis depois do juste-milieu. E ela nos pede que revisitemos o que já foi dito, “pôr atenção no que contei, remexer vivo o que vim dizendo”, para conhecermos o que virá, “conhecer o resto que falta”, e esse “resto” é nada mais nada menos do que a metade do livro, embora alguma coisa dela já nos tenha sido adiantado, porém ele a recontará.
O que o leitor se dará conta é que estava numa virada, numa dobra acentuada da narrativa, numa espécie de cotovelo, de cuja dimensão ele já havia sido alertado um pouco antes, quando o herói-narrador disse: “Saímos, sobre fomos. Mas descemos no canudo das desgraças” [v]; bem mais adiante, ele confirmará, dizendo, terem “descido na inferneira”. [vi] O que de fato se alterava no plano narrativo? Para quem imaginava o livro como a elocução do herói-narrador num fluxo homogêneo e contínuo, se levar em conta o que foi dito por ele e tomar a serio o seu alerta, verá que a mudança de uma parte para a outra é profunda, tanto na forma como no conteúdo.
O que parecia um contar numa disposição espontânea dentro das mesmas normas, para alguns, labiríntica ou abismal, seguindo o impulso do herói e o trotar da comitiva cavaleira, poderá ver que ela seguia um desenho, para não dizer um projeto previamente pensado e estabelecido, pelo significado profundo que possuía. Isso só poderá ser percebido a partir da redução da narrativa às suas linhas mais definidoras, nos dois planos, nos do fundo e da forma, que não podem ser desmembrados, pois se fundem na dimensão do sentido, na medida em que um confirma e se confunde com o outro.
A primeira parte do romance, em meu livro de 2004, O Brasil de Rosa, eu a descrevia como uma linha ascendente, lenta, subjetiva e digressiva, composta de muitos casos e intercalações. Eu dizia, “os episódios se encadeiam dispersivamente, num desenvolvimento lento e truncado, através dos divertimentos das estórias paralelas, das fugas da ação principal e dos circunlóquios retardadores, voltando sempre, porém, para o seu fulcro temático: a formação e a vida de aventuras do jagunço Riobaldo. A narrativa, ao desenvolver-se desse modo, criava a impressão de uma subida íngreme e cheia de voltas no seu movimento ascensional, como se fosse a primeira face do trapézio, que vai da esquerda para a direita e de baixo para cima”. [vii] Isto lembrava o modo de composição da pintura renascentista italiana, do que era um grande apreciador, como vemos nos seus diários de viagem, a qual partia de um disegno interno estruturante, como o triângulo e o círculo, para sobre ele compor as suas figuras. Cabe ao leitor fazer essa redução do tumulto dos fatos aos seus traços essenciais da geometria.
De fato, na primeira parte, o relato seguia de perto os modos da narrativa moderna, acompanhando o fluxo verbal e subjetivo do herói-narrador, que selecionava os episódios a serem contados segundo as suas motivações próprias, subjacentes, de modo desordenado e embaralhado. E isso era feito para contar um fato muito novo: a aquisição pelo sertão do que havia de mais moderno, a instituição do tribunal e a experiência da conquista da justiça. Este fato era o ápice do moderno no modo moderno de narrar. Essa seria a face branca do trapézio, a da formação do herói e dos ganhos civilizatórios pelo sertão.
O julgamento era o marco da fundação de uma nova ordem institucional, que iria conviver com a do sertão, a da violência que dominava o seu mundo, onde vigoravam as relações agressivas e militares, a lei do mais forte, mais próxima da natureza, a da esperteza e da traição. Era tudo muito brasileiro. A aceitação do tribunal por Joca Ramiro afirma um dos traços da sua singularidade diante dos demais chefes jagunços. Ele era uma figura real, que sabia combinar em suas mãos as três alturas do poder: a força militar, a astúcia da política e a maior de todas, o senso de justiça, as mesmas de Zeus/Júpiter.
Com isso, ele fazia o sertão incorporar as instituições modernas da justiça, sem negar porém a ordem sertaneja, a senhorial tradicional, pois era a única então vigente e, sem ela, seria a anomia, o vazio da nenhuma autoridade. Era esse o pensamento do conservadorismo esclarecido, bem do tipo daquele do amigo do autor, Afonso Arinos de Melo Franco. Desse modo, não é por acaso que o julgamento de Zé Bebelo se dá num pátio sob o patrocínio da casa-grande, do doutor Mirabô de Melo, onde ele permanecia, apesar do corpo “mesmo ausente” [viii], em espírito presente.
A grandeza de Joca Ramiro estava em procurar o impossível, acomodar o elemento civilizatório à selvageria do sertão, onde dominava por excelência o poder privado dos senhores do mando e das milícias jagunças. Porém, ele foi traído por uma parte dos seus próprios homens, a do Hermógenes e Ricardão, e pagou com a vida. Guimarães, que, nos anos da escrita do Grande Sertão, servia no Itamaraty, como Chefe de Gabinete de João Neves de Fontoura, político gaúcho e ministro muito próximo de Getúlio Vargas, e a quem o autor tinha em alta conta, quando publicava o livro, em 56, acabara de assistir aos episódios do seu suicídio trágico, em 54, quando pressionado pelas forças liberais das elites, as mesmas do golpe de 2016: militares, judiciário, imprensa, entidades patronais com quem havia insistido sempre em pactuar e conciliar.
O autor, que havia acompanhado os seus governos a partir de Minas Gerais e não de São Paulo, foco da reação de 32, já havia assistido a outros golpes e tentativas de golpe contra Getúlio, como em 32, 35, 37, 45 e 50, coroados em 54. [1] Mas isto pode ter sido uma simples coincidência, o autor, que tinha altos desígnios literários, não poderia deixar que os fatos rebaixados e miúdos da história respingassem tão fundo no seu texto. Seria mesmo assim? Não se trata aqui de estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre a história e a literatura, mas de trazer mais um complicador à sua complexidade de leitura, que precisa também de ser levado em conta e não obnubilado, para a compreensão do texto na sua integridade, se aceitamos a hipótese inicial de que o livro nos fala da tentativa de uma travessia civilizatória.
A pouca atenção dada pelos fatos da história e do mundo na leitura do livro pode ser atestada pela relevância que se deu ao Pacto com relação à pouca dada à aliança firmada entre o herói e seo Habão, o poder militar e o capital. Só que esta, apesar de comezinha, de fato se deu e foi selada e confirmada com o presente do cavalo Siruiz, o que tornava o herói num devedor do segundo. Enquanto que o Pacto, ficamos na dúvida, não sabemos se ele houve ou não, mas o mistério das forças do divino universal é sempre mais maravilhoso.
A Face Negra – A partir da morte de Joca Ramiro à traição, o tema do livro passa a ser o da busca da vingança e não mais o da justiça, o que faz o seu sentido se reverter do moderno para o que havia de mais arcaico, inclusive na literatura: a morte à traição e a busca da vingança. Nada mais tradicional. Toda essa segunda parte do livro, que eu chamei de “face negra”, por ser de lutas, perdas e mortes, se concentra nos episódios com vistas a isso: a busca da vingança de Joca Ramiro, morto à traição. Era esta a regra maior do sertão, que retornava de novo como norma, e na qual nem os traidores dormiam mais sossegados. Não preciso ir buscar exemplos em Shakespeare ou nas cortes europeias e distantes do nosso presente, quando a traição passou a ser a regra. E, no plano da forma, a narrativa deixa de ser só subjetiva, dispersiva e embaralhada, para se concentrar na sequência objetiva dos episódios que levarão à realização desses desígnios. E eu trabalhei isso em meu último livro, Lutas e Auroras – os avessos do Grande Sertão Veredas, do qual citarei aqui, para finalizar, um pequeno trecho:
“Quanto à ordem narrativa, daqui para frente haverá nela também uma rearticulação, aparentemente no sentido oposto ao dos acontecimentos. Se nestes, ‘o mundo nas juntas se desgovernava’, [como diz o herói-narrador] agora, naquela, ela será melhor ordenada, como se demandasse uma readaptação da forma ao seu novo conteúdo, predominantemente épico, como se um mundo em convulsão demandasse ordem e sentido. O que apreciamos […] é a necessidade do desembaralhamento do narrado. Quer dizer, de se desfazer o imbróglio que misturava episódios de tempos distintos, e, para isso, vem a necessidade de se recuperar alguns acontecimentos já relatados.
Ocorre aqui um movimento de substituição da perspectiva de simultaneidade pela de sucessão”. [ix] O que equivalia a uma volta à velha ordem, da sincronia à diacronia, tanto no plano narrativo quanto no seu conteúdo, “Pois agora o sentido da luta passava a ser regressivo também e se invertia. Enquanto a ordem narrativa anterior fazia o tema modernizante da busca da justiça no sertão entrar no formalmente moderno, agora ela se realinhava e irá do moderno ao tematicamente arcaico: deixará de ser o da busca da justiça […] para ser o exclusivo da procura da vingança na sua sequência episódica. Desse modo, tanto na forma como no conteúdo, caminhamos do moderno ao arcaico. Seria como se as forças [míticas] do eterno retorno voltassem e se impusessem à [histórica] da travessia.” [x]
Com isso, a profecia da canção se realizava, voltávamos “do meio/ prá trás…”. Essa segunda parte se dava antes do final lutuoso do livro, também carregado de Auroras, a do herói acomodado, “quase barranqueiro”, ainda envolto pelo véu melancólico da perda do amor selvagem de Diadorim, como se fosse preciso que a morte adubasse o outro futuro, o da integração familiar com a doméstica Otacília. Mas é importante sempre lembrar do fantasma de Soropita, aquele valentão que se acomodou com a sua ex-prostituta, Doralda, no arraial do Ão, porém como uma brasa só adormecida, que poderia reacender e explodir a qualquer momento e por qualquer deixa. Disso Riobaldo, previdente, também havia cuidado, pois estabelecera nas suas vizinhanças os antigos capangas, com as armas ensarilhadas debaixo da cama, já que tudo poderia voltar “do meio/ prá trás…”, como hoje voltou.
*Luiz Roncari em palestra proferida numa mesa com os professores Willi Bolle, Yudith Rosembaum e Sandra Guardini Vasconcelos, no evento Infinitamente Maio, no IEB/USP, em 16/05/2019.
[1] Sobre o assunto, remeto o leitor à, do meu ponto de vista, uma das mais importantes e interessantes troca epistolográfica da nossa vida política, a correspondência entre Getúlio Vargas e sua filha Alzira. Em particular, a pequena crônica de Antonio Candido, “Prós e contras”, usada como apresentação. Nela, ele faz uma reconsideração sobre Getúlio e o getulismo, onde diz: “O gênio de Getúlio Vargas consistiu em parte no discernimento de que o seu destino político estava ligado à modernização, que ele sentia confusamente e não encarava como ruptura com a tradição, mas como compromisso entre dois períodos históricos, um descendente, outro emergente.” Volta ao poder. 2vols. Rio de Janeiro: FGVEditora/Ouro sobre Azul, 218, 1o. v., p. 10
[i] Antonio Candido. Formação da Literatura Brasileira. 2o. vol. 1a. ed. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1959, p. 368
[ii] Idem ibidem, p. 367
[iii] João Guimarães Rosa. Grande Sertão: Veredas. 3a. ed.. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1963, pp168 e 169 (https://amzn.to/47E32Rs)
[iv] Op. cit., pp. 292 e 293.
[v] Idem ibidem, p. 285
[vi] Ibidem, p. 335
[vii] Luiz Roncari, O Brasil de Rosa: o amor e o poder. 2a. reimpressão, 2018, p. 263 (https://amzn.to/3KNF0tM).
[viii] João Guimarães Rosa. Ibidem, p. 244
[ix] Luiz Roncari. Lutas e Auroras – os avessos do Grande Sertão: Veredas. São Paulo: Editora UNESP, 2018, pp 40 e 41 (https://amzn.to/45hHdFJ).
[x] Idem ibidem, p. 41, esse mesmo tema, da ocilação entre o mítico e o histórico na literatura de Guimarães Rosa, trabalhei em meu livro Buriti do Brasil e da Grécia. São Paulo: Editora 34, 2013 (https://amzn.to/47IfHTJ).