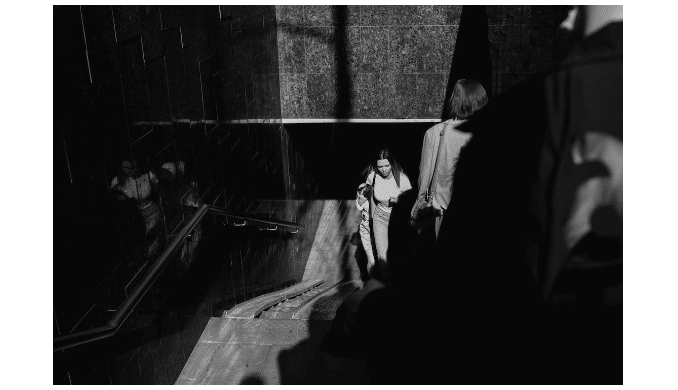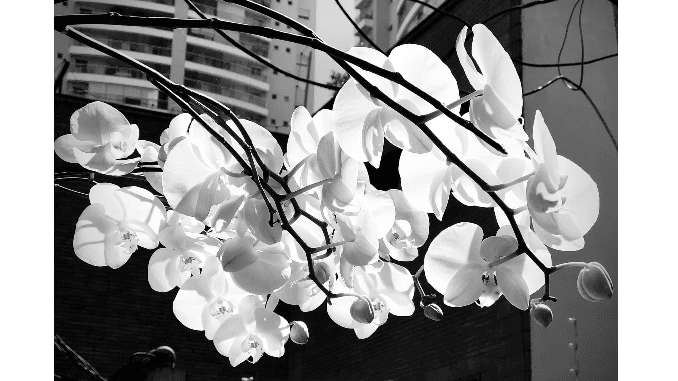Por AIRTON PASCHOA*
Comentário sobre o filme de Eduardo Escorel baseado no livro de Mário de Andrade
O filme, baseado em Amar, verbo intransitivo: idílio,[1] de Mário de Andrade, reconta, de acordo com o livro, a “lição de amor” que recebe um primogênito de família distinta da burguesia paulistana da década de 20. Para ministrá-la, Sousa Costa, o pai de Carlos, adolescente dos seus 15, 16 anos, contrata, sob recomendação de outras famílias de bem, uma governanta alemã, Helga, ou Fräulein, Elza no livro, a pretexto de ensinar alemão e piano ao filho e às filhas. Uma vez em casa, o filme acompanha, com seus planos lentos e quase fixos, a iniciação amorosa do jovem, até o violento rompimento final, com o flagrante do pai, seguido do “bom susto nele”, sobre os perigos que rondam o amor imprudente, e da partida inevitável de Fräulein, — tudo devida e pedagogicamente negociado.
Para fixar estes momentos delicados de iniciação, Eduardo Escorel, o diretor, e seu corroteirista Eduardo Coutinho eliminam os trechos movimentados do livro, — da página 107 à página 129, — desde o passeio à chácara nova de Jundiaí, incluindo o choro de Carlos sob o caramanchão, desesperado de desejo (p. 110), a doença de Maria Luísa, cuidada por Fräulein com zelos de mãe, sua convalescença no Rio, o passeio à Tijuca (convertido em passeio na própria cidade) e a volta de viagem a São Paulo pela Central do Brasil, passagens em que Mário de Andrade tanto se empenhara em acentuar o caráter nacional; além da supressão ainda da cena do cinematógrafo, a “matinê do Royal” (p. 69), que culmina na masturbação de Carlos, e do sobrefinal, o trecho em que, encerrado o idílio, e o livro (p. 138), Fräulein, já ao lado de outro aprendiz do amor, reencontra o ex-pupilo de passagem, no “corso da avenida Paulista” (p. 145), com moça de sua classe social, rica e bonita.
Podemos nos indagar se esses cortes se devem a dificuldades de realização, materiais e financeiras, hipótese fatídica mas nunca ausente do horizonte do cinema brasileiro. A coerência da encenação, no entanto, como que concebida para um único fim, acena com outra possibilidade. Lição de Amor, como toda adaptação, a par de cortes e acréscimos, opera condensações, deslocamentos e alterações de cenas e diálogos, quando não de seu tom. Apenas a título de ilustração, notemos uma sequência em que ocorrem quase todos esses processos. No livro o passeio ocorre no Rio, na floresta da Tijuca; no filme, como não se especifica local, aliás a única cena externa, afora o início e o fim, a chegada e a partida da governanta, permanecemos, para todos os efeitos, em São Paulo. A cena de amor dos dois, por sua vez, é precedida do diálogo em alemão (p. 109), deslocado portanto do espaço original, da chácara de Jundiaí, pouco antes do desespero de Carlos sob o caramanchão. Por fim, imprime-se um tom cômico ao desenlace da cena da sequência. Sousa Costa, importunado com o que se passa em suas próprias barbas, irritado de ter que esperar nova consumação do ato, e ainda sem sanduíches! (p. 119) manda chamar os dois; se à resposta de Carlos a sua interpelação, o que vocês ficaram fazendo lá dentro? (“Nada, papai, vendo! Você não sabe o que perdeu!”), mal consegue conter-se, às palavras de Fräulein, pouco depois, — “Senhor Sousa Costa, muito obrigada! nunca vi coisa mais linda na minha vida!” — o pai explode em ironia, e o público em riso: “Realmente, Fräulein… É uma beleza”.
Tais mudanças, porém, ligeiras ou de monta, são presididas por certa unidade de concepção, e se houve restrições econômicas, mais que eventuais talvez, até prováveis, o filme soube tirar rendimento delas. Tanto rendimento, que não seria descabido falar mesmo em opção estética.
Comecemos pelo mais visível, se é que podemos falar assim em cinema, pelo andamento da narrativa, lento, mas marcadamente lento, e pela encenação, parada, marcadamente parada. Os planos lentos e quase fixos vão conferindo certa peculiaridade fotográfica ao filme, a ponto de convertê-lo numa espécie de álbum de família. E será este álbum de família, coerentemente concebido, um dos méritos do filme, capaz de justificar, por sua vez, a ambiência estritamente doméstica da película, que começa e termina praticamente com a abertura e o fechamento dos portões da mansão de Higienópolis.
Notemos no caso a diferença do livro, cuja curva é visível. Ambiência doméstica, como no filme, até a consumação do ato amoroso, no meio exato do romance, 50 páginas, e depois do qual se abre ele em algumas crônicas brasileiras, a crônica da mãe brasileira aflita com a filha doente,[2] a crônica do passeio brasileiro[3] e a crônica da “viagem brasileira”[4] pela Central do Brasil (p. 122-9), até o desfecho falso, com a descoberta do pai, a despedida de Fräulein e o sobrefinal.
Diga-se a propósito que, mantendo-se sabiamente nos limites internos do portão, o filme evita cair no folclórico, no grotesco, coisa a que fatalmente sucumbiria se quisesse reproduzir as crônicas brasileiras de Mário de Andrade. Basta pensar, por exemplo, no pastelão que viraria a sequência se transpusesse a farofada fina da viagem pela Central…
Os planos lentos e fixos, fotográficos, marca registrada da encenação, respondem, porém, não propriamente à narração do livro, que é movimentada, com suas intervenções e seu humor machadianos, quase como um contraponto à imobilidade da vida narrada; essa fixidez fotográfica, que caracteriza o estilo de representação do filme, responde, à sua maneira, ao gênero que subtitula o livro de Mário — idílio, “quadrinho” em latim. Nesse sentido, é como se o filme se dedicasse a registrar cenas “daquela família imóvel mas feliz” (p. 59), — uma frase, aliás, que parece ter servido de ponto de partida para a adaptação; a acumular quadrinhos aptos a formar em conjunto essa coleção de recordações gratas que traz todo álbum de família. É o idílio familiar, digamos.
Essa fixidez fotográfica, de álbum de família, se revela integralmente a dada altura, pertinho da resolução da intriga, no momento das cinco poses da família para foto, clássicas, exatamente antes de Carlos entrar no quarto de Fräulein e ser surpreendido pelo pai: 1.ª) o patriarca de pé repousando a mão protetora no ombro da mulher, sentada; 2.ª) a mãe sentada e as filhas de pé, as menores uma de cada lado e a maior de pé, atrás dela; 3.ª) a mãe e a caçula no colo, enquadrando-lhes o rosto; 4.ª) o pai sentado e o filho atrás, de pé, descansando-lhe a mão no ombro; 5.ª) a família toda, os filhos de pé, rodeando pai e mãe sentados, a caçula ao lado da mãe, a outra ao lado do pai, e os mais velhos atrás, sem faltar a negrinha aos pés, também da família, como se sabe, filha da cozinheira, menos Fräulein, claro, um episódio necessário à boa educação dos jovens mas já descartado.
Decididamente fotográfica, a fixidez, que atinge boa parte dos enquadramentos e comanda a encenação, se converte ainda, em certos planos, em fixidez pictórica. Assim, em plena aula de alemão na sala, e no início da paixão do pupilo pela professora, se reproduz um quadro de Fräulein semidespida, em frente do espelho, a banhar-se languidamente, um quadro tipo “Nu no banho” (à semelhança da reprodução que encima o sofá da família), e que pode muito bem ser a imaginação dele, ou dela, de como ela se imagina sonhada por ele em sua intimidade. Assim, um pouco antes do beijo, e em meio a outra sequência fotográfica, vemos a cozinheira negra sentada a uma mesa na cozinha, descansando. Ambos os planos, os quadros a lembrar (reproduzir?) a pintura acadêmica, pré-modernista.
Planos tais, ora fotográficos, ora pictóricos, fundamentam a concepção unitária da encenação, e, em seus melhores momentos, vão muito mais além, como é o caso da sequência de fotos da mansão, inaugurada pela Marcha Turca de Mozart e logo substituída pelo tema do idílio amoroso, composto por Francis Hime, — sequência que antecede o beijo na biblioteca e sela a paixão amorosa: 1) o escritório, com a luz empoeirada coada pela cortina; 2) o chafariz de cavalo-marinho, desligado; 3) a boneca na grama; 4) a estátua de Cupido no jardim; 5) a “Preta Descansando” e 6) a lavadeira estendendo roupa.
Neste momento, a composição alcança uma espécie de natureza-morta no cinema que dá o que pensar. Para além da concepção unitária e coerente, fotográfica, pictórica, como temos dito, ou do apoio e continuidade da narrativa, funções que desempenham com brilho; para além mesmo da prova de virtuosismo, com reproduzir o que seria, com efeito, por quadros sucessivos e rápidos, uma narrativa idílica em cinema, começamos a sentir, em meio a nosso envolvimento natural com o drama burguês em tela, a distância temporal do narrado.
Mas não é só. Do mesmo modo como a natureza-morta,[5] chamando a atenção para as convenções artísticas da representação, obriga ao distanciamento, o rápido giro panorâmico, partindo do escritório e voltando a ele, pela mansão em repouso à tarde, pela vida imóvel mas feliz da burguesia paulistana dos anos 20, obriga ao pé-atrás. Que faz, em meio à modorra vespertina da senhorial Vila Laura, um plano-quadro da “Preta Descansando”, senão nos despertar bruscamente o universo de Casa-Grande & Senzala? É quando sentimos crescer então a distância crítica, — a mesma distância a que também obrigará, claramente, perto do fim do filme, a sequência das fotos de família, a que já aludimos.
As duas sequências, tanto a dos retratos da casa quanto a dos retratos da família, por não integrarem diretamente a narrativa, por escaparem à lógica pura do relato, adquirem um estatuto tão emblemático que funcionam como espécie de miniaturas da poética do filme. Uma, convertendo-o, do ponto de vista narrativo, em álbum de família; outra, do ponto de vista plástico, convertendo-o em natureza-morta. E ambas, conjuntamente, álbum de família, natureza-morta, impondo o olhar crítico. Pois o álbum de família é convenção social,[6] no filme, e é também convenção artística, tanto do filme, do seu modo de representação fotográfico, quanto no filme, do modo de representação fotográfica da época;[7] e a natureza-morta é convenção social, negras labutando e senhores gozando, e é também convenção artística, não só do filme, do seu modo de figuração plástico, como no filme, com seu chafariz de cavalo-marinho e sua estatueta de Cupido no jardim. E será dessa conjugação perfeita das duas sequências miniaturas que nasce a ironia, uma figura sabidamente da distância numa arte que se consagrou classicamente por buscar eliminá-la a todo custo.
O filme também segue a trilha das tantas ironias espalhadas pelo livro, e como que aberta pelo subtítulo de idílio, irônico, dado por Mário, como apontou a crítica.[8] A Marcha Turca, o tema da família, marca alegremente não só os progressos de Maria Luísa ao piano, a futura Guiomar Novais da família, mas também os progressos de Carlos no alemão, língua e — língua! Assim, principiam ambos hesitantes, no teclado e no amor, e ambos vão se firmando ao longo do filme. Quando o álbum se fecha, com as poses clássicas, acaba-se a lição de música e a lição de amor. Maria Luísa já toca direitinho a Marcha e Carlos já verte, em dueto amável, para a língua de Goethe, sintomaticamente, a “Canção do Exílio”, de Gonçalves Dias.
Neste instante de irônica felicidade idílica, de fim da lição de amor e de fim da lição de música, com a execução pianística de Maria Luísa beirando a perfeição, tudo comandado pela música adorável de Mozart, instante então em que se fecha o álbum daquela “família imóvel mas feliz”, (reprodução do final falso do livro?) podemos especular um pouco sobre o som e o sentido. Os dois temas, o familiar e o amoroso, o de Mozart e o de Hime, (deliquescente… wagneriano?) brigam o tempo todo, como irmão, ou como os dois irmãos no filme, Maria Luísa e Carlos, ora um, ora outro invadindo o espaço alheio; ora penetra a Marcha Turca, alegre, bisbilhoteira, familiar, em pleno idílio na biblioteca, ora o tema amoroso invade, por exemplo, os recessos familiares, como na sequência miniatura da natureza-morta, das fotos da casa, e anuncia o beijo dos amantes.
Pode-se ainda argumentar que, à sua maneira, os dois temas, em seu contraste e disputa, reproduzem também os vários contrapontos do livro. Num primeiro nível, a oposição interna do “caráter alemão” em Fräulein (Mozart/homem-da-vida x Hime/homem-do-sonho); noutro nível, a oposição entre os dois caracteres: o brasileiro (Mozart/alegre, galante, leviano, inconsciente etc. etc.) e o alemão (Hime/sério, consciente, infeliz, profundo, trágico etc. etc.) e, ainda, num terceiro, entre a mobilidade da narração mario-andradina (Mozart/ligeira, acelerada, humorada) e a imobilidade do narrado (Hime/lenta, suave, triste).
Especulações à parte, podemos assegurar, com certeza, pelo menos, que não se tematizou a questão do caráter nacional, uma questão de época, do nosso primeiro Modernismo, e à qual o filme inteligentemente se subtrai. Devemos buscar noutra parte então a atualidade da adaptação, o sentido em realizá-la meio século depois, e a atualidade da crítica, o sentido em estudá-la depois de quase um quarto de século.
O filme é de época, como se diz, sem dúvida, histórico, se quisermos, não o nega nem sua encenação (figurinos, cenografia, interpretação) nem seu estilo de representação. A fixidez fotográfica, pictórica, o converte num álbum de família, como vimos, com sua face pública e sua face secreta, como todo álbum, e é justamente a ele que devemos interrogar. Qual a razão social, ou atual, então, desse “quadrinho” privado?
Se o romance de Mário, como quer Telê, é “pró-mulher” (p. 25), o filme é francamente feminista, de um feminismo sem dúvida discreto, latente, mas inquestionável. A presença da governanta é dominadora, sobretudo nas sequências iniciais, quando ainda se vê reforçada pela música de Hime, cujo motivo recorrente, leitmotiv, o tema de Fräulein, digamos assim, vai criando uma atmosfera propícia a sua aparição. Não bastasse isso, a Fräulein de Escorel é uma mulher não apenas digna, como em Mário, mas sobretudo — forte. Sofre, visivelmente, (como esquecer a expressão de Lilian Lemmertz?) mas isso como que apura mais o seu caráter. Diferentemente da de Mário, não chora,[9] nem na partida,[10] não tem ciúmes,[11] não tem fraquezas quase, nem aquela confessa, que abre o livro.[12] Para esta Fräulein, portanto, não conviria, numa crise de ciúmes, marcar intempestivamente a hora do encontro com Carlos,[13] uma mudança decisiva e que a recoloca na situação de oprimida, daquela talvez que não tem remédio senão consentir nas exigências do patrão, pai ou filho. Para esta Fräulein contida, também não conviria reproduzir, no passeio à Tijuca, num espasmo de felicidade e terror, o grito expressionista de Munch.[14]
Em resumo, é dela, pois, desta Fräulein digna e forte, submetida a uma situação social adversa, o ponto de vista que estrutura o filme, ponto de vista por vezes narrativo, por meio da narração over, mas sobretudo ponto de vista afetivo. Não é ela evidentemente a feminista, de vez que vive a sonhar com um casamento calmo, uma casa tranquila em sua querida Alemanha, devaneando sempre, em suma, com aquele “ideal de amor burguês” (p. 20); discretamente feminista é a adesão, a solidariedade de Escorel à situação da personagem, ou da mulher em geral. Não é à toa que dedica o filme atenção às irmãzinhas de Carlos, Maria Luísa, Laurita e Aldinha, e suas brincadeiras; não é à toa que se acrescenta uma fala de Sousa Costa, ao anunciar a partida de Fräulein, e ouvindo o desgosto de sua mulher, agora que as meninas estavam progredindo tanto, que Maria Luísa já tocava a Marcha Turca quase sem erro: “Paciência! Isso de amores escandalosos dentro de minha própria casa me repugna. Daqui a pouco as meninas também estão querendo!”
A par do feminismo, e como que acusando a educação feminina, reponta o freudismo do filme, que não foge ao do livro.[15] Não esqueçamos a cena de edipianismo explícito, em que Maria Luísa diz à mãe que Fräulein está cada vez mais parecida com ela, isto entre dois planos dos amantes na cama. Mas, mais que o reproduzir, o filme como que concentra o freudismo, tornando-o mais consequente na economia da narrativa. Os sinais histéricos de Maria Luísa, a mais velha delas, a quem dedica o filme atenção especial, por ser um dos alvos preferenciais das “fomes amorosas”[16] de Carlos, o Machucador, estão associados diretamente à sua relação enciumada com o irmão. Assim, em vez de a vermos depenar uma palmeirinha[17] na casa de uma amiga da mãe, vemo-la desfolhar, nervosamente, as asas de uma borboleta morta, imediatamente depois de espiar pela janela da biblioteca o irmão beijando Fräulein. (Inveja do pênis?)
O feminismo é certamente um penhor de atualidade do filme, o de mais visibilidade talvez, mas sua atualidade maior, seu verdadeiro achado, reside, a nosso ver, noutra parte, a saber, na distância crítica que impõe sua figuração fotográfica e pictórica, seja como álbum de família, seja como natureza-morta. O álbum de família não é o livro, obviamente; mesmo extraído dele, de uma brevíssima passagem sua,[18] significa antes uma construção do filme, e, como elaboração formal, representa, digamos, sua contribuição. E a distância que impõe tal figuração também não é cômoda; muito pelo contrário, sua ambiguidade como que alimenta sua carga crítica. Pois sabemos que o álbum pode custar a morrer, gerações e mais gerações, séculos às vezes, a ponto de nos indagarmos, ao fechá-lo, se ele está realmente morto. Eis a impressão que resiste ao fim do filme.
Dado o peso ainda presente do “familismo nacional”,[19] (não custa relembrar que o “romance de formação”, literal, que conta o livro não tinha outro intuito senão a constituição de mais uma família de bem, e bens), e seu poder de exclusão do diferente, do estrangeiro, do individual, sobretudo, (não custa relembrar que Fräulein não figurava nas fotos de família), sua contradição, enfim, com o “processo de individuação e universalização burguesas”, começamos a duvidar se o filme é só de época mesmo, se o pitoresco ali pintado também não continua a nos retratar. Não é o nosso tempo, sem dúvida, mas também não podemos assegurar que se trata de um tempo inteiramente outro, ou morto. Eis a ambiguidade do álbum.
Mais expressamente, nas palavras lúcidas de Mário, é como se essa realidade persistente, que o filme congela em álbum de família, voltasse sempre a nos indigitar: “Carlos não passa de um burguês chatíssimo do século passado. Ele é tradicional dentro da única cousa a que se resume até agora a cultura brasileira: educação e modos. Em parte enorme: má educação e maus modos. Carlos está entre nós pelo incomparavelmente mais numeroso que inda tem no Brasil de tradicionalismo ‘cultural’ brasileiro burguês oitocentista. Ele não chega a manifestar o estado biopsíquico do indivíduo que se pode chamar de moderno. Carlos é apenas uma apresentação, uma constatação da constância cultural brasileira (…)” (p. 155).
A questão pois que sugere o filme, numa atualização inteligente, não passa mais pelo “caráter nacional” do brasileiro, mas, sim, como já intuía — contraditoriamente[20] — o próprio escritor, pela “cultura brasileira”, por essa “constância cultural” que vem atravessando séculos. Constância histórica, como legado colonial que é, mais que antropológica.
A lição do filme não podia ser outra, então, senão insinuar que nossa cultura brasileira, familista, parentelística, sobrevive até hoje, como todo álbum de família, mais ou menos embolorado, mas vivo — desgraçadamente.[21]
*Airton Paschoa é escritor, autor, entre outros livros, de A vida dos pinguins (Nankin).
Versão, com ligeiras modificações, de artigo publicado originalmente na revista Cinemais n.º 19, set/out/1999 com o título “A poética de Lição de Amor: álbum de família, natureza-morta, sociedade viva”.
Referência:
Lição de Amor
Brasil, 1975, 80 minutos.
Direção: Eduardo Escorel.
Adaptação do romance Amar, verbo intransitivo: idílio (1927), de Mário de Andrade. Roteiro: Eduardo Coutinho e Eduardo Escorel.
Fotografia e câmera: Murilo Salles.
Música: Francis Hime e “Marcha Turca” de Mozart.
Montagem: Gilberto Santeiro.
Figurinos e cenografia: Anísio Medeiros.
Som: Vítor Raposeiro e Roberto Melo. Elenco: Lilian Lemmertz (Fräulein), Irene Ravache (Dona Laura), Rogério Froes (Sousa Costa), Marcos Taquechel (Carlos) e Maria Cláudia Costa (Maria Luísa); William Wu (Tanaka), Deiá Pereira (Matilde, cozinheira) e Marie Claude (Celeste, camareira e lavadeira); Magali Lemoine (Laurita), Mariana Veloso (Aldinha) e Rogéria Olimpo (Marina, filha de Matilde).
Direção de produção: Marco Altberg.
Produção: Luiz Carlos Barreto, Embrafilme, Eduardo Escorel e Corisco Filmes.
Notas
[1] A edição utilizada, baseada na segunda edição de 1944, refundida, é a décima, e saiu em 1987 pela Editora Itatiaia, de Belo Horizonte, acompanhada de textos do autor, “Mário de Andrade — Posfácio Inédito (1926?)” e “A Propósito de Amar, verbo intransitivo — 1927”, títulos editoriais, e da introdução de Telê Porto Ancona Lopez, “Uma difícil conjugação”. As páginas citadas pertencem a ela.
[2] “Não se ofenda, Matilde, mãe com filha doente, não pensa em ares de boa educação. Está certo. Dona Laura volta com a mais carinhosamente preparada das pussangas, sobe as escadas exaustivas, faz questão de levar, ela mesma! a bebida pra Fräulein. Só pra Fräulein, que, na porta do quarto, lhe amolecem as pernas, fica boba, os olhos se cegam de lágrimas.
— Ela vai bem, dona Laura. Mais alegrinha até. E quase sem febre.
— Deus lhe ouça, Fräulein! Eu espero a xicra aqui, não tenho coragem pra ver minha filha sofrer!
E espera encurvada. Qual! assim não pode ser! enrija o corpo, lhe riscam fuzis de temeridade no olhar novo, entra no quarto.
— Minha filha! está melhor!
Maria Luísa tira da porcelana as fitinhas brancas dos beiços e sorri no martírio. Dona Laura petrificada. O vidro fosco da brancarana a espaventa, pensa que a filha vai morrer. Recebe a xícara quase sem gesto. Enquanto Fräulein ajeita de novo a doente nas cobertas, dona Laura parte sem dizer nada. Mas outra vez não sabe o que a domina e move, bota a xicra numa cadeira qualquer, vem ajoelhar junto da filha, rosto a rosto, filhinha!… Em soluços convulsos, parte arrebatada. Maria Luísa se espanta, primeiro. Depois pretende se rir, que já conhece as manias da mãe. Porém sempre fica essa dúvida…
— Fräulein…
— Que é, Maria Luísa?
— Fräulein, diga mesmo… eu vou morrer, é!
— Que ideia, Maria Luísa. Não vai morrer não. Você já está muito melhor.
Tem uma raiva dessas mães exageradas. Brasileiras (…)” (p. 113-4).
[3] “(…) Todos subiram contentes pro automóvel, satisfeitíssimos. Mas vejo um estirão comprido entre a alegria de Fräulein e a desses brasileiros. Fräulein estava alegre porque ia se retemperar ao contacto da terra inculta, gozar um pouco de ar virgem, viver a natureza. Esses brasileiros estavam alegres porque davam um passeio de automóvel e principalmente porque assim ocupavam o dia todo, graças a Deus! Sem automóvel e estradas boas jamais conheceriam a Tijuca. Fräulein iria mesmo marchando e de pé-no-chão. Esses brasileiros iam levar o corpo se gastar. Fräulein ia levar o corpo ganhar. O corpo desses brasileiros é fechado, o corpo de Fräulein é aberto. Ela se igualava às coisas de terra, eles se resguardavam indiferentes. Resultado: Fräulein se confundia com a natureza. Esses brasileiros sofreriam o gosto orgulhoso e infecundo da exceção.
(…) Carlos desconhece a Tijuca. Depois do passeio continuará desconhecendo a Tijuca. Em última análise pra Carlos como pra esses moços brasileiros em geral: A Tijuca só é passeável com mulheres. Se não: pernada besta. Ora pinhões! ver árvores e terras… Se ao menos fossem minhas… cafezal…” (p. 118).
[4] “(…) A norueguesa olhou com ódio pra Aldinha, e Fräulein, assim viajando de costas, captou o olhar da outra. Ficou envergonhada, aliás tudo a envergonhava naquela viagem brasileira, e tratou autoritariamente de fazer Aldinha sentar. Mas as crianças, com os pais ali, não obedeciam” (p. 124).
[5] Ver, na análise exemplar do poema “Maçã” de Bandeira, empreendida por Davi Arrigucci Júnior, o sentido histórico e pictórico da natureza-morta, essa “espécie de ícone da vida privada”, gênero que nasce da valorização do interior burguês e sua vida tranquila, silenciosa, imobilizada, e como que renasce modernamente, com Cézanne, pelo que oferece de campo à pesquisa formal (Humildade, paixão e morte – a poesia de Manuel Bandeira, São Paulo, Cia. das Letras, 1990, p. 25-28).
[6] “Os retratos de família estão fundamentalmente ligados aos ritos de passagem — aqueles que marcam uma mudança de situação ou troca de categoria social. São tirados em aniversários, batizados, fim de ano, casamento e enterros. Os retratos passaram rapidamente a fazer parte desses rituais mais amplos, que marcam a passagem de criança a adulto, de solteiro a casado, de vivo a morto. São registros de momentos sacralizados pela alteração do tempo normal e repetitivo. Marcam um intervalo de indefinição social, da transição em que se atravessam fronteiras e limiares, o que lhes confere um caráter ambíguo e uma aura sagrada (…)” (Miriam Moreira Leite, Retratos de família — leitura da fotografia histórica, São Paulo, Edusp, 1993, p. 159).
[7] “(…) Nos [retratos] desta coleção, a solenidade das atitudes e a posição frontal ereta (atribuída, frequentemente, ao tempo extenso de exposição das máquinas antigas) vão sendo substituídas na década de 20 por uma atitude sonhadora (nas mulheres jovens) ou compadecida (na mãe de filhos pequenos). (…) Afora o riso comprimido de crianças e adolescentes forçados a fixar desconfortavelmente a câmera e aguardar a atuação do fotógrafo, aparentemente, os adultos não têm motivos para sorrir. No caso das mulheres, convém acrescentar, as fisionomias vão ganhando uma rigidez e uma grande severidade com o avançar da idade” (id., p. 97).
[8] Telê Porto Ancona Lopez, op. cit., p. 17.
[9] “ — (…) Mas não estou aqui apenas como quem se vende, isso é uma vergonha.
— Mas Fräulein não tive a intenção de!
— … que se vende! Não! Se infelizmente não sou mais nenhuma virgem, também não sou… não sou nenhuma perdida.
Lhe inchavam os olhos duas lágrimas de verdade. Não rolavam ainda e já lhe molhavam a fala:
— E o amor não é o que o senhor Sousa Costa pensa. (…)
Rosto polido por lágrimas saudosas, quem vira Fräulein chorar! …
— … É isso que vim ensinar pra seu filho, minha senhora. (…)
Parou arfando. (…) Comprimiu o seio com a mão, ao mesmo tempo que amarfanhava-lhe a cara uma dor vigorosa, incompreendida assim! (…)” (p. 77/78).
[10] “Fräulein sacudida pelos soluços nervosos entrou no automóvel. Partiam mesmo. (…)” (p. 137)
[11] “(…) O caso parecia grave. Bolas! preferia os beijos, Fräulein repeliu-o. E porque chorou! Ninguém o saberá jamais, chorou sinceramente.
Aproveitou as lágrimas pra continuar a lição. E aos poucos, entre perguntas e desalentos, mordida pelos soluços (…)” (p. 102).
[12] “ — Desculpe insistir. É preciso avisá-la. Não me agradaria ser tomada por aventureira, sou séria. E tenho 35 anos, senhor. Certamente não irei se sua esposa não souber o que vou fazer lá. Tenho a profissão que uma fraqueza me permitiu exercer, nada mais nada menos. É uma profissão.” (p. 49)
[13] “Fräulein enciumada, se remordendo, traidor! nem pensava mais nela! ali pela tardinha não pôde mais, passou por ele e murmurou:
— Meia-noite.
Carlos se acalmou de sopetão, não buliu mais com as irmãs, sério. Estava homem.” (p. 95)
[14] Ver a introdução ao livro, “A difícil conjugação”, de Telê Porto Ancona Lopez, p. 14.
[15] Ver a reclamação de Mário de Andrade, por ocasião do lançamento do livro, com a crítica que só fez ver freudismo, esquecendo também das “doutrinas de neovitalismo que estão nele” (A Propósito de Amar, verbo intransitivo — 1927, op. cit., p. 153).
[16] “Este circunlóquio das ‘fomes amorosas’ fica muito bem aqui. Evita o ‘libido’ da nomenclatura psicanalista, antipático, vago, masculino, e de duvidosa compreensão leitoril. As fomes amorosas são muito mais expressivas e não fazem mal pra ninguém. (…)“ (p. 77)
[17] “Ele não fez por mal, só crianças fracas, doentias e nervosas são malvadas. Vejam Maria Luísa… Faz um par de dias, foi no chá da amiguinha. Pois achou jeito escondido de esquartejar o bebê de porcelana. Quando saía, esperando a mãe no jardim, depenou a palmeirinha. De caso pensado. Mas ninguém não viu e ela não contou nada. Se fosse Carlos, juro que pegando na boneca desarticulava num instante os braços da coitadinha. Porém ia logo mostrar o malfeito, tomava pito, encabulava. Depois foi saltar a palmeirinha, facilitou, deu com o pé no vaso caro.
— Dona Mercedes, quebrei o vaso da senhora! me desculpe!
Ela diria o ‘não faz mal’, tiririca por dentro. Depois desabafava:
— A Laura tem um filho insuportável! malvado! você nem imagina! Quebra tudo de propósito! Diferente da irmã… Maria Luísa é tão boazinha!…
Porém isso não faria nenhum mal pra Carlos, a essa hora, quem sabe? talvez envaretado por novas reinações, pensando noutras coisas. Maria Luísa lembra, a outra palmeirinha… Lhe cresce a pena de não a ter desfolhado também” (p. 94).
[18] “(…) Quanto à tona da vida, já se conhece bem a fotografia: A mãe está sentada com a filha menorzinha no colo. O pai de pé descansa protetoramente no ombro dela a mão honrada. Em torno se arranjaram os barrigudinhos. A disposição pode variar, mas o conceito continua o mesmo. Vária disposição demonstra unicamente o progresso que nestes tempos de agora fizeram os fotógrafos norte-americanos” (p. 53).
[19] Ver a interpretação do projeto político e literário de Mário de Andrade por Roberto Schwarz, Duas meninas (São Paulo, Cia. das Letras, 1997, p. 132-144).
[20] Dissemos contraditoriamente porque, primeiro, é obsessiva no livro a preocupação de Mário com os caracteres todos, nacionais, regionais, continentais, e por aí vai (fala-se em brasileiro, paulista, latino, tudo em oposição a europeus, do norte, não latinos, claro, alemães, noruegueses, holandeses etc.); e, em segundo lugar, porque, apesar das críticas ao nosso biopsiquismo pré-moderno, pré-burguês, anterior portanto à constituição do indivíduo como ser autônomo, o familismo brasileiro é também encarado por ele em chave positiva, como anteparo às “alienações da moderna civilização burguesa”, capaz por sua “natureza flexível, extensível e propensa à acomodação no coletivo” de superar o “emparedamento egoísta” das sociedades modernas (Schwarz, op. cit., p. 140, grifo do original).
[21] Infelizmente para o artigo, apenas dois anos depois saiu o denso e fustigante estudo de Priscila Figueiredo sobre o livro, Em busca do inespecífico: leitura de Amar, Verbo Intransitivo de Mário de Andrade (SP, Nankin, 2001).