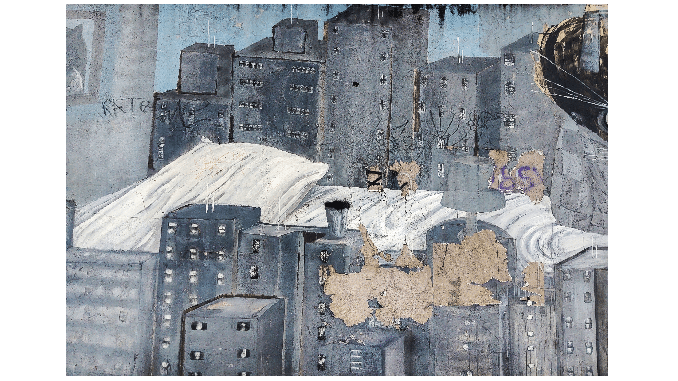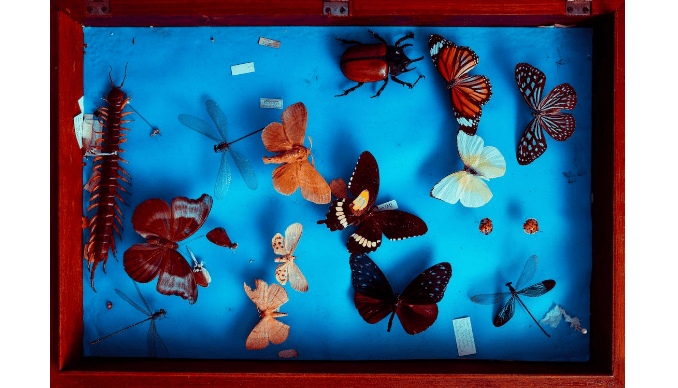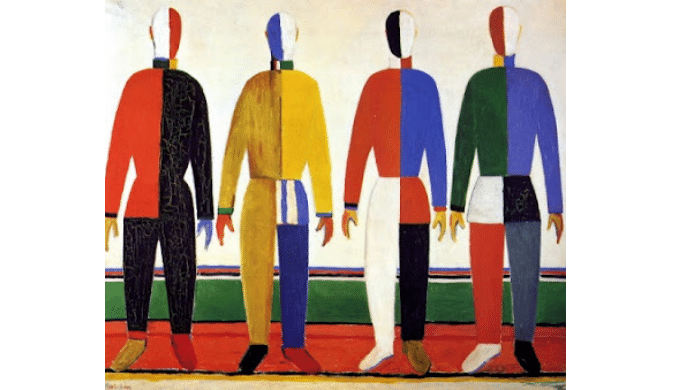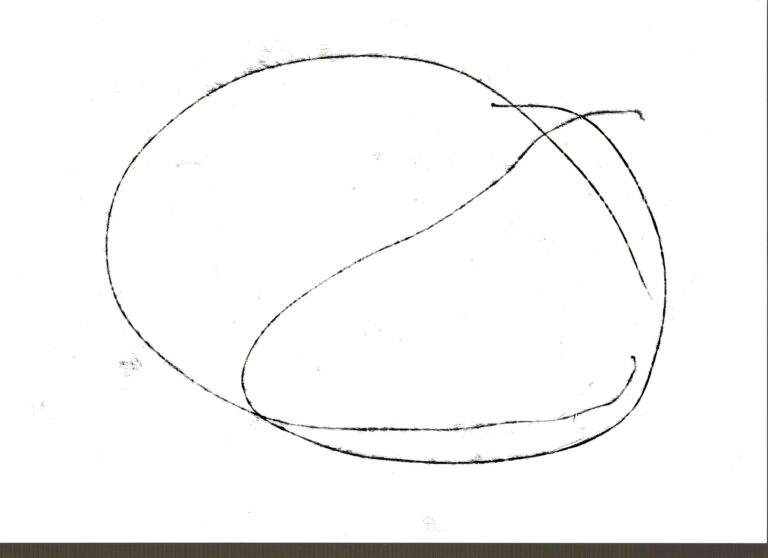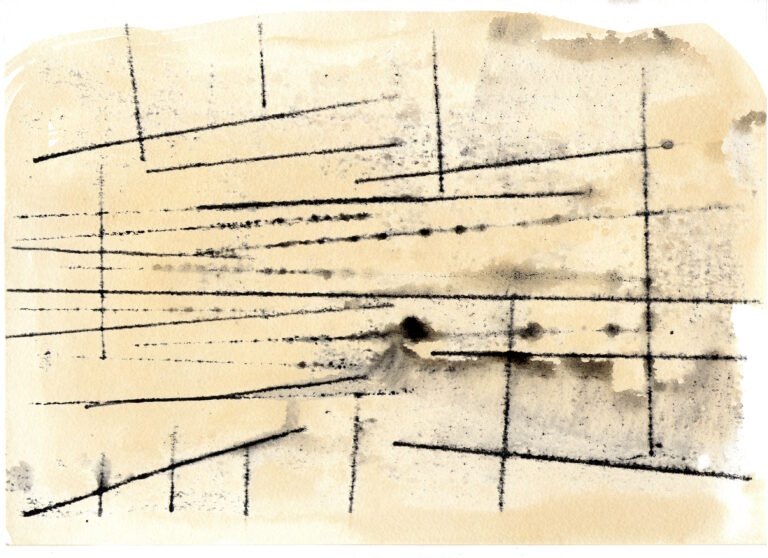Por EBERVAL GADELHA FIGUEIREDO JÚNIOR*
O debate sobre iussolis e ius sanguinis revela as contradições do projeto colonial nas Américas: enquanto a direita romantiza um cosmopolitismo seletivo, a esquerda instrumentaliza a reparação histórica sem efetividade
1.
A aceleração dos fluxos humanos globais suscita intermináveis debates sobre migração, soberania e reparação histórica. Decerto o exemplo mais infame dessa dinâmica são as políticas das gestões de Donald Trump (2017-2021/2025-2028) nos Estados Unidos, como o “travel ban” imposto a cidadãos de certos países muçulmanos, a separação de famílias imigrantes na fronteira sul dos país e a retórica sensacionalista da “invasão hispânica”, para citar apenas alguns exemplos.
Particularmente notável, no entanto, é a proposta de restringir o direito à cidadania por nascimento: trata-se de uma medida contrária a um princípio jurídico vigente na grande maioria dos países do Hemisfério Ocidental, a saber, o princípio do ius solis, reflexo de um histórico de imigração massiva e construção nacional inclusiva.
No contexto institucional estadunidense, tal proposta faz pouco sentido, em especial levando-se em conta a retórica racista que a acompanha. Afinal, os Estados Unidos foram o protótipo de uma nação pautada nos valores do ius solis e do nacionalismo cívico (em oposição ao nacionalismo étnico), que surgem como corolários da doutrina de terra nullius que legitimou a colonização do território.
Ironicamente, povos latinoamericanos severamente discriminados nos EUA possuem, em tese, mais legitimidade e vocação para o chauvinismo étnico do que os próprios anglo-americanos. Mexicanos e guatemaltecos, por exemplo, configuram aquilo que Darcy Ribeiro chamou de povos testemunho,[1] legatários diretos de uma extensa linhagem de altas-civilizações endemicamente americanas.
Em comparação a isso, iniciativas bucólicas de “separatismo branco”,[2] promovidas por pessoas de estirpe cuja estadia deste lado do Atlântico tem, no máximo, três dígitos, soam como delírio infantil. O nacionalismo biologizante pautado em “sangue e solo” só funciona quando o sangue pertence, de fato, ao solo.
Assim, o ataque de Donald Trump à cidadania por nascimento expõe uma série de contradições profundas. O próprio projeto nacional estadunidense, tal como historicamente construído sobre a violência colonial contra os povos indígenas a partir da ficção jurídica de terra nullius, precisou do jus solis como mecanismo fundamental de integração e legitimação.
A negação do direito à cidadania pelo nascimento em solo americano ataca não apenas uma cláusula constitucional (a 14ª Emenda, fruto da Reconstrução pós-Guerra Civil para garantir direitos aos ex-escravos), como também o próprio mito fundador de uma “nação de imigrantes” construída sobre ideais cívicos, não étnicos. O jus solis foi o antídoto jurídico que permitiu transformar ondas sucessivas de imigrantes heterogêneos em “americanos”, buscando diluir lealdades étnicas prévias em favor de uma identidade nacional pautada na adesão a princípios políticos (a própria existência desse debate demonstra que o sucesso dessa diluição de lealdades é discutível).
2.
Por outro lado, é fácil criticar Donald Trump de maneira rasa, exaltando uma pretensa superioridade moral do ius solis, e deixar tudo por isso mesmo. No entanto, conforme já exposto, não se trata de uma doutrina assim tão ilibada.
A ideologia do ius solis é divisível em duas vertentes, uma das quais pode ser dita “de direita”, e a outra, “de esquerda”: os ius solistas de direita são aqueles que, como vimos, romantizam o bom e velho American Dream, o sonho de deixar o Velho Mundo para trás com o intuito de “fazer a América”, a expansão colonial da Fronteira e o ideal inclusivo e cosmopolita de uma sociedade meritocrática feita por e para imigrantes (frequentemente omitindo que isso foi possível apenas com a destruição de todo um status quo ante, e também, no caso das levas migratórias que vieram à América Latina logo após as independências, com políticas embranquecentes de subsídio migratório que preteriram habitantes mais antigos, indígenas ou não); os ius solistas de esquerda, por sua vez, fazem o contrário, tendo por pressuposto retórico a própria destruição do status quo ante como pecado original a ser reparado, conforme o célebre slogan: “No one is illegal on stolen land”.
Em outras palavras, os ius solistas de esquerda defendem fronteiras abertas nos países do Novo Mundo, com destaque para os Estados Unidos, como reparação histórica pelo colonialismo. Ora, esse argumento é bem menos convincente do que aparenta, tendo em vista que os beneficiários dessa reparação histórica sequer seriam os indígenas cujas terras foram roubadas.
A rigor, o que ocorre aqui não é uma reparação das injustiças do passado, mas apenas o uso tático da indigeneidade para fins de chantagem moral, no contexto de uma “frente ampla dos oprimidos”. Para os indígenas, esse tipo de arranjo é pouco vantajoso, pois seu trauma histórico é instrumentalizado maiormente em benefício alheio, ao passo que para eles, relegados ao papel de mera linha auxiliar, o que resta é a vacuidade performática dos land acknowledgements.
No fim das contas, seu enfraquecimento político e sua diluição demográfica seguem ininterruptos, com a diferença de que agora as novas maiorias numéricas são cada vez menos anglo-saxônicas, irlandesas, alemãs ou italianas, e cada vez mais chinesas, indianas, árabes etc.[3] Uma verdadeira justiça reparativa nesse sentido exigiria políticas específicas de restituição territorial, apoio cultural e autodeterminação indígena, não uma abertura indiscriminada e a transformação de continentes inteiros em zonas de sacrifício expiatório.
Ainda mais ultrajante do que a instrumentalização moral do indígena pelos ius solistas de esquerda, porém, é a hipocrisia dos ius solistas de direita em defender esse ideal cosmopolita apenas quando se trata das Américas. Para eles, os países do Velho Mundo, com óbvio destaque para a Europa, teriam pleno direito de resguardar seu próprio “caráter nacional”, restringindo a cidadania através do ius sanguinis.
Europa para os europeus; Ásia para os asiáticos; África para os africanos. Mas e as Américas? Essas aí são de todo o mundo, uma grande casa da mãe Joana. Isso nada mais é do que uma reiteração porcamente velada da velha doutrina colonial de terra nullius, que por tantos anos legitimou a espoliação e o extermínio dos povos do Hemisfério Ocidental. Defender que as Américas sejam “abertas” e a Europa “fechada” é perpetuar um perverso imaginário colonialista: o Novo Mundo como espaço de experimentação; o Velho como bastião de pureza.
3.
A preponderância do ius solis nas Américas em contraste com o ius sanguinis na Europa não é mero fruto do acaso, mas de um complicado processo ocorrido ao longo dos últimos cinco séculos, marcado por episódios de extrema violência. A culminação desse processo é o apagamento da profundidade histórica de um hemisfério inteiro, resultando na noção das Américas enquanto vasta tabula rasa dos povos.
Cidades como Nova Iorque, Los Angeles ou até mesmo São Paulo, caso ficassem na Europa, jamais seriam celebradas por seu caráter cosmopolita, mas denunciadas como verdadeiras cloacae gentium sem precedentes na história.
A ansiedade existencial dos supremacistas brancos contemporâneos, encapsulada naquilo que chamam de “replacement theory” (“teoria da substituição”, segundo a qual as populações brancas na Europa e na América do Norte estariam sendo programaticamente substituídas por imigrantes do Sul Global), ecoa com crua ironia o projeto demográfico que os próprios europeus executaram nas Américas.
Os que hoje temem o fim de sua hegemonia frente a imigrantes, em ambos os hemisférios, foram os mesmos que promoveram a substituição mais radical da era moderna. Trata-se aqui do grito paranoico de quem herda o fruto podre da violência colonial. O verdadeiro “great replacement” não é uma ameaça presente ou futura: foi o alicerce material das sociedades americanas.
A retórica nativista de figuras como Donald Trump deliberadamente ignora que os “verdadeiros americanos” já foram e ainda vêm sendo amplamente substituídos em um projeto de engenharia demográfica via genocídio e imigração massiva. Os que hoje clamam por “sangue e solo” são herdeiros de quem derramou o sangue dos povos e profanou o solo que habitavam.
Seu pânico identitário é uma projeção freudiana, pois temem agora padecer do mesmo destino. As Américas foram o primeiro laboratório de “great replacement” da modernidade, e essa história mal resolvida ainda assombra o presente.
Diante dessa contradição histórica e da hipocrisia generalizada quanto ao tema, faz falta um caminho que rejeite tanto os delírios de pureza quanto as penitências abstratas e a romantização acrítica do cosmopolitismo panamericano (sintomática de uma síndrome de Destino Manifesto); um caminho que reconheça a artificialidade tanto do ius solis nas Américas quanto do ius sanguinis na Europa, pois não há sentido em lamentar, digamos, a suposta invasão da Grã-Bretanha por hordas pagãs subcontinentais, ao mesmo tempo em que se escolhe enxergar a Campanha no Deserto na Argentina oitocentista como um mal historicamente necessário. É insustentável a duplicidade moral que interdita a “Fortaleza Europa” enquanto abre as ex-colônias.
Talvez possamos falar em uma espécie de “ius solis de pós-esquerda”[5] despojado de moralismos baratos. Propõe-se também, para acompanhá-lo, mais um princípio com nome chique em latim: Nullum continens clauditur. Nenhum continente está interditado. Um princípio pragmático, cujo único compromisso é a realidade amoral das migrações e mudanças demográficas enquanto tendências macro-históricas inexoráveis (o que não implica necessariamente abrir mão da justiça reparatória), indiferentes a fronteiras e princípios jurídicos de nacionalidade.
Haverá quem considere essa verdade incômoda um convite ao caos migratório. Quanto a isso, digo apenas o seguinte: esse caos já está entre nós há muito tempo, e ele nunca precisou de convite.
*Eberval Gadelha Figueiredo Jr. é mestrando em Filosofia e Teoria Geral do Direito na USP.
Notas
[1] De fato, pode-se argumentar que até mesmo os ditos povos novos, tipificados por países como Brasil, Colômbia e Venezuela, teriam mais legitimidade, nesse sentido, que os povos transplantados dos Estados Unidos. Afinal, enquanto os EUA nasceram sob o signo da experimentação política, os povos novas da América Latina, não obstante o desenvolvimento tardio de suas respectivas consciências nacionais, são resultados de processos de etnogênese ocorridos ainda em tempos coloniais. Para mais informações sobre a tipologia ribeiriana dos povos americanos, ver: RIBEIRO, D. As Américas e a civilização: processo de formação e causas do desenvolvimento desigual dos povos americanos. São Paulo: Companhia Das Letras, 2007.
[2] Movimentos como o Northwest Territorial Imperative, formulado por grupos supremacistas brancos na década de 1970, com o objetivo declarado de criar um território exclusivo para brancos no noroeste dos EUA, que abrangeria os estados de Washington, Oregon, Idaho e Montana, além de partes do Wyoming. Para mais informações, ver: CRAWFORD, Robert et al. The Northwest Imperative: Documenting a Decade of Hate. Portland, OR / Seattle, WA: Coalition for Human Dignity / Northwest Coalition against Malicious Harassment, 1994.
[3] Land acknowledgements (“reconhecimentos de terra”) são declarações formais, geralmente proferidas no início de eventos públicos, cerimônias ou documentos institucionais, que reconhecem a ocupação histórica de um território por povos indígenas anteriormente expulsos ou subjugados pela colonização. Surgiram como prática no Canadá, Austrália e EUA, difundindo-se em contextos acadêmicos, governamentais e corporativos. Em outras palavras, são reconhecimentos formais de terras indígenas sem que haja restituição efetiva.
[4] Evidentemente, os grupos étnicos elencados aqui refletem tendências demográficas dos Estados Unidos, e não do Brasil. O leitor atento terá percebido a omissão de “mexicanos”/”latinos”/”hispânicos”, um grupo importante para o presente debate. A omissão não ocorreu por descuido, mas pelo fato de que os imigrantes mexicanos seguem outra lógica: são o único grupo imigrante que prescinde da chantagem moral por procuração. Vale lembrar que o Sudoeste Americano inteiro já pertenceu ao México, e a região possui um extenso histórico de intercâmbio cultural e material com a Mesoamérica.
[5] O pós-esquerdismo (post-leftism) é uma corrente teórico-política surgida nos anos 1990 como crítica radical às correntes tradicionais da esquerda ocidental, como o marxismo, o anarquismo clássico e a social-democracia. Fortemente influenciada pelo pós-estruturalismo francês e por movimentos estético-filosóficos como o niilismo e o surrealismo, rejeita, entre outras coisas, discursos moralizantes e metanarrativas teleológicas. Para mais detalhes, ver: MARSHALL, Peter. Post-left anarchy. In: ______. Demanding the impossible: a history of anarchism. Londres: HarperCollins, 1992. p. 679-680. ISBN 978-0-00-217855-6.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA