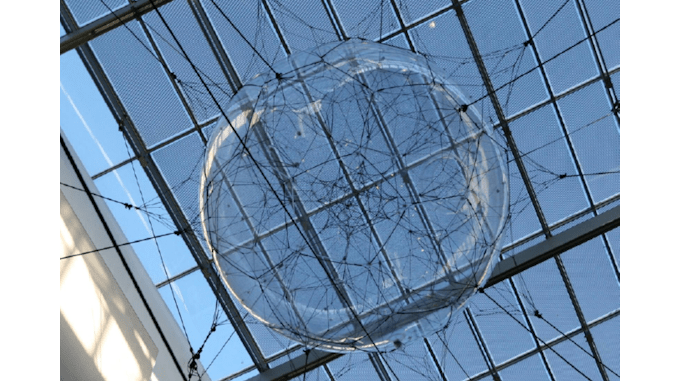Por GASPAR PAZ*
Prefácio do livro recém-lançado de André Queiroz
1.
Conheci o André Queiroz nos idos de 2006 nos corredores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), corredores que serviram de antessala ao evento “Arte brasileira e filosofia: ensaio aberto Gerd Bornheim”, no qual André Queiroz fez uma fala sobre “Raduan Nassar e a vontade do não mais – alegorias de um pensamento-outro”[i], transitando pelos desígnios da literatura e do cinema.
Começava ali uma amizade feita e refeita em surpresas e encontros fortuitos. Me dou conta agora, que da voz que ecoava naquele anfiteatro da Uerj, brotava, de fato, o magma de um pensamento-outro, roteirizado ao sabor da hora, como num verdadeiro ensaio teatral, que interpelava o outro a falar algo a mais.
Essa busca pelo que falta, aliás, foi se espraiando no todo de sua construção estético-política: seja na poeticidade dos escritos, seja nos cortes fílmicos acompanhados de instigantes imagens-musicais (pois André Queiroz pensa seus roteiros a partir do ritmo e das instanciações sonoras), seja no pensamento-outro, que transgride justamente aquela vertente filosófica que o (de)formava e o impelia a transgredir (Foucault-Blanchot-Artaud, seus próximos), seja em sua postura de professor universitário que não se resigna à universidade-mercado e se posiciona no afã de implodir as bases dominantes para pôr em seu lugar a vitalidade das massas populares.
Arrisco a dizer que foi essa inquietação artística que chamou a atenção do filósofo Benedito Nunes ao prefaciar seu primeiro livro ficcional, já vislumbrando o talento que de lá para cá se distribuiu em várias perspectivas de atuação. Sublinho, nessa viragem, as pesquisas em torno da América Latina sobre Rodolfo Walsh a palavra definitiva: escritura e militância e Fernando Pino Solanas: cinema, política e libertação nacional, que resultaram em livros publicados pela editora Insular. No fazer cinematográfico destacam-se dois filmes: El pueblo que falta e Araguaia presente!, e estão em fase de finalização e pós produção, com previsão de exibição em breve, João parapeito e Solanas explicado às crianças.
Posso garantir, depois de ter visto em primeira mão esses ensaios fílmicos, que eles carregam uma poeticidade e uma densidade de problematização muito profundas. Não é à toa que essa fase da produção madura do autor carioca ganha agora a tela atravessada do filme e da escrita de envergadura crítica com este livro Cinema e luta de classes na América Latina.
Nos ensaios de Cinema e luta de classes percebe-se duas interrogantes que trabalham em ostinato para a alavancagem reflexiva desses escritos reunidos: os anseios e o protagonismo popular na luta de classes e o papel político-pedagógico do dissenso. A partir desse encetar, o texto assume uma entonação que vai ganhando brisas no passo a passo das perguntas em anáfora e das extensões adjetivas entre o esquecimento, o ficcional, as discussões da conjuntura política e a indecisão da memória, que enfim vai tomando forma, não como a arquivística enfadada de si, não como resguardo da morte, mas como provocava Gerd Bornheim: pela inspiração do outro que gera as torrentes de vida. Se nos anfiteatros acadêmicos tudo o que se insinua guarda a intenção de ser publicado e logo esquecido, resta o “cair em si” da hora da sirene, do apito agudo que anuncia o início do teatro, o fim da jornada de trabalho.
No arrancar das horas, quiçá as horas aziagas de que nos fala André, tira-se a poeira de uma mão com a outra, junta-se logo alguma veste que se pendura nas alças do embornal, e parte-se para o cotidiano que importa. Cotidiano pensado e repensado em paragens obrigatórias de sobressaltantes lembranças alcoólicas. E assim, como de chofre, tudo se refugia num “quando” drummondiano, quando as peles dos textos se tocam, experimentando o tateio do olhar surdo a procura da resposta no gesto, na leitura labial. André segue à risca a deixa drummondiana, mundana, percebendo que “então é hora de recomeçar tudo outra vez, sem ilusão e sem pressa, mas com a teimosia do inseto que busca caminho no terremoto”.[ii]
O leitor desavisado, ao se deparar com tamanha teimosia, poderá concluir que há uma intransigência crítica no modo como André Queiroz se aproxima de certos filmes dispostos nessa coletânea. Em verdade, a abertura da lente fílmica proposta por ele, em diferentes modulações, ambiciona um mergulho fundo para se encontrar frente a frente a todos os transbordamentos e dimensões pensáveis de um filme.
Flagra-se, portanto, as lutas cotidianas às quais ele enfrenta, a um só tempo, rearticulando os espaço-tempos da memória, as crises, tensões e alegrias do presente, para ultrapassar os inevitáveis dissabores da vida como ela é. E é assim que reinventa uma renovada dose de utopia como construção madura da realidade palpável. Ele quer saber o que mobiliza, o que intriga aqueles que se põem próximos das imagens-cruas, imagens-simples, imagens-sépia, imagens que fazem pensar.
2.
Assim, a distribuição do texto de Cinema e luta de classes se faz por camadas. A primeira demão, como não poderia deixar de ser, é a escrita poética do texto, que vai se compondo através de uma narrativa imagética. Essa narrativa, figurada filosófica e literariamente, conversa com as imagens/frames que são, por assim dizer, a segunda camada de inflexão e legibilidade do texto. Cada foto retém em si uma infinidade de instantes do filme que o autor põe em evidência na tela, na página. E é necessário que se veja bem a tomada de posição das imagens selecionadas por ele.
A terceira camada, nessa polifonia instaurada na cena, nasce na margem da página, como se fosse a costura de um texto paralelo, articulado a partir de informações e comentários de autores que pensam a contextualização histórica do Brasil, da Argentina e da América Latina como um todo. Apresenta, assim, o quadro e a discussão de comentadores atentos à hora, mostrando tiradas e insights pouco abordados pelos historiadores de gabinete.
São esses comentários que provocam o roçar das peles ensaísticas, não com carícias, mas com afetos que não escondem o desalento e trazem os filmes para outra margem, nutrindo-se da aventura vivida e da resistência às mazelas das realidades latino-americanas. Entre os autores percorridos nessas margens da filmografia encontramos, por exemplo, Francisco Oliveira, Tales Ab’Saber, Celso Rocha de Barros, Eduardo Anguita, Martin Caparrós, Rodolfo Walsh, Paulo Arantes, Florestan Fernandes, Marx e o próprio André Queiroz, para ficarmos com alguns.
Não raro, nessa esfoliação das peles textuais, o autor provoca a narrativa fílmica aproximando dela intertextos literários. Ora no texto da primeira camada, ora no da terceira, desfilam vozes áridas-secas de personagens da literatura do nordeste brasileiro (Graciliano Ramos, José Lins do Rego…), ou a arqueologia maquinal do resíduo de um Carlos Drummond de Andrade, ou ainda a canção de Luiz Gonzaga Jr, que se põe no canto direito da página como epígrafe para começar a saga de “O açúcar amargo do patrão – apontamentos entre cinema, memória e política”: “[…] Eu entrego ao divino, o cretino que me mata na fila do feijão, não tem condição/ Eu entrego ao Senhor, o doutor que deu fim ao meu dinheiro, o ano inteiro/ Só não entrego ao diabo, pois desconfio que o diabo é o diabo do patrão”. Nessas camadas demão da tinta-sangue no mata-borrão da crítica queroziana – o querosene incendiário dos insurretos – ainda se verifica o fazer fílmico do próprio André a perpassar, em nós de embira, as amarrações das referidas camadas fílmicas da crítica ensaística. E é nessa tessitura que o autor vai escolhendo os filmes que farão a própria dialética da crítica.
São dez filmes que retratam cenas políticas da América Latina, aos quais se somam dois filmes estrangeiros (um coreano, um francês), que aventam questões agudas e reverberantes no panorama latino-americano. No tatear da escolha, do crivo, o autor se queda de vez em quando no voyerismo por detrás das câmeras “na mão” de um Glauber Rocha ou da motivadora filmografia argentina; outras vezes, quase que ao acaso, se deixa escolher pelo próprio filme, como se fosse um desses figurantes aparentemente esquecidos num canto da cena, que de uma hora para outra, como num ímpeto, resolve perguntar sobre os falsos movimentos do cinema e da política.
Ele explica essas voltas do destino acenando corriqueiro ao leitor: “Em uma tarde quentíssima de janeiro, recebi em um grupo de WhatsApp, uma lista de recomendações dos mais recentes filmes de formação de militância política”. Foi conferir! Imagino que constassem nessa lista ao menos quatro dos filmes analisados neste livro, cuja pergunta pela luta popular fica suspensa. São eles Democracia em vertigem, de Petra Costa; Argentina, 1985, de Santiago Mitre; Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles; e La Noche de 12 años, de Álvaro Brechner, inspirado no livro Memorias del calabozo, de Maurício Rosencof e Eleutério Fernández Huidobro.
3.
Nem importa tanto como foram tecidas todas as escolhas de filmes para este livro, mas sim o arcabouço de reflexões que os filmes propiciam. Nesse sentido, André Queiroz se coloca como uma espécie de “perturbador do status quo”, como disse Edward Said referindo-se ao papel público do intelectual, sempre a “derrubar os estereótipos e as categorias redutoras que tanto limitam o pensamento humano e a comunicação”[iii].
É com essa inspiração e desbravamento que o autor de Araguaia presente problematiza, nos quatro filmes acima mencionados, e no todo dos ensaios que compõem o livro, algumas interrogantes sobre a violência capital. Pergunta ele, “[…] afinal, para que serve um golpe de Estado?”, “Como se custeava tal aparato repressor?”, “[…] para o quê se constrói uma película documental?”. O que o autor está a dizer é que o cinema não é simplesmente um modo bem-comportado de observar as coisas, uma peça dos jogos de armar.
Se quiser filmar a luta de classes, o diretor e todos aqueles que se empenham na cadeia produtiva de um filme (incluindo aí os espectadores), precisam ser atores ativos, muito mais que espectadores alheios ao dia a dia dessas lutas. Necessariamente, terão que arregaçar as mangas e entrar na luta com unhas e dentes. É nesse instante, arrancado das horas, que se for o caso André rasga a pele dos filmes que vê, para reinscrevê-los em outras películas. E o faz mudando o foco, as notas, os acordes, as letras, trazendo à tona a ausência sentida, como num tango de Artur Piazzolla.
Trata-se de um convite para ver como se fosse a primeira vez, ou ao menos, a rever os filmes com expansões dialéticas, complementando seus temas e relendo os acontecimentos cotidianos por meio deles. Isso já se percebe no aprofundamento de um percurso sui generis que tudo quer captar poética-literária-fílmica-teatralmente, numa ânsia em recolocar incessantemente a difícil tarefa de ver o que há por trás dos acontecimentos, descortinando-os.
Esses ensaios, desdobrados pelo sentimento e as lentes do artista, têm uma maturidade poucas vezes vista, pois se faz também arredia aos holofotes do mercado de bens e serviços, dispostos nas prateleiras do capital de acumulação. Pode-se dizer que o que se acumulam aqui são as perguntas, a calma construção de uma obra que requer a travessia em sua integralidade. Mas façamos um salto – já que no cinema tudo é corte e montagem – para acessar a maneira como André vai desenovelando o foco das imagens.
4.
“Valentina nos oferta desenhos da infância, desenhos de agora. Valentina conta que descobriu o manejo de pincéis num ensaio de textura e de formas. Talvez que sirvam para imprimir no branco da tela a partitura dos gestos. É que a mão de Valentina bordeja paisagens, decupa personagens, tramita olores e contrastes sob o estourado da fotografia. […] Por vezes, a câmera treme, repica, desenquadra e granula a imagem. Noutras vezes, a câmera capta o vazio como se tivesse sido esquecida enquanto as coisas do mundo se dão numa indiferença a ela. Faz parecer que o quadro será sempre pequeno for o caso o afronte do real, tangido pelo primado da ausência que não se deixa representar. Senão apenas os restos – que escorrem. Senão pelo que sobra – e não se traduz. Senão pelo que falta – e insiste em não regressar. Valentina abre caixas, desata nós cegos surdos mudos, como quem revolve a terra estriada pelas intempéries que desabilitaram safras e destinações; descobre senhas de ingresso, cartas que nunca, palavras pela metade […]”
André Queiroz começa assim a desenovelar o carretel de La casa de Argüello, filme de Valentina Llorens. Ainda não se sabe se os corpos estão ou não no porta-malas, ainda não se sente o cheiro dos mordomos, mas o faro de André pressente algo. Num fragmento da terceira camada do texto, libera a pista: “Destacaria a importância de pensarmos o limite da representação, e no caso, este limite se apresenta no paradoxo: a representação da ausência, do desaparecido, dos vestígios apagados”.
Rebobinemos a fita até chegar a fragmentos do primeiro documentário, o de Petra Costa. “Petra está empenhada em contar a história de uma fratura… Personagens tangidas aos humores dos porões da ditadura civil militar brasileira, a reproduzir as mesmíssimas palavras de ordem, os mesmos cantos de guerra fundados em silogismos de valência trocada… todavia é tarde. Ela o sabe. Ninguém mais o pressentia? Nenhum dos sujeitos políticos, empenhados às tarefas da administração da máquina burocrática do Estado e à frente do Poder Executivo há mais de uma década, o prefigurava? Nenhum dos agentes formuladores das políticas econômicas para transformação e dinamização do setor de investimentos internos calcados na recuperação pujante do empresariado local por meios das benesses de transferência de capital público e incentivos fiscais, desconfiava?”
Sigamos agora em câmera rápida, avançando e regressando a fita para acessarmos um fragmento do ensaio sobre Argentina, 1985, onde se sente ainda mais os nexos da argumentação de André Queiroz.
“O filme esquece ou faz esquecer a estes atores políticos imprescindíveis a que um governo de turno não abocanhasse e o regulasse em sua liturgia institucional. E de tal maneira isto, que podemos afirmar de forma categórica que no filme Argentina, 1985 o que se fez desaparecer de todo são as camadas populares organizadas e segmentos consideráveis dos setores médios da população argentina, protagonistas (que foram e são) nos combates não apenas contra a ditadura dos militares a serviço dos interesses monopólicos internacionais e locais; como também nos episódios diários e intensíssimos da luta de classes contra a espoliação dos direitos elementares e fundamentais do povo argentino durante os governos constitucionais”.
Nota-se que, contrariando a crítica que incensa o filme e os espectadores brasileiros que sonham um “justiçamento” análogo ao argentino e saem do cinema como se estivessem portando um manual de sobrevivência urbana que não tardará em permanecer sossegadamente na mesa da sala de visitas, André pergunta pela ausência. Estuda, estuda e estuda a Argentina, entra nas biroscas, consulta os mapas geográficos, lê todas as entrelinhas e notas de rodapé da história, escuta músicas e narrativas, revira arquivos em 12 horas ininterruptas por dias, por meses (até que esses arquivos pululem em seus sonhos), conversa com passantes e militantes históricos e se dá conta, então, da falta que Solanas faz, da falta daquilo que Solanas nos faz/fez ver.
5.
Há coisas que não cabem num filme. André sabe da dificuldade em criar um roteiro de cinema. Não apenas pelo trabalho incessante de atenção em separar o joio do trigo para que se chegue a uma boa montagem, mas também porque, no cinema, se está sempre às voltas com o corte. E trabalhar com o recorte significa tirar algo do visível. Acontece que o que se tira do visível no caso dos filmes analisados por André é muito sintomático, pois é o que há de mais caro no processo político-social da América Latina.
O jogo de cena pode ser melhor entendido se se pensar, por exemplo, no campo da educação vis-à-vis a história, a memória cultural. E em se tratando da política brasileira, essas circunstâncias me fazem lembrar de um comentário de Marilena Chaui sobre a defesa da Teoria da Dependência por Fernando Henrique nos tempos do Cebrap. Marilena Chaui ressalta que é uma teoria embasada no capital estrangeiro, na burguesia nacional e no Estado. A classe trabalhadora é a grande ausente, excluída das cogitações.
André Queiroz processa um raciocínio semelhante ao pensar o cinema latino-americano. Ele se indigna e denuncia o que desaparece deliberadamente, pois sabe, como o Gramsci dos anos 1920, que o “Capitalismo significa hoje desorganização, ruína, desordem permanente. Não existe outra saída para a força produtiva senão a organização autônoma da classe operária, seja no domínio da indústria, seja no do Estado” e mais “A lei da propriedade é mais forte que qualquer dificultoso sentimento de filantropia. A fome dos pobres, daqueles que produzem a riqueza alheia, não é crime em uma sociedade que reconhece como sagrado e inviolável o princípio da propriedade privada: que os patrões fechem as fábricas, reduzam os salários dos operários, isso não está fora da lei que regula a sociedade capitalista”.[iv]
André Queiroz sabe ainda que a sala de cinema, palco da cena de prisão de Marighella[v] nos anos 1960 da ditadura brasileira, não deve ser espaço de esquecimento. André percebe que um cinema como Kuhle Wampe de Bertold Brecht dos idos de 1933, em embarque para o degredo, não se esquece do que importa. Para ele, “a palavra agônica de Paulo Martins, vozeiro e personagem de Glauber Rocha a este filme de 1967 (Terra em transe), parece atravessar as invisíveis e refratárias paredes do tempo que, vez ou outra, se reapresenta aos modos da farsa ou da tragédia”.
No ensaio sobre o futuro do que somos sob o arame da ilusão desenvolvimentista, André Queiroz recolhe as peças da fábrica e se pergunta, até quando? E responde no entrelace de literatura e cinema uma, duas, três, incansáveis vezes: “Não haverá formas de recomeçar e aceitar. Não haverá desertos a serem percorridos em pernas lépidas. Não haverá memória gorda e pesadona a lancetar desde sempre o futuro que virá. Melhor desmontar o sonho tranquilo dos que oprimem. Pedro parece saber disto. Afinal é seu o gesto derradeiro. Não o de seguir a um a frente de incertezas e derrotas. Não o de tomar o rumo da serra dentro de um carro arrancado de empréstimo numa ligação direta. Pedro volta para a fábrica. Vai ter com os companheiros. Sabe que não pode quedar-se solito sozinho. Pedro irá organizar a luta – que nunca terminará de ser o seu desafio e tarefa”.
As engrenagens duras e resistentes, o açúcar amargo das lutas diárias, o rescaldo da vida… Enfim…
“Não foi o que um Zé Lins do Rego nos sugere em seus romances do Ciclo da Cana de Açúcar? Que uma coisa seria a estória de Carlinhos, neto de Zé Paulino, dono de quantos engenhos e de todos os mundos; e Zé Lins nos contará da derrocada deste mundo de monocultura latifundiária, e nos fará seguir os sustos e assaltos do tempo a girar em crises cíclicas o processo de produção; […] Noutro filo, saído às caladas da noite de chacais, partirá Ricardo, moleque da bagaceira, um aquele que já não brinca e só trabalha; tece destece sobe desce, Sísifo oprimido a produzir das mãos calosas a casimira do senhorio, ou o “excedente de sua bonança” na troca em paga por pedaço insalubre de carne de Ceará. Zé Lins nos conta que Ricardo segue pro Recife, não às escolas do direito fundiário, mas à chapa quente dos tornos e da periferia, e Ricardo leitor das mãos de Paulo Freire, irá aos poucos vendo e percebendo que sua sorte é tributária da glória dos que lhe tripudiam, e Ricardo perceberá que sua marmita fria de salmonela é a extravagância vegânica que lhe obstrui, encarquilha e pisoteia. E Ricardo se organizará. Procurará nas redondezas outros que, como ele, sofrem do tacão de ferro da ordenança. Não se bastará sozinho sob os indicativos meritocráticos. Não quererá o destaque das horas extras e dos bônus de participação com direito a impostura de ter seu rosto na estampa barata de funcionário do mês. E Ricardo se organizará. Zé Lins do Rego nos conta que tão logo os homens do pelotão virão levar Ricardo e seus companheiros para uma larguíssima temporada de verão infame em Fernando de Noronha. Não a um resort para visitação temperada de corais e tubarões de cabeça de martelo. Mas ao cárcere de segurança máxima onde as ratas e a boia fria não deixarão em sossego de contemplação a um tipo de “tamanha periculosidade”. Zé Lins nos conta também esta metade outra da tessitura dos relatos. Como quem move peças e desestabiliza certezas de prontidão”.
6.
Se distribuem aí, em ritornelo, a luta de classes e o dissenso. Retomemos as perguntas de André Queiroz: afinal, para que serve um golpe de Estado? Como se custeava tal aparato repressor? para o quê se constrói uma película documental? À primeira pergunta ele nos lança o seguinte comentário:
“Para o quê o acionar de tropas armadas desde dentro das casernas senão para o desdobrar de artimanhas de conformação de um certo estado da luta de classes?! Reordenar a balança de pagamentos, impor um regime de lucro às empresas sacado às custas de enormes sacrifícios impostos aos trabalhadores – reprimindo-lhes no seu direito de organização, perseguindo lideranças populares, proibindo greves e assembleias, reordenando o corpus legislativo ainda que no marco da constitucionalidade liberal”.
Qual o custo, qual o ônus? “De onde viria a prata necessária para os deslocamentos terrestres, aéreos, marítimos, manutenção de corpo altamente especializado de comando estratégico e tecnológico, mobilização de tropa, custeio do rancho e de munição, instalação de aparatos de comunicação nos mais diversos veículos fazendo uso, inclusive, de seus ideólogos orgânicos espraiados nos mais diversos meios de publicidade e de propaganda a que, de forma eufemística, se lhes autodenomina como meios de comunicação? Quem será que pagava por esta conta indébita? For o caso seguirmos a letra do documento militar do Conselho de Defesa, diz-se, sob forma lacônica, mas pontualíssima, que os custos operacionais estão garantidos no Artigo 7 do Decreto Nº 2770/75”.
E por que se faz então cinema? “Será para llenar la pantalla com os relatos do passado histórico político recente – disponibilizando-nos fatos e agentes, sujeitos coletivos e individuais, diretrizes e programas de luta, ou a complexa trama de contextos contraditórios pelos quais trafegam os homens? Será para contrarrestar certo relato hegemônico encadeado de forma massificada pelos oligopólios da propaganda (os chamados meios de comunicação) no intento de promover consciências manufaturadas?”
A crítica dialética de André Queiroz, reabre a impostura dos desaparecimentos e deixa ver no filme os flancos da vida vivida. Os escritos que se tem em mãos nos provocam a repovoar, a reocupar os acentos de todas as instâncias do filme com o que foi desaparecido, exilado. O cinema solano, o cinema andreano vai se expandindo no dia a dia das lutas na repulsa ao assalto oligárquico e das mortes anunciadas pelos genocidários.
O povo que falta, chave interpretativa dos ensaios, é chave comum de entrada em portas tantas vezes arrombadas com coturnos. Salta aos olhos nessa obstinação do diálogo os apontamentos sobre o papel político-pedagógico do dissenso. Não é à toa que esse tema aparece num dos últimos ensaios antes dos anexos (que são também pérolas da crítica cinematográfica). Trata-se de ver o dissenso como abertura de caminhos, como tomada de posição, como construção de um horizonte menos evanescente e, de fato, mais palpável, mesmo que não se despeça totalmente (pois há aí o espaço do desejo) das vestes do onírico.
Não um dissenso para justificar conciliações inconciliáveis, não um dissenso para justificar as fastidiosas posições que insistem capciosamente na exclusão dos que divergem. Na verdade, o papel do dissenso aqui é expor o limiar de tudo. E esse todo se reflete nas tênues relações de trabalho, que não reconhecem o que falta. E o que falta está escrito com todas as letras por André Queiroz em língua nativa, o que falta ao banquete intragável é aquilo que resiste e é perseguido em suas ações. O dissenso como resistência ao apagamento da história, da memória. El Pueblo, presente cultural, sem meias palavras.
Com uma câmera de imagens na mente, uma carrada de ideias nas mãos, André Queiroz filma, refilma, escreve, reescreve um pensamento-outro, com as calorosas imagens-ideias andreoqueirozas.
Gaspar Paz é professor Departamento de Teoria da Arte e Música da Universidade Federal do Espírito Santo. Autor do livro Interpretações de linguagens artísticas em Gerd Bornheim (Edufes).
Referência
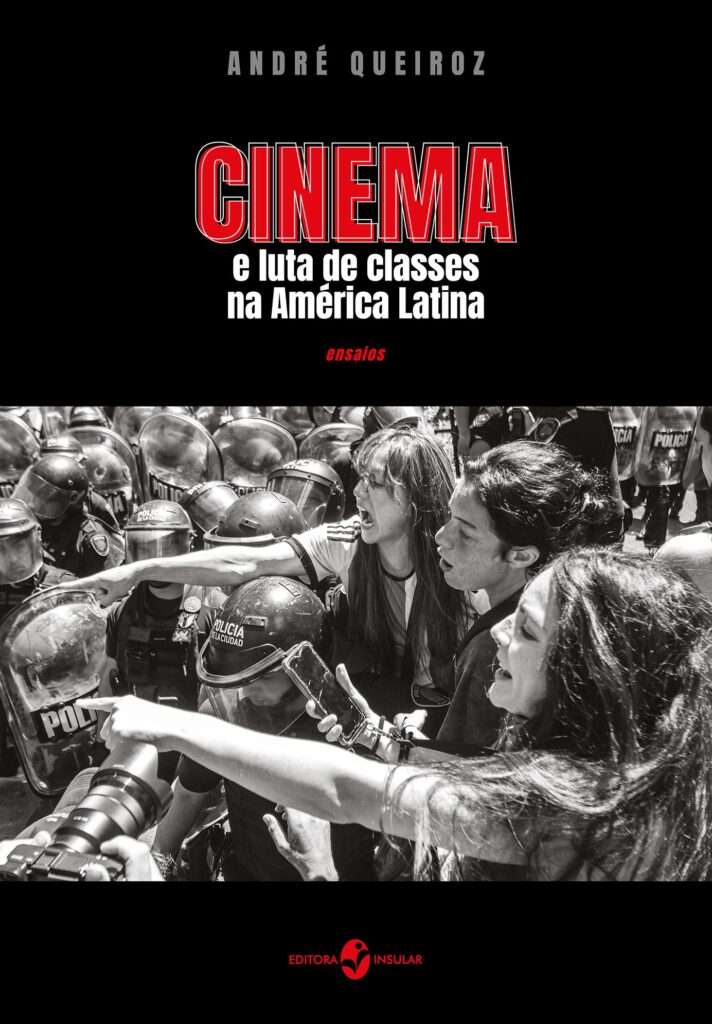
André Queiroz. Cinema e luta de classes na América Latina. Florianópolis, Insular, 2024, 228 págs.
[i] Ensaio publicado no livro Arte brasileira e filosofia. Espaço aberto Gerd Bornheim. Organização Rosa Dias, Gaspar Paz e Ana Lúcia de Oliveira. Rio de Janeiro: UAPÊ, 2007.
[ii] Carlos Drummond de Andrade. Autorretrato e outras crônicas. Rio de Janeiro: Record, 2018, p. 87.
[iii] Edward Said. Representações do intelectual: as Conferências Reith de 1993. Tradução Milton Hatoum. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 10.
[iv] Antonio Gramsci. Os líderes e as massas: escritos de 1921 a 1926. Seleção e apresentação Gianni Fresu, tradução Carlos Nelson Coutinho, Rita Coutinho. São Paulo: Boitempo, 2023, p. 69.
[v] Carlos Marighella. Chamamento ao povo brasileiro e outros escritos. Organizado por Vladimir Safatle. São Paulo: Ubu, 2019.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA