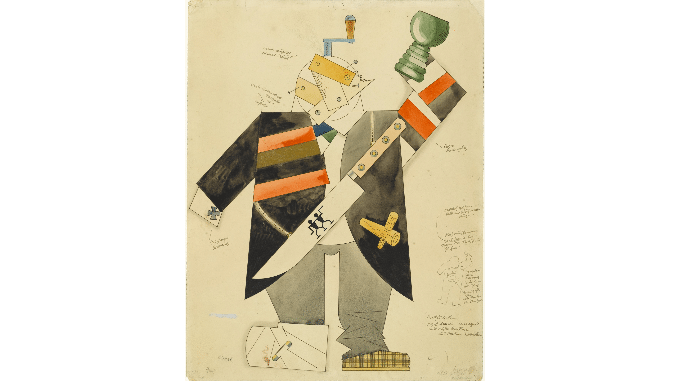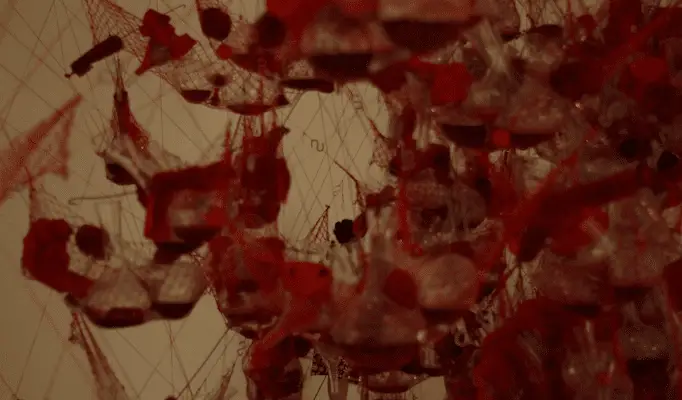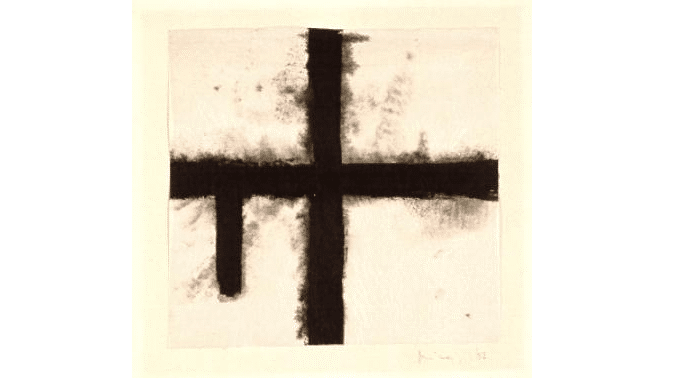Por REMY J. FONTANA*
Comentários sobre o livro de entrevistas de Fellini
Nas primeiras linhas de Abaixo as verdades sagradas, Harold Bloom se refere ao Livro dos Jubileus, composto por um fariseu por volta do Ano 100 antes da Era Comum como tendo um título exuberante para obra tão medíocre. Deparo-me aqui com uma apreciação oposta ao fazer alguns comentários sobre Fellini: Entrevista sobre o cinema, realizada por Giovanni Grazzini. Trata-se de obra notável sob um título prosaico, sob a forma de um modesto pocket book. Este livrinho discreto – do gênero entrevista com celebridades ou figuras destacadas usualmente tratando de amenidades, curiosidades ou fatos pitorescos de suas vidas e eventualmente de suas obras, não infrequentemente sob indigesta abordagem hagiográfica –, tornou-se mais que uma agradável surpresa.
O livro diz mais, pois, do que a capa sugere, surpreende pela interlocução inteligente entre quem pergunta e quem responde, sendo as respostas de Fellini extensas digressões sobre suas memórias de infância, seus anos de formação numa uma Itália católica fervorosa sob o fascismo, suas atividades iniciais como ilustrador, quadrinista, roteirista e diretor de cinema; seu “método” de trabalho, suas referências e influências e sobre outras tantas coisas para além do cinema, quase uma pequena autobiografia. Tudo somado, o que ele nos diz de si mesmo, do cinema, da vida, do seu mundo, de sua criação, da arte, nos conduz a uma fascinante jornada. Como outros talentos excepcionais, Fellini é acessível, embora nem sempre percebido como tal, loquaz, pé-no-chão, prático e acima de tudo, genial.
Há toda uma literatura sobre este cineasta, inclusive livros de sua autoria,[1] enfocando diversos aspectos de sua obra, mas nesta pequena publicação de 158 páginas aqui comentada há tantas informações, análises, argumentos, indicações, alusões sobre a arte de fazer cinema, expostos de maneira tão elucidativa, tão cativante pela florescência de uma inteligência tão sagaz que parece estarmos diante antes de um tratado teórico do que de uma entrevista, ainda que extensa. Diga-se, a propósito, que a abordagem teórica ou uma exposição científica é tudo de que Fellini se distancia; suas referências, seu estilo, seu “método” revelam sim uma cultura apurada, mas se realizam antes na pragmática de um fazer único, pessoal, vis-à-vis uma realidade que capta de olhos bem abertos, para transfigurá-la pela potência de uma imaginação, cuja desenvoltura é vicária de sonhos mais ou menos delirantes.
Próximo a certo barroquismo, como alguns o veem, procurando distanciar-se de uma “árida lucidez intelectual racional”, colocando em seu lugar um “conhecimento espiritual, mágico, de participação religiosa no mistério do universo”, como escreve Ítalo Calvino, Fellini pode passar do caricatural ao visionário sem prejuízo de uma representação expressiva, de tal modo que mesmo quando utiliza uma linguagem mais sofisticada não perde uma matriz comunicativa popular. Mas tais recursos expressivos, notadamente os do tipo caricatural, por mais grotescos, por mais sanguíneos, portam sempre algo de verdadeiro, mesmo que tais implicações em favor da verossimilhança, ou da fidelidade à verdade, não sejam uma exigência de um juízo estético.
Entre o projeto ou ideia do que pretende fazer e sua realização há mediações, algo intencionado que segue um roteiro, e muito do improvisado. Suas ideias, insights, intuições lhe sobrevém aleatoriamente, de percepções fortuitas, de apreensões circunstanciais, onde nem consciência nem vontade parecem intervir. É desta forma que acha a resolução de um impasse, seja a caracterização de um personagem, seja a escolha do ator que deve encarná-lo. Não se trata de um puro capricho idiossincrático, mas de uma disposição subjetiva aberta, uma interioridade livre que não se deixa aprisionar unicamente pela existência exterior, embora retire desta os seus elementos sensíveis e imediatos.
Igualmente, deste procedimento não se deve inferir que em Fellini tudo é voluntarismo, acaso, desleixo e invencionice. Está antes atento ao que vê, o que lhe surge de zonas profundas da constelação de sentimentos, de percepções, de antecipação de imagens, personagens e atmosferas. Tem plena noção de sua responsabilidade, “de não enganar, de não contentar-me, de testemunhar, com os instrumentos expressivos de que disponho, a loucura na qual de vez em quando me encontro”.
Não lhe faltavam formação, referências eruditas, conhecimento estético apurado ou experiências enriquecedoras em seu ofício, ao lado de geniais criadores nas artes gráficas ou fílmicas. No entanto se valia destes conhecimentos e destas práticas se apropriando deles, os elaborando “por dentro” e no interior de seu fazer, sem solicitar do espectador que não fizesse nada, ao ver seus filmes, do que simplesmente vê-los. Ver seus filmes e ser tocado por eles, como, por exemplo, do modo como Roland Barthes (em Camera Lucida), em meio a uma extensa, profunda e exasperante análise que faz da fotografia, no último livro que escreveu, nos conta que ao ver uma cena de Casanova seus olhos foram atingidos por uma espécie de intensidade dolorosa e deliciosa, “(…) as if I were suddendly experiencing the effects of a strange drug: each detail, which I was seeing so exactly, savoring it, so to speak, down to its last evidence, over whelmed me (…)”.
Ao apresentar seus filmes não induz nem sugere que sejam apreciados sob nenhum tipo de leitura, sociológica, psicanalítica, semiológica ou outra qualquer; embora obviamente possam passar por tais filtros e registros críticos. Mas, vale insistir, por mais onírica, metafórica, sensível, fantástica ou fantasiosa que sejam as cenas fellinianas elas não se reduzem a produção de emoções fáceis, ou nos remetem a um escapismo divertido; são antes estímulos à reflexão, uma via imagética, mas compreensiva de aspectos universais da condição humana, de seu pathos como condição afetiva fundamental, mas também do que ela comporta de leveza e doçura profundas.
Certamente longe de ser um alienado, o que poderia intrigar alguns é o fato de Fellini, como alguns outros grandes cineastas, basta lembrar de Bergman, passarem ao largo de preocupações ou aproximações com a política, ao menos em suas formas explícitas, empenhadas ou radicalizadas. Suas paixões são de outra natureza, seus trabalhos têm outros eixos, outras motivações ainda que usualmente críticas ou mesmo demolidoras da sociedade burguesa, de sua cultura e instituições.
Seus filmes, em graus variados, ultrapassaram seus próprios limites, impactando costumes e moralidades. Não foram poucas suas invectivas sobre a cultura de uma sociedade, a italiana, em seus aspectos mais retrógrados, que se autocelebrava e se representava pela aristocracia rural, pela nobreza papalina ou pelo fascismo, sobre os quais “gostava de exercitar a minha propensão de zombar”.
A reação clerical a Dolce Vita, é ilustrativa; L’Observatore Romano, pretendia que o filme fosse censurado, seus negativos queimados e o passaporte do cineasta aprendido. Na porta de algumas igrejas se podia ler, num manifesto tarjado de luto: “Rezamos pela salvação da alma de Federico Fellini, notório pecador”.
Também pela esquerda não faltavam críticas, acusando-o de insistir demais na “poética da memória”, no caso de Os boas vidas, ou de não estabelecer ligações claras entre a narrativa e as problemáticas sociais ou intenções políticas, Na estrada da vida.
Se é fato que a arte é condicionada pelas formações sociais, não há nisto determinações sem mediações que vão das psicológicas às morais, das estéticas às metafísicas, introduzindo temas como o amor, a morte, a felicidade, a racionalidade, a maldade, o acaso, a tentação do mal, ou do bem, o apetite faustiano, a memória, a angústia, a alienação. Temas e condições trabalhadas sob a forma de uma sucessão de imagens, no caso do cinema, de visões oníricas, ilusórias que, como contrapartida do mundo real, se remetem à experiência, em um fluxo contínuo, através da consistência de um dado estilo.
Se quiséssemos ilustrar numa figura singular a afirmação hegeliana da marcha universal da história em direção a consciência da liberdade, possivelmente Fellini poderia ser um front runner. Numa dialética de evolução, ele e sua obra parecem elevar-se de uma liberdade ainda pessoal e autoral de volta ao patamar da universalidade, de uma consciência de si, de realização de sua obra a de sua fruição por todos.
Entre os requerimentos para ser um diretor de cinema Fellini arrola curiosidade, humildade diante da vida, desejo de ver tudo, preguiça, ignorância, indisciplina e independência. Qualidades que podem ser vistas em seus filmes, com destaque para curiosidade e abertura para o mundo, para vê-lo sem reservas ou julgamentos. Alguns críticos ingleses fazem aproximações ente suas obras e as de Charles Dickens, pela capacidade de empatia com personagens, pelo exagero e caos do que é narrado ou mostrado. Seus tipos preferenciais são os outsiders, os marginalizados, as vítimas da vida, da sociedade, que são olhados na face, nunca de cima, nem fora do contexto de suas dificuldades.
Sua capacidade de maravilhar-se é sem limites, há caos, mas do tipo criativo, seus pontos de vista não são fixos, sua concepção de vida mantém-se aberta.
Em 1982, durante o 35º. Festival de Cannes, Wim Wenders convidou alguns colegas diretores, um de cada vez, os colocou sozinhos diante de uma câmera em um quarto de hotel, para responder a uma única questão, “Qual é o futuro do cinema?”, do que resultou o documentário “Quarto 666”. Entre outros que refletiram sobre seu ofício destacavam-se Godard, Fassbinder, Antonioni, Herzog, Spielberg, Ana Carolina.
O resultado parece revelar mais da personalidade de cada um do que a exposição de argumentos ou uma digressão de maior consistência. Cito este fato porque na mesma época, em 1983, era publicada, sob a forma de livro, a entrevista com Fellini, objeto deste comentário. É certo que entre uma reflexão breve em frente à uma câmera, onde a palavra é mediada pela imagem em movimento, e a interlocução inteligente com alguém, ao longo de alguns encontros, que depois tomará a forma de texto impresso, vai uma enorme diferença de contexto, de tempos e linguagens.
Mas não deixa de nos encantar a profusão inspirada das reflexões de Fellini, em contraste com um palavreado fragmentado de algumas mentes brilhantes da Nouvelle vague, do cinema alemão ou de Hollywood; um tanto frustrante. Para além da complexidade da questão, encoberta pela forma despojada em que foi formulada por Wenders, aqueles diretores penaram, em sua frieza e dispersão, para ir um pouco além de enunciar algumas preocupações com o advento concorrencial da televisão e alguns outros pontos, diferentemente da forma calorosa, amistosa e tranquila com que Fellini encarava o futuro do cinema, no texto aqui referido.
É algo surpreendente a falta de jeito, acabrunhamento mesmo, com que ficam à frente da câmera, estando com suas cabeças, naquele momento, e usualmente, atrás dela (como fala Godard). Tem diferentes percepções sobre o futuro do cinema, seja como linguagem, que parece perder-se diante de outras mídias, TV e publicidade, por exemplo, seja com as mudanças tecnológicas que parecem lhe impactar ou ameaçar enquanto forma de arte tout court.
Entre pessimistas e relativamente otimistas expressam incertezas e angústias, seja porque alguns acham que a indústria e comercialização dos filmes deixam poucos espaços para uma criação autêntica, que se recolheria em nichos à margem, seja porque os críticos demoliram o cinema enquanto tal, seja pelo deslocamento do foco dos personagens para os diretores, a fotografia etc.
Vários dizem não ir ao cinema ou ver filmes com frequência, alguns, menos preocupados não levam tão a sério as questões mencionadas, ou as remetem à ciclos em que se alternam a realização de filmes bons e ruins. Há um certo consenso quanto ao cinema repor-se na contemporaneidade, como uma arte digna de sua natureza e originalidade, desde que seja feito com paixão, com vigor, amor e reflexão (Susan Seidelman, Ana Carolina), como expressão de uma individualidade (Fassbinder), conectado com a vida (Herzog), resolva problemas de orçamento (Spielberg), equacione a contradição entre cinema-indústria e cinema-artístico de forma a não alienar as massas, de um lado, e não a afastar, de outro (Yilmaz Guney).
Antonioni, com mais serenidade e loquacidade reconhece a seriedade das ameaças ao cinema, seja pela emergência da TV, que impacta a mentalidade e o olho do espectador, seja pelas dificuldades de adaptação inclusive diante de novas tecnologias (é o que melhor antecipa as inovações, ainda apenas esboçadas, à época). A questão, diz, é se adaptar às exigências do espectador e do espetáculo de amanhã; dizendo-se um prático, não um teórico, vê as transformações como inevitáveis, não apenas a nível tecnológico, mas também das mentalidades e sentimentos, o que implica experimentar as novas possibilidades que daí surgem, experimentar coisas novas, fazê-las em vez de falar sobre elas, para mostrar enfim o que sentimos, o que achamos que devemos dizer, ou, concordando com Godard, que a tarefa do cinema é mostrar, com sua linguagem, com seu mundo imaginário, o que não se pode ver.
Retornando à Fellini, como qualquer obra, seus filmes podem ser criticados por critérios estéticos, sociais ou políticos, mas fica difícil não lhes reconhecer uma “alma”, incorporando sentidos, significados e sentimentos de uma existência, cujas determinações, tanto as peremptórias, quanto as prosaicas ilustram a vida, tal como a vivemos ou como imaginativamente poderíamos vive-la.
Se a linguagem do cinema é primordialmente metafórica não é de estranhar ter Fellini designado a si próprio como “um grande mentiroso” e sua arte como uma autêntica fábrica de ilusões, mas nem por isto abdicar de, operando por tais meios e subterfúgios, habilitar-se a desvendar algo sobre o mundo ou a condição humana, tornando-os suscetíveis de maior compreensão, permitindo-nos ver algo deles que de outra forma não veríamos. Fellini é exímio na arte de suscitar uma emoção, e de nos levar além dela, mais adiante de um afeto fugaz, em direção a um esclarecimento, a uma inteligibilidade, na medida em que facilita o estabelecimento de uma relação de empatia ou de afinidade eletiva com o que estamos a ver.
O tempo e a experiência do tempo – além do tempo cinematográfico propriamente dito, que supõe imagens em sucessão temporal –, tema recorrente e eixo de algumas de suas obras mais notáveis, não nos aparecem como momentos singulares ou como mera cronologia, mas transcorrem com fluidez, deixando rastros de vivências que vemos com o encanto de uma nostalgia poética, mas não com um sentimentalismo banal, e aponta para um percurso que seus personagens seguirão um caminho a percorrer, cujas vicissitudes e destinos não estão dados e menos ainda podemos vislumbrá-los.
Um filme pode ser apreciado de múltiplas formas, tema, roteiro, condução narrativa, utilização de planos de tomada de cenas, trilha sonora, iluminação, interpretação de atores, etc. É deste conjunto que resulta uma obra que pode nos cativar ou entediar, mas no caso de Fellini talvez pudéssemos destacar de todos estes elementos o trabalho do ator (deixemos claro, de ambos ou de outros tantos sexos). Se é certo que um personagem só se entende pelas situações que lhe cabe representar, com este diretor ele é dotado de tal expressividade que parece ser ele que tipifica o que ocorre, antes de ser por elas tipificado. Ator e situação se imbricam notavelmente, mas são os diferentes tipos de personagens e a diversidade de formas de representá-los – que no caso da literatura constituem os elementos essenciais de uma narrativa -, que permitem a Fellini retratar com grande habilidade a riqueza, a diversidade e a profundidade psicológica da condição humana.
Diz nunca ter tido problemas com os atores; lhe agradam os seus defeitos, suas vaidades, suas neuroses. Tem-lhes gratidão pelo que fazem por ele, maravilhando-se ao ver como os fantasmas com os quais convive em sua imaginação, adquirem vida, falam, se movem, fumam e fazem o que lhes diz, interpretam os diálogos do filme como imaginara. Considera os atores cômicos como benfeitores da humanidade; um ofício maravilhoso.
Um diretor que em meio ao neorrealismo é capaz de se referir às dimensões reais e concretas da vida, ao “puro registro do real”, mas, mais importante, de transcendê-las pelo filtro de sua subjetividade criativa, dando-lhes um tratamento cinematográfico pleno de aberturas e problematizações.
Reconhece que foi privilegiado em termos de liberdade de criação, nunca constrangido a fazer o que não pretendia, em sua relação com os produtores. Mesmo na “América”, quando meio gaiatamente aceitou um convite para prospectar condições para realizar algum filme, quando lhe ofereceram tudo de que precisava, recursos, financiamento, relações, contatos, etc., depois de literalmente passear dois meses pelos Estados Unidos, sob os auspícios de generosas mordomias, disse abruptamente para seus anfitriões, a despeito de lhe agradar a “América”, que não poderia filmar lá, pois mesmo que o país lhe parecesse um imenso e genial set para a sua visão das coisas, “não saberia colocá-lo num filme”. Só na Cinecittà, no Estúdio 5, sentia-se realmente criativo e com ânimo, amparado na “grande rede das minhas raízes, das minhas recordações, dos meus hábitos, a minha casa, em suma, o meu laboratório”.
Para narrar uma experiência, expressar um sentimento diante de uma nova realidade, para dar-lhe credibilidade, dar-lhe uma vida, sem equívocos ou deturpações, acreditava que só se poderia fazê-lo em sua própria língua, “o único modo que você tem à disposição para se comunicar consigo mesmo, antes mesmo do que com os outros. O equívoco nasce do fato de que se pensa que o cinema seja uma câmera…, e de outro lado uma realidade já pronta para ser fotografada”. Diga-se, um oportuno lembrete agora que todos com um celular na mão se acham cineastas. Seu trabalho, esclarece, requer uma referência à língua como uma visão de mundo, dos mitos, das fantasias coletivas. O substrato de suas criações implica as especulações que são construídas pelos diversos sistemas de representação, entre os jornais, a televisão, a publicidade e a síntese das imagens que conhecemos.
Por sorte nossa, não é preciso estar imerso na cultura de seu país para apreciar seus filmes; em relação a sua arte nos colocamos como espectadores aptos a usufruí-la e a compreendê-la, da mesma forma que Goethe, relativamente a outra forma expressiva, quando cunhou o termo, a possibilidade e a necessidade de uma Literatura Mundial, através do amplo intercâmbio de obras por meio de traduções, que são em si mesmas criações de pleno direito (num registro oposto ao adágio Traduttore, traditore), o cinema, a arte da sociedade de massas por excelência, pode reivindicar também para si o status de Cinema Mundial, venham de onde vierem suas produções, seus diretores e atores.
Ao ser perguntado como encarar a realidade, compreender o momento histórico em que se vive, reconhece com modéstia não possuir instrumentos ou maturidade de reflexão, nem distanciamento para compreender quem e como é dirigida a sociedade. Mas não deixa de questionar-se sobre quais foram os labirintos obscuros que a trouxeram até aqui, a estas situações de estagnação, suspeitando que ela siga antes aos trambolhões do que segundo modelos ou projetos conducentes a patamares superiores de civilização. Neste sentido menciona o “monstruoso egoísmo que se apossa da humanidade diante do empobrecimento dos recursos naturais do planeta. A perspectiva é catastrófica (…)”. Antecipando-se a crescentes preocupações de hoje quanto às mudanças climáticas, aponta os limites do progresso, de tal maneira que é como se o futuro já acabou, diante de uma “irreversibilidade entusiasmante para quem, …, desejaria se encontrar sobre uma outra Arca de Noé e viajar em meio ao desastre com uns poucos eleitos e alguns animais.”
Sem desconsiderar as inquietações em que estamos imersos, a angústia e o medo pervasivos de nosso tempo, nos lembra que a expressão artística tem também um aspecto lúdico, um convite à fantasia. Se isto pode parecer uma heresia ou perversão diante de tantas agruras, traumas ou ameaças, ainda assim é preciso erguer os olhos do chão, readquirir um senso do gratuito, não deixar que nos subtraiam o tempo livre, para torná-lo mais um vazio, um impedimento ao estabelecimento de um relacionamento consigo mesmo e com a vida. “O belo seria menos enganador e insidioso se começássemos a considerar belo tudo aquilo que proporciona uma emoção, (…). E esta, a emoção, do modo como seja tocada, irradia energia, “(…) isto é sempre positivo, seja do ponto de vista ético ou estético. O belo também é bom. A inteligência é bondade, a beleza é inteligência: uma e outra comportam uma liberação da prisão da cultura”.
Como mencionei, há no livro muitos outros temas, relatos e fatos além dos que se referem ao cinema e a arte; são situações pitorescas, vivências, andanças, encontros do cineasta, reflexões e lembranças, quando adentrava na sexta década de vida.
Conta, por exemplo, como, para escapar da conscrição militar durante a guerra simulava doenças misteriosas, subornando os médicos italianos; uma vez se fez de maluco, ficou três dias num manicômio, de cuecas, com uma toalha na cabeça, como um marajá. Com a Itália ocupada, os médicos nazistas não foram tão condescendentes, mandando que se apresentasse a seu regimento, no momento mesmo em que o local, um hospital em Bolonha, estava sendo bombardeado pelos americanos, o que lhe permitiu escapulir-se.
Estando com Rossellini, durante as filmagens de Paisà, extraviaram-se quando procuravam uma cabana, à margem lamacenta do rio Pó, que deveria servir de cenário, quando foram surpreendidos por um garoto de uns três anos, saindo dos bambuzais que, depois de ter dito em dialeto vêneto: Eu sou socialista, os guiou rapidamente para o local desejado.
Tornou-se amigo do poeta Evtushenko, quando o conheceu por ocasião da premiação de Oito e Meio, no Festival de Moscou. Anos após encontravam-se certa noite, bonita e um pouco fria, nos arredores de Roma, caminhando ao longo do rio. De repente Sergej ficou de cuecas e declamando uns versos entrou na água. Fellini e alguns amigos o perderam de vista por um bom tempo; quando preocupados já consideravam acionar o socorro, a embaixada soviética, telefonar para Kruschev, já se lamentando, “Era um grande poeta”, eis que, depois de ter nadado uns quilômetros, surge a figura, querendo saber quem era maior, se Tasso ou Ariosto. Que glorioso vitellone, conclui Fellini.
Figuras como Fellini nos mostram como a arte enriquece a vida, seja no plano individual, ou no plano maior, da sociedade. Também nos ajuda a compreender que, a despeito de sua aparente carência de utilidade imediata ou prática, para além dos reducionismos, das armadilhas ideológicas ou instrumentais ou de uma abstração do tipo arte pela arte, em que ela parece ser contida, se apresentar ou evanescer, a arte é uma afirmação do poder criador da humanidade, uma expressão de sua complexidade, de suas contradições, de suas possibilidades, de sua realidade, de sua verdade.
Condições fundamentais e inescapáveis sob as quais continuamos a procurar um sentido, uma plenitude para a existência, no tempo que nos cabe vive-la, aqui e agora, resistindo a fragmentação, a dispersão, ao esfacelamento de valores e objetivos, substituídos por outros, fugazes e parciais que se sucedem uns aos outros sem repouso, sem conseguirmos desvendar caminhos para alcançá-los.
*Remy J. Fontana, sociólogo, é professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
Referência
Fellini. Entrevista sobre o cinema. Realizada por Giovanni Grazzini. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1986.
Nota
[1] Ver especialmente, Federico Fellini, Fazer um filme. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2000.