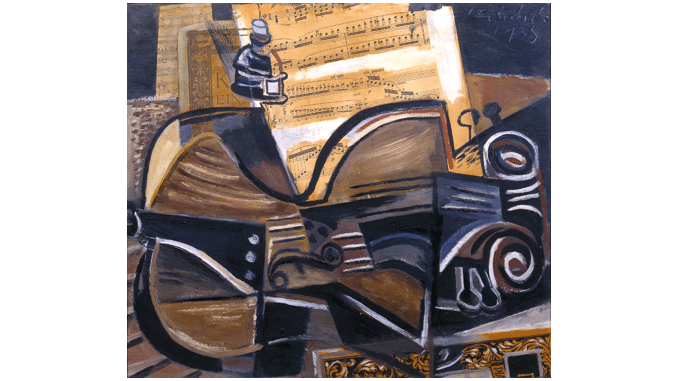Por YONÁ DOS SANTOS*
A experiência das mulheres negras revela racionalidades económicas plurais, desafiando o mito do indivíduo calculista e expondo o caráter patriarcal e racista da ciência econômica tradicional
Em 1995, durante as primeiras aulas no curso de Ciências Econômicas, um professor anunciou à turma: “A partir de agora, esqueçam quem vocês são e como tomam decisões. Vocês são “homo economicus”. Essa sentença, tão comum na formação de economistas, resume uma concepção central à ciência econômica moderna: o ser humano como agente racional, autointeressado e calculista, movido pelo desejo de maximizar seus ganhos e minimizar perdas. Naquele mesmo dia, contudo, um gesto familiar contradizia esse postulado. Ao receber a notícia de que teria um aumento salarial, uma mulher negra — trabalhadora e chefe de equipe — preferiu dividir o acréscimo com suas colegas. O ato de repartir aquilo que lhe caberia, num contexto de desigualdade e precariedade, parecia contrariar o fundamento do egoísmo econômico, desvelando uma racionalidade sustentada na solidariedade, na justiça e no reconhecimento mútuo.
O episódio ilumina uma tensão central da economia moderna: o abismo entre o indivíduo abstrato que habita os modelos teóricos e os sujeitos concretos que constroem a vida econômica em sua complexidade. O homo economicus, figura erigida desde Adam Smith, Malthus e John Stuart Mill, tornou-se a personificação do indivíduo universal — homem, branco, europeu — cujo comportamento serviria de parâmetro para a humanidade inteira (ROBBINS, 1932; GRECCO, 2018). Tal construção, ao excluir corpos racializados e femininos, transformou-se em um instrumento de poder e legitimação da racionalidade capitalista, moldando tanto as políticas públicas quanto os modos de pensar o trabalho e o valor. A economia neoclássica consolidou esse arquétipo ao circunscrever o “econômico” ao mercado, ignorando o trabalho doméstico e de cuidados, atividades majoritariamente realizadas por mulheres, sobretudo negras (GRECCO; FURNO; TEIXEIRA, 2018).
A crítica ao homo economicus exige, portanto, revisitar a própria genealogia da racionalidade moderna. Para Aníbal Quijano (2005), o capitalismo não é apenas um sistema econômico, mas um padrão de poder que naturaliza a hierarquia racial e impõe a Europa como centro epistêmico do mundo. A colonialidade do poder, expressão dessa lógica, funda-se na classificação social pela ideia de raça, transformando a racionalidade europeia em norma universal. Assim, o homo economicus não é uma categoria neutra, mas o reflexo de um sujeito forjado pela modernidade colonial, cuja racionalidade se sustenta na separação entre corpo e mente, natureza e cultura, razão e emoção. Walter Mignolo (2003) amplia essa crítica ao afirmar que a colonialidade do saber institui o monopólio europeu da razão científica, reduzindo o mundo àquilo que pode ser controlado e mensurado. O indivíduo econômico, nesse horizonte, é produto da separação entre mente e corpo: uma consciência desencarnada, desprovida de vínculo com a coletividade.
Santiago Castro-Gómez (2005) nomeia essa racionalidade de “máquina moderna de produção de alteridades”, pois a modernidade define o sujeito civilizado em oposição ao “outro” — mulher, negro, indígena, pobre —, excluído do campo da razão e condenado à marginalidade. A economia moderna, nesse sentido, não apenas descreve comportamentos, mas produz ontologias. Ao instituir a lógica da escassez e da competição, converte o cuidado, a partilha e o trabalho reprodutivo em esferas de não valor. A mulher negra, entretanto, encarna o reverso dessa história. Desde a escravidão até a contemporaneidade, suas práticas econômicas se estruturam sobre redes de solidariedade e reciprocidade, operando em dimensões que escapam à racionalidade instrumental (DAVIS, 2018; COLLINS, 2019).
O feminismo afro-latino-americano desloca radicalmente o eixo da análise econômica ao introduzir a experiência da mulher negra como categoria política e epistêmica. Lélia Gonzalez (2012) define o capitalismo como patriarcal e racista, e propõe o conceito de amefricanidade para nomear a unidade histórica e cultural da diáspora africana no continente. Ao fazê-lo, inscreve na economia uma dimensão civilizatória negada pela modernidade. Ochy Curiel (2020) reforça essa crítica ao afirmar que as categorias de gênero, raça e classe são constitutivas da episteme moderna-colonial e não simples variáveis analíticas. A economia feminista decolonial, nesse horizonte, não busca incluir as mulheres no mercado, mas questionar a própria lógica que define o que é “econômico”.
María Lugones (2014) aprofunda essa ruptura ao conceituar o sistema moderno-colonial de gênero como matriz de poder que articula dominação racial e patriarcal. O homo economicus, expressão máxima do sujeito moderno, é também o correlato masculino dessa estrutura. Seu oposto não é a irracionalidade, mas as racionalidades múltiplas que se formam nas bordas da modernidade — racionalidades da sobrevivência, do cuidado, da reciprocidade e da resistência. Nelas se inscrevem os gestos cotidianos das mulheres negras que, ao sustentarem famílias e comunidades, reafirmam valores éticos que desafiam a economia dominante. Em suas práticas, o “cálculo” é substituído pelo compromisso com a vida, e o “interesse” pelo bem-estar coletivo.
A crítica interseccional e decolonial ao homo economicus não se limita a denunciar a exclusão das mulheres negras dos espaços de poder econômico. Ela propõe um deslocamento epistêmico: compreender a economia como um campo plural, habitado por racionalidades diversas, onde o valor não se mede apenas pela acumulação, mas também pela manutenção da vida. Nesse sentido, as experiências econômicas das mulheres negras latino-americanas desconstroem a universalidade da figura moderna do homem econômico, revelando o caráter histórico, racial e patriarcal dessa construção. Pensar para além do homo economicus é, portanto, um exercício de descolonização da razão, um gesto de restituição da humanidade negada e de reconhecimento de outras formas de saber e de existir.
*Yoná dos Santos é doutoranda no Programa de Integração da América Latina (PROLAM-USP).
Referências
CASTRO-GÓMEZ, Santiago. Ciências sociais, violência epistêmica e o problema da invenção do outro. In: A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Buenos Aires: CLACSO, 2005.
COLLINS, Patricia Hill. Pensamento feminista negro. São Paulo: Boitempo, 2019.
CURIEL, Ochy. Feminismo decolonial e a crítica à colonialidade do poder. In: A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Buenos Aires: CLACSO, 2020.
DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2018.
GONZÁLEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano. In: Obra de Lélia Gonzalez. São Paulo: Zahar, 2012.
GRECCO, Marta; FURNO, Marcio; TEIXEIRA, Ana. Economia feminista e teoria econômica. São Paulo: Outras Expressões, 2018.
LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 22, n. 3, p. 935-952, 2014.
MIGNOLO, Walter. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Buenos Aires: CLACSO, 2005.
ROBBINS, Lionel. Essay on the Nature and Significance of Economic Science. London: Macmillan, 1932.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
C O N T R I B U A