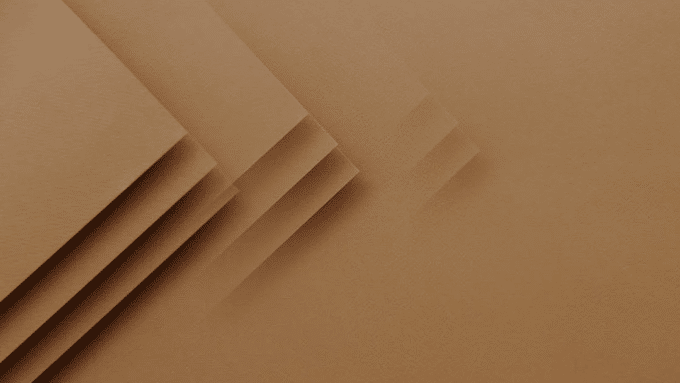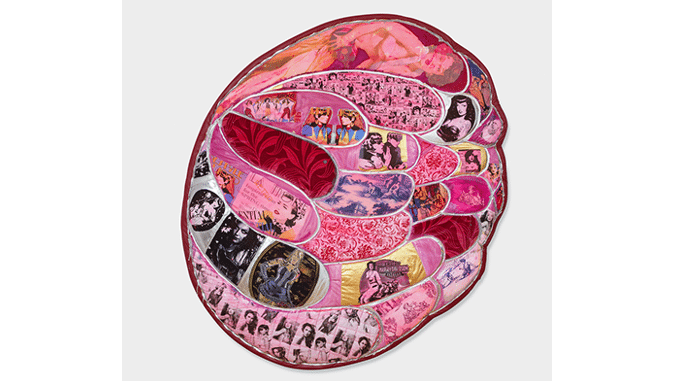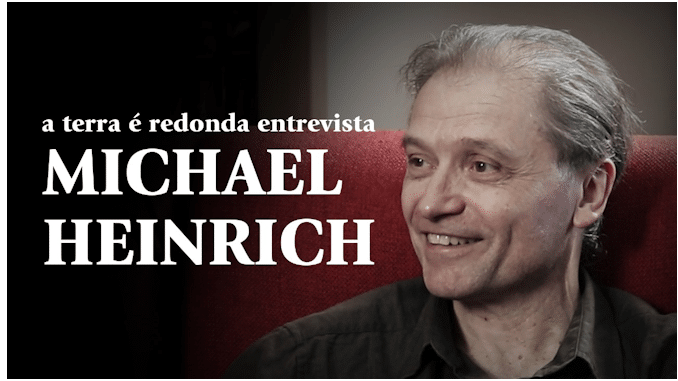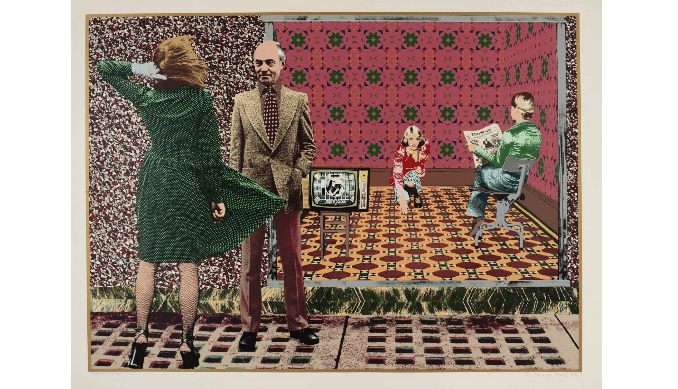Por GILBERTO BERCOVICI*
Estamos vivenciando uma política de substituição do monopólio estatal por monopólios privados.
A soberania econômica nacional, prevista formalmente no artigo 170, I da Constituição de 1988, pretende viabilizar a participação da sociedade brasileira, em condições de igualdade, no mercado internacional, como parte do objetivo maior de garantir o desenvolvimento nacional (artigo 3º, II do texto constitucional), buscando a superação do subdesenvolvimento. O mercado interno, por sua vez, foi integrado ao patrimônio nacional (artigo 219 da Constituição), como um corolário da soberania econômica nacional.
O significado deste dispositivo é justamente a endogeneização do desenvolvimento tecnológico e a internalização dos centros de decisão econômicos, seguindo o programa de superação do subdesenvolvimento proposto por Celso Furtado e pela CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina) e incorporados no texto constitucional de 1988.
A partir dos anos 1980 e 1990, com a crise da dívida externa, o neoliberalismo e a crise de financiamento do Estado, a política econômica autônoma ou soberana teve que ser abandonada para que os países latino-americanos fossem admitidos na nova ordem mundial da globalização neoliberal, com a adesão ao chamado “Consenso de Washington” (privatização, desregulação de mercados, liberalização do fluxo de bens e capitais). A América Latina reverteu, então, sua estratégia de desenvolvimento, regredindo da industrialização por substituição de importações para um processo de crescimento baseado na primarização ou reprimarização, ampliando suas exportações de produtos agrícolas ou minerais.
Se o governo, em qualquer dos seus níveis, resolver desapropriar a propriedade de algum particular para realizar um empreendimento público qualquer, como uma estrada ou uma obra viária, o cidadão que sofre a desapropriação tem uma série de direitos e garantias. Afinal, no Estado de Direito o ordenamento jurídico tutela o proprietário privado no seu enfrentamento contra o Poder Público com garantias e exigências que devem ser cumpridas inexoravelmente em um processo de desapropriação. A própria indenização ao desapropriado é uma dessas garantias, expressa desde as primeiras declarações de direitos das revoluções liberais dos séculos XVII (Inglaterra) e XVIII (Estados Unidos e França).
Não há, no entanto, nenhuma garantia ou proteção jurídica aos cidadãos quando o governo decide transferir ao setor privado determinados bens da coletividade, como uma empresa estatal, a prestação de um serviço público ou a exploração de um bem público. Pelo contrário, a privatização é considerada uma opção absolutamente livre e legítima para os governos adotarem, sem qualquer tipo de contestação.
A expropriação dos bens privados, por sua vez, é considerada quase um tabu. A grande mídia exalta os privatizadores e condena veementemente aqueles que ousam estatizar, nacionalizar ou recuperar bens públicos transferidos inadequadamente aos privados. Para aqueles, o paraíso da boa governança e o aplauso do “mercado”. Para estes, o inferno do populismo (ou bolivarianismo, a depender do caso) e da reprovação unânime dos meios de comunicação de massa.
O que ninguém diz é que ao privatizar uma empresa estatal ou qualquer parcela do patrimônio público, o governo está expropriando a população de bens públicos que são de sua titularidade. Simples assim. Na privatização, o governo age do mesmo modo que na expropriação. Da mesma forma que desapropria uma propriedade privada, na privatização o governo aliena a propriedade pública. O problema é que o proprietário privado pode contestar e tem garantias, o povo não.
Todo processo de privatização é uma expropriação de bens que deveriam integrar permanentemente o patrimônio público de todos os cidadãos, decidida por uma autoridade política que exerce o poder temporariamente. No processo de privatização, o governo não vende o que é dele (governo). Na privatização, o governo vende o que pertence a todos nós. E sem nos consultar sobre isso.
Podemos ilustrar a situação com o exemplo utilizado pelo jurista italiano Ugo Mattei[1]: autorizar que um governo venda livremente os bens de todos para fazer frente às suas necessidades contingentes e conjunturais de política econômica é tão irresponsável quanto consentir, no plano familiar, que o zelador venda os bens de maior valor da casa, como a prataria, o carro ou os eletrodomésticos, para suprir suas necessidades particulares, como viajar nas férias ou pagar uma dívida particular.
O governo é um administrador fiduciário, ou seja, atua apenas sob mandato. Não pode dispor dos bens públicos ao seu bel-prazer. O governo não é proprietário das empresas estatais, ele é apenas seu gestor. O governo deve ser o servidor do povo soberano, não o contrário.
Os bens públicos não são facilmente recuperáveis. Os investimentos de imensas quantias, aplicadas de forma planejada a longo prazo, o sacrifício de milhões de brasileiros não pode ser dissipado sem mais, nem menos, para cobrir um déficit conjuntural nas contas públicas gerado pela má gestão e incompetência eventual dos governantes.
Ao invés de dotar as empresas estatais brasileiras de maior capacidade operacional e reforçar o controle público e a transparência sobre seus recursos, o Governo Fernando Henrique Cardoso optou por desmontá-las, cortar seus investimentos e desestruturar suas finanças, a fim de justificar a privatização da maior parte delas. A privatização das empresas estatais significou a desestruturação dos sistemas energético e de comunicações integrados, que eram fundamentais para a manutenção de um mercado interno de dimensões continentais, como o brasileiro, e uma inserção internacional competitiva, não subordinada. A fragmentação das empresas estatais de infraestrutura substituiu, na maior parte dos casos, o monopólio estatal pelo monopólio ou oligopólio privados, além de romper com o planejamento estratégico e integrado da rede de serviços básicos e com um sistema interligado de tarifas cruzadas[2].
A política brasileira de exploração dos recursos minerais e energéticos, por exemplo, foi desestruturada nos anos 1990, com o processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce, em 1997. Com a decisão de privatizar a empresa, o Governo Fernando Henrique Cardoso ignorou o papel que ela tinha no desenvolvimento regional do país. A Companhia Vale do Rio Doce tinha capacidade autônoma de atrair investimentos e parcerias, além de ser internacionalmente competitiva. A sua política não era exclusivamente voltada à mineração e exportação, mas também articulava espacialmente as várias áreas abrangidas por sua atuação, sendo, na expressão de Maria da Conceição Tavares, um “vetor de dinamização econômica e integração produtiva nacional”. O argumento principal utilizado para justificar a privatização, o da necessidade de obtenção de recursos para diminuir a dívida interna do país, não possui veracidade alguma.
O Estado brasileiro perdeu parte de sua capacidade autônoma de decisão sobre a política econômica, uma empresa essencial para o planejamento do desenvolvimento nacional e seu grande instrumento de atuação no setor mineral, além de divulgar as informações estratégicas sobre os recursos minerais do subsolo para os competidores estrangeiros da Companhia Vale do Rio Doce que se habilitaram para participar do leilão de privatização. Com a privatização, as empresas multinacionais ficaram sozinhas na pesquisa e exploração mineral no Brasil.
Dominada pela lógica mercantil, a mineradora privatizada passou a atuar de forma a maximizar a produção, incorrendo em falhas e omissões que poderiam dar causa a grandes desastres ambientais e humanos. A exploração predatória margeia a legalidade, com a Vale operando no limite da capacidade máxima produtiva – ou além dele. O resultado foram duas das maiores tragédias ambientais da história brasileira: o rompimento das barragens em Mariana e em Brumadinho, ambos em Minas Gerais, em 05 de novembro de 2015 e em 25 de janeiro de 2019, respectivamente.
A privatização trouxe consigo a criação de órgãos reguladores “independentes”, que substituiriam a incapacidade estatal de regular eficientemente os vários setores econômicos. A garantia da concorrência e da defesa dos direitos dos consumidores (não da população em geral, bem entendido) seriam os grandes objetivos perseguidos, tanto na regulação das atividades econômicas propriamente ditas, como na regulação dos serviços públicos. Propõe-se como solução a substituição do Estado democrático, à mercê das indesejáveis “influências políticas”, por uma estrutura tecnocrática e oligárquica, sem legitimidade popular ou qualquer outra forma mais incisiva de controle político e democrático de seus atos. Estes órgãos se legitimariam pela sua “neutralidade técnica”, o que consagraria sua independência em relação ao Estado, mas não ao mercado. O Estado parece, assim, ter renunciado à sua soberania em matéria econômica.
A adoção das políticas ortodoxas de ajuste fiscal e a implementação das medidas de redução do papel do Estado na economia e de atração de investimentos estrangeiros fez com que se tornasse necessário garantir determinadas medidas de política econômica mesmo contra as maiorias políticas, gerando um processo de reformas constitucionais em vários países, cujo objetivo foi “constitucionalizar a globalização econômica”. Com a garantia dos investimentos constitucionalizada e a retórica sobre “segurança jurídica”, “regras claras”, “respeito aos contratos”, “Estado de direito” (ou “rule of law”) sendo utilizada contra qualquer atuação estatal que contrarie os interesses econômicos dominantes, instituiu-se um fenômeno que denominei “blindagem da constituição financeira”, ou seja, a preponderância das regras vinculadas ao ajuste fiscal e à manutenção da política monetária ortodoxa que privilegia os interesses econômicos privados sobre a ordem constitucional econômica e as políticas distributivas e desenvolvimentistas.[3] O maior exemplo disso é a Emenda Constitucional nº 95, de 2016, que instituiu o “Novo Regime Fiscal” (o “teto de gastos”) e, na prática, suspendeu a Constituição de 1988 por vinte anos.
Na sua ânsia de agradar os mercados, os governos brasileiros instaurados a partir do golpe de 2016 buscaram, além de uma política excessivamente rigorosa de garantia do pagamento do serviço da dívida pública em detrimento de todo e qualquer gasto público, implantar uma política de desnacionalização do que restou em poder do Estado extremamente rápida e agressiva. Desde a retirada da Petrobrás como operadora única do pré-sal (Lei nº 13.365, de 29 de novembro de 2016), os ativos da empresa estatal vêm sendo vendidos sem licitação, como determina a legislação brasileira (Plano Nacional de Desestatização – Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997 e o artigo 29 da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016).
A Petrobrás não precisa vender ativos para reduzir seu nível de endividamento. Ao contrário, na medida em que vende ativos ela reduz sua capacidade de pagamento da dívida no médio prazo e desestrutura sua cadeia produtiva, em prejuízo à geração futura de caixa, além de assumir riscos empresariais desnecessários. O plano de negócios atual da Petrobrás tem viés de curtíssimo prazo e ignora a essência de uma empresa integrada de energia que usa a verticalização em cadeia para equilibrar suas receitas, compensando a inevitável variação do preço do petróleo, de seus derivados e da energia elétrica, característica essencial para minimizar os riscos empresariais. Na medida em que a Petrobrás seja fatiada, o agente privado tende a buscar o lucro máximo por negócio, majorando os custos ao consumidor, o que restringe o crescimento do mercado interno.
Não bastasse a ausência de licitação, a venda de ativos da Petrobrás vem ocorrendo a preços bem abaixo dos preços de mercado. Este tipo de “venda” pode ser equiparada ao crime de receptação. Um bem público foi subtraído do patrimônio público de forma ilegal, sem licitação, e vendido a preço vil, por um preço menor que o valor de mercado. A empresa compradora obviamente sabe que está adquirindo um ativo valiosíssimo por um valor abaixo do preço de mercado e sem concorrência pública. Ou seja, não há nenhum terceiro de boa-fé envolvido neste tipo de negócio. Neste tipo de situação, a obrigação do Estado brasileiro e dos órgãos de defesa do patrimônio público é anular a transação, recuperar o bem sem indenização e buscar a responsabilização de quem promoveu o negócio.
Estamos vivenciando, ainda, uma política de substituição do monopólio estatal por monopólios privados, o que é absolutamente vedado pela Constituição, em seus artigos 170 e 173, §4º. É exemplar o que ocorre na infraestrutura de gasodutos. Atividade tipicamente monopolista, as redes de gasoduto do Sudeste e do Nordeste, incorporam um enorme investimento histórico da Petrobrás, estão integradas à empresa pela própria natureza do serviço que prestam. Da mesma forma, as refinarias, monopólio constitucional e legal da União, após uma intervenção totalmente inconstitucional do órgão de defesa da concorrência, serão transferidas para a constituição de monopólios privados.
Ainda em relação ao desvirtuamento da política de concorrência para o favorecimento de monopólios privados, outra forma de desmonte da Petrobrás, empregada a partir do Governo Jair Bolsonaro, foi a utilização do órgão brasileiro de defesa da concorrência, o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) para inviabilizar a atuação da empresa estatal em vários setores da cadeia produtiva, particularmente o refino, monopólio constitucional da União conforme determina o artigo 177 da Constituição de 1988.
Não apenas o CADE não tem competência para impor restrições ou sanções às atividades monopolizadas constitucionalmente e legalmente pela União, como a tentativa de impor a venda de ativos à Petrobras como parte do Termo de Compromisso de Cessação de Prática firmado em 11 de junho de 2019, é uma clara violação da legalidade por parte do CADE e da Petrobrás. A cláusula segunda do referido Termo estipula que a Petrobrás se compromete a alienar integralmente até o final de 2021 ao menos oito refinarias, metade do seu parque de refino instalado.[4]
No entanto, essa venda de ativos jamais poderia ter sido imposta pelo CADE por meio de Termo de Compromisso de Cessação de Prática, muito menos aceita pela Petrobrás. Trata-se de uma violação expressa à Lei do Programa Nacional de Desestatização (Lei nº 9.491/1997). O artigo 3º da referida lei determina que as atividades de competência exclusiva da União segundo o artigo 177 da Constituição, como o refino de petróleo, estão excluídas da alienação ou transferência de ativos previstas no Programa Nacional de Desestatização. Ou seja, a privatização ou alienação de ativos das empresas que exerçam as atividades de competência exclusiva da União previstas no artigo 177 da Constituição, no caso, o refino, estão vedadas expressamente por lei. Se a Lei nº 9.491/1997 proíbe, um Termo de Compromisso de Cessação de Prática firmado entre uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça e uma sociedade de economia mista vinculada ao Ministério das Minas e Energia não pode autorizar. Um ato administrativo não pode prevalecer sobre uma lei.
No presente caso, estamos diante de uma explícita violação ao disposto na Constituição e em várias leis vigentes no país. A atuação do CADE e da Petrobrás viola a legalidade, firmando documentos nulos de pleno direito que podem trazer sérios impactos econômicos não apenas para os acionistas da Petrobrás, mas para toda a sociedade brasileira. Em suma, não há previsão legal de instauração de procedimento investigativo com finalidade sancionatória contra a Petrobrás por ter exercido sua competência constitucional e legal de desenvolver as atividades do monopólio da União no setor de refino de petróleo (artigo 177 da Constituição).
Não bastasse isso, a Lei nº 9.491/1997 proíbe expressamente a alienação ou transferência para a iniciativa privada às empresas estatais que exerçam atividades de competência exclusiva da União de que trata, entre outros, o artigo 177 da Constituição. Qualquer ato tendente a impor medidas restritivas ao exercício do monopólio constitucional do refino, inclusive a venda de ativos, é abusivo e, portanto, nulo, pois fora dos limites de competência dos órgãos de defesa da concorrência.
Outro setor que é alvo das tentativas de privatização e desmonte é o setor elétrico brasileiro, gerido em boa parte pela empresa estatal Eletrobrás, sociedade de economia mista cuja criação foi autorizada pela Lei nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, e suas subsidiárias. Encaminhada ao Congresso Nacional pelo Governo Michel Temer e mantida pelo Governo Jair Bolsonaro, a proposta de privatização da Eletrobrás é absolutamente incompatível com o modelo de serviço público universal pretendido pela Constituição de 1988.
O texto constitucional exige uma maior geração de energia elétrica com menos custos para a sociedade, observados a sustentabilidade, o princípio da modicidade tarifária e o menor impacto socioambiental. A Administração Pública deve promover o aumento de oferta e do acesso à energia elétrica. A ampliação do acesso à energia elétrica é essencial para a garantia de uma vida digna e o combate à exclusão. Deste modo, toda política do setor de energia elétrica tem como preocupação a universalização do acesso à energia, concepção esta diametralmente oposta ao desmonte do setor elétrico promovido pelos governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro.
A política dos governos brasileiros instaurados a partir de 2016 é a de inviabilização total do país como entidade capaz de exercer sua soberania, é uma política de desarticulação do Estado nacional. A abertura generalizada ao capital e controle estrangeiros dos recursos minerais e do setor de petróleo, com o consequente desmonte e desestruturação da Petrobrás, vem acompanhada da possibilidade de perda de controle nacional sobre as águas (nova lei do saneamento básico, a Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, que facilita a privatização dos serviços de água e esgoto) e sobre as terras (o chamado “land grabbing”, ou seja, o controle estrangeiro sobre a terra, apoiado com entusiasmo paradoxal pela bancada ruralista).[5]
Em termos de destruição da política industrial, a adesão ao GPA (“Agreement on Government Procurement” – Acordo de Compras Governamentais), patrocinado pela Organização Mundial do Comércio (OMC), anunciada pelo Ministro da Fazenda de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, em janeiro de 2020, é mais um passo rumo à completa destruição de toda a capacidade de atuação do Estado brasileiro. Um dos elementos centrais da política industrial de qualquer país é o poder de compra governamental. O Estado é o maior comprador em qualquer economia. As compras públicas têm a capacidade de induzir e estimular uma série de setores, da indústria têxtil à indústria de defesa ou de alta tecnologia.
No Brasil, a legislação sempre buscou dar os parâmetros para que o Estado, em todos os níveis federativos, pudesse utilizar o seu poder de compra no sentido de estimular e induzir setores estratégicos da economia nacional. A adesão do Brasil ao GPA inviabiliza a utilização do poder de compra do Estado como uma política de desenvolvimento e estímulo de setores industriais no país. Ao submeter-se ao acordo, o Brasil perde a faculdade de dispor deste instrumento e fica proibido de fazer qualquer distinção entre empresas e grupos econômicos brasileiros e empresas e grupos econômicos dos países signatários, permitindo a livre atuação de empresas estrangeiras, inclusive sem sede no Brasil, em praticamente todos os setores da economia, sem nenhum limite.
A possibilidade de dar tratamento preferencial às empresas brasileiras para que se desenvolvessem áreas, técnicas ou setores fica impedida com a adesão ao GPA. O tratamento diferenciado às pequenas e médias empresas também sofre uma série de limitações e impedimentos. Ou seja, o que o ordenamento brasileiro permitia, o acordo proíbe, impondo mais uma severa restrição à atuação do Estado no Brasil.
A política de liberalização financeira vem sendo implementada com sucesso. Jair Bolsonaro conseguiu aprovar em fevereiro de 2021 a chamada autonomia do Banco Central, uma medida proposta, até então sem sucesso, desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Pela nova legislação, o presidente e a diretoria do Banco Central passam a ter mandatos fixos e não coincidentes com o mandato do Presidente da República, que perde o poder de nomear e demitir os ocupantes dessas funções quando bem entender. Foi criada, assim, uma entidade “Frankenstein” na estrutura administrativa brasileira: uma autarquia não subordinada ao Presidente ou a nenhum Ministro, um órgão que paira no ar, sem vínculos, sem controles.
A pergunta que deve ser feita à adoção dessa medida é: Banco Central independente de quem? Ao que parece, independente do sistema político e de todo e qualquer controle democrático. A chamada independência do Banco Central nada mais é que mais uma medida que visa garantir os privilégios do sistema financeiro em relação à democracia. Tanto faz quem as urnas elejam, a política monetária será sempre a que privilegia os interesses privados em detrimento de qualquer política de desenvolvimento e de distribuição de renda.
Outro exemplo da política de destruição do Governo Bolsonaro é a Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, intitulada de “Lei da Liberdade Econômica”, festejada pela grande mídia e seus associados como uma bem-vinda mudança liberal na legislação econômica brasileira. No entanto, essa lei não é liberal ou neoliberal, ela vai além: ela é anarcocapitalista. Ela trouxe desordem, a imposição da lei do mais forte, a dominação econômica brutal. Ela consiste em uma ruptura com a tradição jurídica brasileira, pois não pretende regular ou organizar o sistema econômico, mas criar uma nova (des)ordem capitalista extremada. Essa lei agrava o desmonte da sociedade brasileira, seguindo os passos da malfadada reforma trabalhista de Michel Temer, que desorganizou o ambiente de trabalho no Brasil e gerou milhões de desempregados ou subempregados.
A “Lei da Liberdade Econômica” é um manifesto ideológico que se pretende superior à própria Constituição. Ela defende uma “única interpretação possível” da atuação econômica do Estado, como se o seu texto houvesse instituído uma economia de mercado “pura”. Há, aqui, a pretensão de tentar obrigar a adoção pelo Poder Judiciário dessa única interpretação, consistindo em uma forma de imposição de determinada visão ideológica sobre todas as demais. O Brasil, assim, oferece mais uma jabuticaba ao mundo: a Constituição deve ser interpretada conforme determina a lei.
O problema central é o fato de que a soberania do Estado brasileiro, como soberania de um Estado periférico, é uma “soberania bloqueada”, ou seja, enfrenta severas restrições externas e internas que a impedem de se manifestar em toda sua plenitude. Deste modo, a constante pressão das forças políticas populares é fundamental para que o Estado possa atuar no sentido de levar a soberania popular às suas últimas consequências e superar a barreira do subdesenvolvimento.
Para reconstruir o país depois da devastação causada pelos governos neoliberais de Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer e Jair Bolsonaro é necessária a reestatização e a renacionalização dos setores estratégicos para a superação do subdesenvolvimento, como petróleo, energia, água e recursos minerais. Estamos diante, talvez, da última chance de termos condições efetivas e concretas para superar o subdesenvolvimento. A nacionalização é a reafirmação da soberania econômica, o que, em uma democracia verdadeira, é sinônimo de soberania popular.
Soberania econômica e soberania popular não significam apenas que o poder emana do povo, mas também que este povo tem direito à terra, tem direito aos frutos do seu trabalho e tem direito ao excedente produzido pela exploração dos recursos naturais, que são públicos, portanto, de sua titularidade, bem como o direito de decidir por si mesmo sobre o seu presente e sobre o seu futuro.
*Gilberto Bercovici é professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da USP. Autor, entre outros livros, de Direito econômico aplicado: estudos e pareceres (Contracorrente).
Notas
[1] Ugo MATTEI, Beni Comuni: Un Manifesto, 3ª ed., Roma/Bari, Laterza, 2011, pp. V-VII.
[2] Maria da Conceição TAVARES, Destruição Não Criadora: Memórias de um Mandato Popular contra a Recessão, o Desemprego e a Globalização Subordinada, Rio de Janeiro, Record, 1999, pp. 125-126, 128-134 e 136-138 e Aloysio BIONDI, O Brasil Privatizado: Um Balanço do Desmonte do Estado, São Paulo, Editora da Fundação Perseu Abramo, 1999, pp. 19-29.
[3] Gilberto BERCOVICI & Luís Fernando MASSONETTO, “A Constituição Dirigente Invertida: A Blindagem da Constituição Financeira e a Agonia da Constituição Econômica”, Boletim de Ciências Económicas, vol. XLIX, 2006, pp. 69-77 e David SCHNEIDERMAN, Constitutionalizing Economic Globalization: Investment Rules and Democracy’s Promise, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 2008, pp. 3-17, 25-108, 208-213 e 223-237
[4] São elas a Refinaria Abreu e Lima (RNEST), a Unidade de Industrialização de Xisto (SIX), a Refinaria Landulpho Alves (RLAM), a Refinaria Gabriel Passos (REGAP), a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR), a Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP), a Refinaria Isaac Sabbá (REMAN), Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR) e seus respectivos ativos de transporte.
[5] Hoje tramitam vários projetos de lei liberando a aquisição de terras por estrangeiros. Dentre esses projetos, o mais avançando no Congresso Nacional é o Projeto de Lei nº 2.963, de 2019.