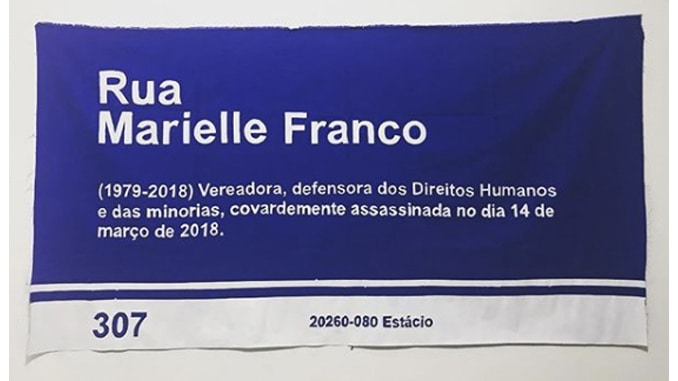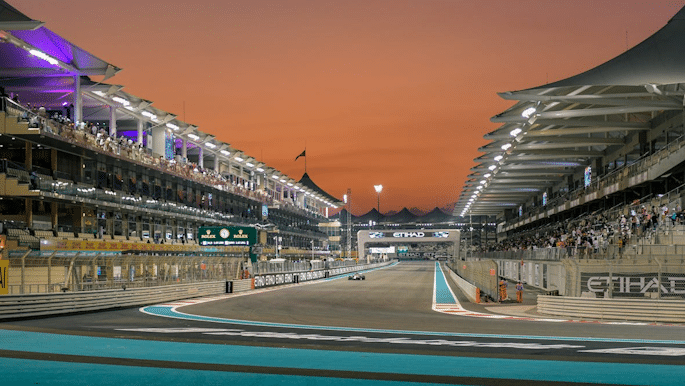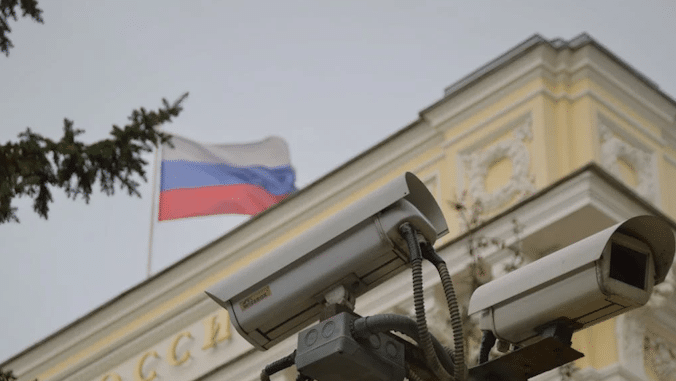Por SLAVOJ ŽIŽEK*
Matrix: Ressurreições é mais uma confusão que um filme
A primeira coisa que se destaca na multidão de resenhas do filme Matrix: Ressureições é quão facilmente o enredo do filme (especialmente seu final) é interpretado como uma metáfora para nossa situação socioeconômica. Esquerdistas radicais pessimistas o consideram um insight acerca de como, para dizer de forma direta, não há mais esperança para a humanidade: não podemos viver fora da Matrix (a rede do capital corporativo que nos controla), a liberdade é impossível. Depois, há os socialdemocratas realistas e pragmáticos, que veem no filme alguma espécie de aliança progressista entre humanos e máquinas: sessenta anos depois das destrutivas Guerras das Máquinas, “os sobreviventes humanos aliaram-se a algumas das máquinas para lutar contra uma anomalia que ameaçava toda a Matrix. A escassez dentre as máquinas levou a uma guerra civil na qual uma facção de máquinas e programas falhou e uniu-se à sociedade humana.” E os humanos também mudaram: Io (uma cidade humana real, fora da Matrix, liderada pelo General Niobe) é um lugar muito melhor para se viver do que Zion, a cidade real anterior (existem sinais claros de fanatismo revolucionário em Zion nos filmes anteriores da série Matrix).
A escassez dentre as máquinas não diz respeito apenas aos efeitos devastadores da guerra, mas, sobretudo, à produção insuficiente de energia humana para a Matrix. Lembremos a premissa da série Matrix: o que experimentamos como a realidade em que vivemos é, na verdade, uma realidade virtual artificial produzida pela ‘Matrix’, um megacomputador diretamente conectado a todas as nossas mentes. Seu papel é garantir que sejamos efetivamente reduzidos a baterias vivas em um estado passivo, fornecendo energia à Matrix. No entanto, o impacto especial do filme não está tanto nesta premissa, que é sua tese principal, quanto na imagem de milhões de seres humanos vivendo uma vida claustrofóbica em casulos repletos de água, mantidos vivos para gerar energia para a Matrix.
Então, quando (algumas das) pessoas “acordam” de sua imersão na realidade virtual controlada pela Matrix, seu despertar não é uma abertura para o espaço amplo de uma realidade externa, mas, em um primeiro momento, a terrível percepção deste invólucro, onde cada um de nós é, efetivamente, apenas um organismo fetal imerso em um líquido pré-natal… Essa passividade total é a fantasia ‘foracluída’ que sustenta nossa experiência como sujeitos ativos e autodeterminados. Ela é a fantasia perversa derradeira, a noção de que somos instrumentos do gozo do Outro (a Matrix), sugados de nossa substância de vida como baterias.
Aqui reside o verdadeiro enigma libidinal deste dispositivo: por que a Matrix precisa da energia humana? A solução puramente energética é, obviamente, insignificante. A Matrix poderia facilmente encontrar outra fonte de energia mais confiável que não demandasse todo este esquema complexo de realidade virtual coordenada para milhões de unidades humanas. A única resposta consistente é que a Matrix se alimenta de gozo humano. Portanto, estamos de volta à tese lacaniana fundamental de que o grande Outro, longe de ser uma máquina anônima, precisa de um influxo constante de gozo. É assim que devemos inverter o estado de coisas apresentado pelo filme: o que ele apresenta como a cena de nosso despertar para a verdadeira situação é, efetivamente, seu exato oposto, a própria fantasia que sustenta nossa existência.
Mas como a Matrix reage ao fato de que os humanos estão produzindo menos energia? Aqui, uma nova figura chamada ‘Analista’ entra em cena. Ele descobre que se a Matrix manipular os medos e os desejos humanos, eles produzirão mais energia para as máquinas sugarem: “O Analista é o novo Arquiteto, o gestor desta nova versão da Matrix. Mas, enquanto o Arquiteto buscou controlar as mentes humanas através da matemática e de fatos concretos e frios, o Analista prefere adotar uma iniciativa mais pessoal, manipulando os sentimentos para criar ficções que mantém os ‘pílula-azul’ na linha. (Ele observa que os humanos irão ‘acreditar nas merdas mais loucas’, o que realmente não está distante da verdade, se você já passou algum tempo no Facebook). O Analista diz que sua abordagem fez os humanos produzirem mais energia para alimentar as máquinas do que nunca, ao mesmo tempo evitando que lhes surgisse a vontade escapar da simulação.”
Com um pouco de ironia, podemos dizer que o Analista corrige a queda da taxa de lucro da situação usando humanos como baterias: ele percebe que apenas roubar o gozo dos humanos não é produtivo o suficiente; nós (a Matrix) também devemos manipular as suas experiências para que eles gozem ainda mais. As próprias vítimas têm que gozar: quanto mais os humanos têm prazer, maior é o mais-gozar que pode ser extraído deles. Aqui, o paralelo lacaniano entre mais-valor e mais-gozar se confirma.
O problema apenas é que, apesar de o novo regulador da Matrix ser chamado de ‘Analista’ (numa referência óbvia à psicanálise), ele não se comporta como um analista freudiano, mas como um utilitarista primitivo buscando a máxima de evitar a dor e o medo e conseguir prazer. Não há um ‘prazer na dor’, nenhum ‘para além do princípio do prazer’, nenhuma pulsão de morte, em contraste com o primeiro filme, no qual Smith, o agente da Matrix, oferece uma explicação muito mais freudiana: “Você sabia que a primeira Matrix foi projetada para ser um mundo humano perfeito? Onde ninguém sofreria e todo mundo seria feliz? Foi um desastre. Ninguém aceitou o programa. Colheitas inteiras [de humanos servindo como baterias] foram perdidas. Alguns acharam que não possuíamos uma linguagem de programação capaz de descrever seu mundo perfeito. Mas eu acredito que, enquanto espécie, os seres humanos definem sua realidade através do sofrimento e da miséria. O mundo perfeito foi um sonho do qual seu cérebro primitivo continuava tentando despertar. É por isso que a Matrix foi redesenhada assim: o ápice de sua civilização”.
Podemos efetivamente dizer que Smith (não esqueçamos: não se trata de um ser humano como os outros mas uma encarnação virtual da própria Matrix – o grande Outro) é muito mais o substituto da figura do analista no universo do filme do que o Analista. Essa regressão do último filme é confirmada por uma outra característica arcaica, a afirmação da força produtiva da relação sexual: “O Analista explica que, depois da morte de Neo e Trinity, ele os ressuscitou para estudá-los, e descobriu que quando trabalhavam juntos eles sobrecarregavam o sistema, mas se fossem mantidos próximos, sem se tocar, os outros humanos na Matrix gerariam mais energia para as máquinas”.
Em muitos veículos midiáticos, Matrix: Ressureições foi aclamado como menos “binário”, mais aberto ao “arco-íris” das experiências transgênero – mas, como podemos ver, a velha forma hollywoodiana para a produção de um casal aparece novamente: “o próprio Neo não tem outro interesse que não seja reatar seu relacionamento com Trinity”. Essa regressão está baseada no que já era falso no primeiro filme. A cena mais famosa do primeiro Matrix é aquela em que Morfeu oferece a Neo a escolha entre a pílula azul e a pílula vermelha. Mas essa escolha, na verdade, é uma estranha não-escolha: quando vivemos imersos em uma realidade virtual, não tomamos nenhuma pílula, então a única opção é: “tome a pílula vermelha ou não faça nada”. A pílula azul é um placebo, ela não muda nada.
Além disso, não temos apenas, por um lado, a realidade virtual regulada pela Matrix (acessível pela escolha da pílula azul) e, por outro, a ‘realidade real’ (o devastado mundo real, repleto de ruínas, que pode ser acessado pela pílula vermelha); temos a própria Máquina, que constrói e regula a nossa experiência (é a isso, o fluxo de fórmulas digitais e não as ruínas, que Morfeu se refere quando diz a Neo “bem-vindo ao deserto do real”.) Essa Máquina é (no universo do filme) um objeto presente na ‘realidade real’, composto por computadores gigantes construídos por humanos e que nos mantêm prisioneiros e regulam nossas experiências.
A escolha entre a pílula azul e a pílula vermelha, no primeiro filme da série Matrix, é falsa. Mas isso não significa que toda a realidade se reduza a nosso cérebro: interagimos em um mundo real, mas através de fantasias impostas pelo universo simbólico em que vivemos. Este universo simbólico é ‘transcendental’, e a ideia de que exista um agente, um objeto, que o controla é um sonho paranoico – o universo simbólico não é um objeto no mundo, ele oferece o próprio quadro através do qual abordamos os objetos. Hoje, no entanto, estamos cada vez mais próximos de tais máquinas construídas pelos humanos e que prometem oferecer um universo virtual onde podemos entrar (ou que nos controla contra nossa vontade).
A Academia de Ciências Médicas Militares da China está procurando o que tem chamado de ‘inteligentização’ da guerra: “As guerras começaram a se deslocar da busca pela destruição de corpos à paralisação e o controle do oponente”. Podemos ter certeza que o Ocidente está fazendo o mesmo – a única diferença (talvez) seria que, se ele tornasse isso público, lhe daria um toque humanitário (‘não estamos matando humanos, apenas estamos desviando suas mentes por um curto tempo…’).
Um dos nomes para ‘tomar a pílula azul’ é o projeto de Zuckerberg, o ‘Metaverso’: tomamos a pílula azul ao registrar-nos no metaverso, onde as limitações, tensões e frustrações da realidade comum são magicamente deixadas para trás – mas temos que pagar um preço por isso: “Mark Zuckerberg ‘tem controle unilateral sobre 3 bilhões de pessoas’ graças à sua posição intocável no topo da Facebook, disse a delatora Frances Haugen a parlamentares britânicos ao demandar uma regulação externa urgente para controlar a gestão das empresas de tecnologia e reduzir o dano por elas infligido à sociedade”. A grande conquista da modernidade, o espaço público, assim desaparece.
Dias depois das revelações de Haugen, Zuckerberg anunciou que a sua empresa mudará seu nome de “Facebook” para “Meta”, e descreveu sua visão do “metaverso” em um discurso que é um verdadeiro manifesto neofeudal: “Zuckerberg quer que o metaverso, em última análise, englobe o resto de nossa realidade – conectando partes do espaço real aqui com partes do espaço real ali, enquanto subsume totalmente o que consideramos o mundo real. No futuro virtual e aumentado que a Facebook planeja para nós, não é que as simulações de Zuckerberg se alçarão ao nível da realidade, mas que nossos comportamentos e nossas interações se tornarão tão padronizadas e mecânicas que nem sequer fará diferença. Em vez de imitar expressões faciais humanas, nossos avatares podem fazer gestos icônicos de joinha. Em vez de compartilhar o ar e o espaço conjuntamente, podemos colaborar em um documento digital. Aprendemos a reduzir nossa experiência de estar juntos com outro ser humano à ver sua projeção sobre um quarto como uma personagem de Pokémon de realidade aumentada.”
O metaverso agirá como um espaço virtual para além (meta) de nossa realidade dolorosa e fraturada, um espaço virtual em que interagiremos agradavelmente através de nossos avatares, com elementos de realidade aumentada (realidade sobreposta por signos digitais). Ele não será nada mais do que a metafísica atualizada: um espaço metafísico que subsume completamente a realidade, que poderá entrar nele em fragmentos, desde que seja sobreposta por diretrizes digitais que manipulam nossa percepção e intervenção. E o truque é que receberemos um comum que é uma propriedade privada, com um Senhor feudal privado supervisionando e regulando nossa interação.
Isso nos leva de volta ao começo do filme, quando Neo visita um terapeuta (Analista) para se recuperar de uma tentativa de suicídio. A fonte de seu sofrimento é a falta de uma maneira de testar a realidade de seus pensamentos confusos; por isso, ele tem medo de enlouquecer. No decorrer do filme, descobrimos que “o terapeuta é a fonte menos confiável que Neo poderia buscar. O terapeuta não é apenas parte de uma fantasia que pode ser a realidade e vice-versa… ele é mais uma camada da fantasia-enquanto-realidade e da realidade-enquanto-fantasia, uma confusão de veleidades, desejos e sonhos que existem em dois estados ao mesmo tempo”. A suspeição de Neo, que o levara ao suicídio, não estaria assim confirmada?
O final do filme traz esperança simplesmente invertendo esta ideia infeliz: sim, nosso mundo é composto apenas por camadas de ‘fantasia-enquanto-realidade, e de realidade-enquanto-fantasia, uma confusão de veleidades e desejos’. Não existe um ponto arquimediano que escapa das camadas enganosas de falsas realidades. Entretanto, esse fato abre um novo espaço de liberdade – a liberdade de intervir e reescrever as ficções que nos dominam. O fato de que nosso mundo é composto apenas por camadas de ‘fantasia-enquanto-realidade e de realidade-enquanto-fantasia, uma confusão de veleidades e desejos’, significa que a Matrix também é uma desordem: a leitura paranoica está errada, não há um agente oculto (Arquiteto ou Analista) que controla tudo secretamente.
A lição é que “devemos aprender a aceitar completamente o poder das histórias que inventamos para nós mesmos, sejam elas videogames ou narrativas complexas sobre nosso passado… – podemos reescrever tudo. Podemos criar medo e desejo como quisermos; podemos alterar e modelar as pessoas que amamos, e com quem sonhamos.” O filme então termina com uma versão meio entediante da noção pós-moderna de que não há uma ‘realidade real’ última, apenas uma inter-relação da multitude de ficções digitais: “Neo e Trinity abandonaram a busca por fundamentos epistêmicos. Eles não matam o terapeuta que os manteve escravos da Matrix. Em vez disso, eles o agradecem. Afinal, através do seu trabalho eles descobriram o grande poder da re-descrição, a liberdade que surge quando abandonamos nossa busca pela verdade, independente do que este conceito nebuloso possa significar, e nos empenhamos para sempre em novas formas de nos compreendermos. E, então, de mãos dadas, eles decolam, voando por um mundo que é deles para interpretar.”
A premissa do filme, de que as máquinas precisam de humanas, está, portanto, correta – elas precisam de nós não por nossa inteligência e planejamento consciente, mas em um nível mais elementar da economia libidinal. A ideia de que máquinas podem se reproduzir sem humanos é semelhante ao sonho da economia de mercado reproduzindo a si mesma sem humanos. Alguns analistas recentemente propuseram a ideia de que, com o crescimento explosivo da produção robotizada e da inteligência artificial, que terá cada vez mais um papel de gestão na organização da produção, o capitalismo gradualmente se transformará em um monstro autoreprodutor, uma rede de máquinas digitais e de produção que necessitará cada vez menos de humanos. Propriedades e ações continuarão existindo, mas a competição nas bolsas de valores será feita automaticamente, para otimizar o lucro e a produtividade. Então, as coisas serão produzidas para quem o para quê? Os humanos não continuarão existindo enquanto consumidores?
Idealmente, podemos imaginar máquinas simplesmente alimentado a si mesmas, produzindo peças mecanizadas e energia. Por mais perversamente atraente que seja, esse prospecto é uma fantasia ideológica: o capital não é um fato objetivo, como uma montanha ou uma máquina, que continuará existindo mesmo se todas as pessoas ao seu redor desaparecessem. Ele existe apenas enquanto um Outro virtual de uma sociedade, uma forma reificada de relação social, da mesma maneira que os valores das ações financeiras são o resultado da interação de milhares de indivíduos, mas aparecem para cada um deles como algo dado objetivamente.
Todos os leitores devem certamente ter notado que, em minha descrição do filme, eu me apoiei bastante em diversas resenhas que cito extensivamente. A razão agora é clara: apesar de seu brilhantismo ocasional, no fim das contas o filme não é digno de ser assistido – é por isso que eu também escrevi essa resenha sem vê-lo. O editorial publicado na Pravda em 28 de janeiro de 1936 rejeitou brutalmente a ópera Lady Macbeth do Distrito de Mtsenk, considerando-a uma “confusão em vez de música”. Ainda que Matrix: Ressurreições seja feito de forma inteligente e esteja cheio de efeitos admiráveis, ele acaba sendo uma confusão em vez de um filme. Ressureições é o quarto filme da série Matrix; vamos torcer para que o próximo filme de Lana seja o que a Quinta Sinfonia foi para Shostakovich, a resposta criativa de uma artista americana às críticas justas.
*Slavoj Žižek é professor do Instituto de Sociologia e Filosofia da Universidade de Ljubljana (Eslovênia). Autor, entre outros livros, de Lacrimae Rerum: Ensaios sobre cinema moderno (Boitempo).
Tadução: Daniel Pavan.
Publicado originalmente em The Spectator