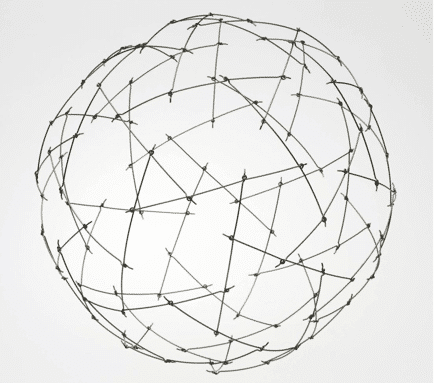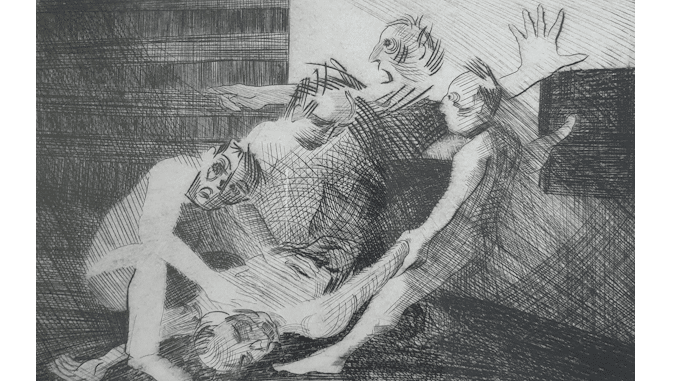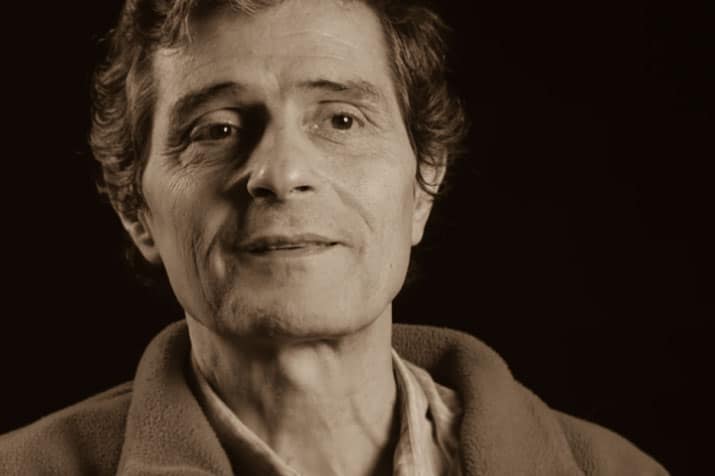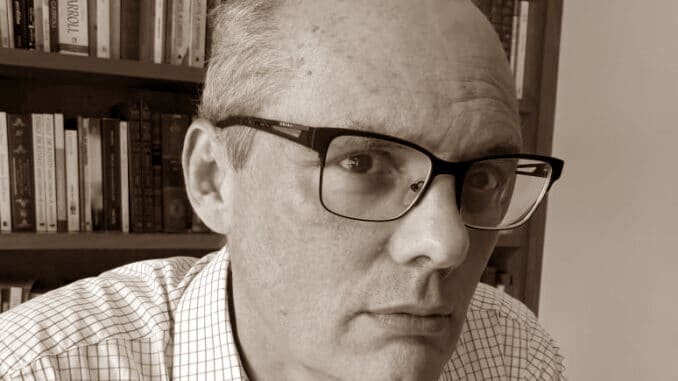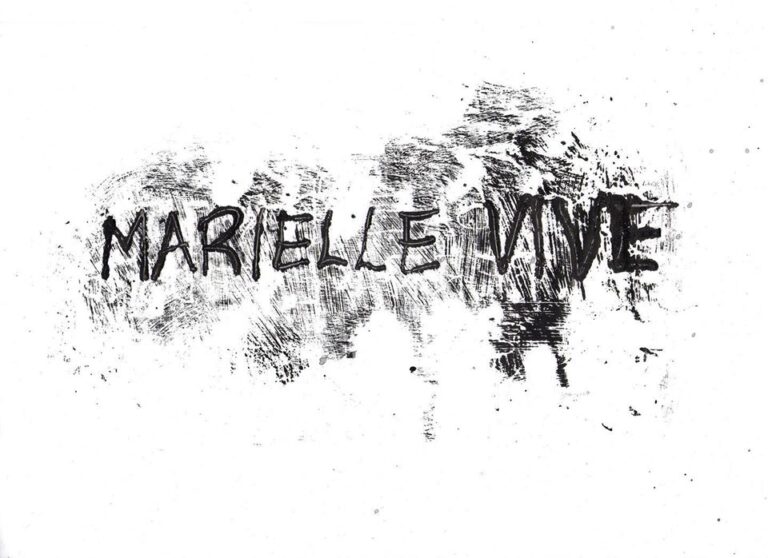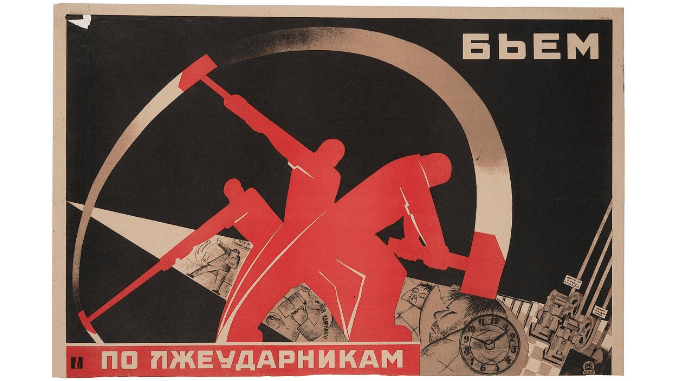Por AFRÂNIO CATANI*
Comentário sobre o livro de Pierre Bourdieu
1.
Parte de Esboço de auto-análise foi redigido entre outubro e dezembro de 2001 no hospital, embora Pierre Bourdieu trabalhasse no texto havia anos. Foi concebido a partir de seu último curso no Collège de France, como versão desenvolvida e reelaborada do capítulo final de Science de la science et réflexivité (2001). É um testemunho tocante, com linguagem enxuta, comovida e ferina. Publicado antes na Alemanha (2002), saiu na França em 2004.
Da mesma forma que elaborara em 1982, quando de seu ingresso no Collège de France, uma Aula sobre a aula, onde a extrema reflexividade dava o tom, nesse curso submeteu ele mesmo, como derradeiro desafio, “ao exercício da reflexividade que havia constituído ao longo de sua vida de pesquisador num dos requisitos necessários à pesquisa científica”. Na apresentação à edição brasileira, Sergio Miceli escreve que Pierre Bourdieu recorrera à palavra “esboço”, em Esboço de uma teoria da prática (1972), considerada “a obra matriz da etapa afirmativa de seu projeto intelectual”, em que fazia um acerto de contas com o estruturalismo, testava hipóteses com relação à congruência de fontes e materiais, “dando arremate à viagem iniciática ao enlaçar as vivências do Béarn às do trabalho de campo na Argélia, e um baita desafio às teorias e modelos de parentesco então hegemônicos na antropologia” (p. 19).
2.
A obra introduziu longa digressão sobre os modos de conhecimento, em especial “aquele suscitado pela práxis, que está na raiz do conceito de habitus”, que plasmaria “uma sociologia nucleada na razão prática, marca que o distinguiria tanto das correntes interacionistas como das vertentes estruturalistas” (Miceli, 2005, p. 19).
Pierre Bourdieu escreve que no esforço que faz para explicar-se e compreender-se, irá apoiar-se “nos cacos de objetivação de mim mesmo que fui deixando pelo caminho, ao longo de minha pesquisa, e tentarei aqui aprofundar e ainda sistematizar” (p. 39).
Para justificar as tomadas de posição que marcaram sua carreira, realiza uma análise do campo intelectual francês nos anos 1950, quando concluiu seus estudos de filosofia na École Normale Supérieure e, também, de sua própria formação, caracterizada pelo êxito escolar e por origem social modesta: seu pai era carteiro num povoado do sudoeste da França. Seus primeiros trabalhos exploram o desenraizamento das origens – a família numa comunidade rural da região do Béarn – e a necessária familiarização com os espaços sociais de adoção, em Paris. Afirmou, em entrevistas, que tal familiarização forçada levou-o, inclusive, à perda de seu forte sotaque – só aos 11 anos, no liceu de Pau, deixou de falar apenas o gascão.
De 1951 a 1954 foi aluno da École Normale Supérieure cursando filosofia, época em que era a disciplina dominante, sendo o campo intelectual dominado por Jean-Paul Sartre. Entende que “o choque de 1968” foi decisivo para que os filósofos ingressantes nos anos 1940 e 1950 se confrontassem com o problema do poder e da política – cita os casos paradigmáticos de Deleuze e Foucault (p. 42).
Além da corrente intelectualmente dominante, representada por Jean-Paul Sartre, havia outras, em que se destacavam Martial Gueroult, Jules Vuillemin, Gaston Bachelard, Georges Canguilhem, Alexandre Koyré, Éric Weil, Maurice Merleau-Ponty. A revista Critique, dirigida por Georges Bataille e Éric Weil, ao dar acesso a uma cultura internacional e transdisciplinar, “permitiu escapar ao efeito clausura exercido por qualquer escola de elite” (p. 47).
Ataca as posturas de Jean-Paul Sartre, fala de seu mentor Raymond Aron, da simpatia por Georges Canguilhem e pelos colegas filósofos de sua geração, Jean-Claude Pariente, Henry Joly e Louis Marin. Reconstitui o espaço de possíveis que se abria diante dele nesse período de transição entre a filosofia e a sociologia. Nesta disciplina pontificavam Georges Gurvitch, Jean Stoetzel e Raymond Aron, além dos que se encontravam em ascensão: Alain Touraine, Jean-Daniel Reynaud e Jean-René Tréanton (sociologia do trabalho); Viviane Isambert-Jamati (sociologia da educação); François-André Isambert (sociologia da religião); Henri Mendras, Paul Henry Chombart de Lauwe e Joffre Dumazedier se dedicavam, respectivamente,às sociologias rural, urbana e do lazer (p. 62-63).
Havia poucas revistas (Revue Française de Sociologie, Les Cahiers Internationaux de Sociologie, Archives Européennes de Sociologie, Sociologie du Travail e Études Rurales), mas nada era tão motivador, a ponto de escrever que “a vida científica estava em outro lugar” (p. 62), enaltecendo a ação de Fernand Braudel e a grande influência exercida pela revista L’Homme, tendo à frente Lévi-Strauss, ocupando posição dominante no campo acadêmico francês (p. 68).
Dedica várias páginas ao período passado na Argélia, a partir de meados da década de 1950, ao iniciar seu serviço militar, onde faz suas primeiras pesquisas de campo sobre a sociedade cabila e publica Sociologie de l’Algérie (1958). Retorna a Paris e torna-se assistente de Aron, após lecionar filosofia e sociologia na Faculdade de Letras de Argel. Inicia carreira exitosa, fazendo sua conversão às ciências sociais, como etnólogo e sociólogo, no momento de uma guerra de libertação que, para ele, marcou a ruptura decisiva com a experiência escolar (p. 71).
Apesar das discordâncias que manteve com Lévi-Strauss, reconhece que ele, com Braudel e Aron, lhe garantiram a entrada, bem jovem, na Escola Prática de Altos Estudos (p. 74). Publica outros trabalhos sobre a Cabília e o Béarn, região onde nasceu, em Études Rurales, nos Annales e em Les Temps Modernes.
3.
Apresenta as pesquisas desenvolvidas nos anos 1970, 80 e 90, que consolidaram sua reputação, além de elementos autobiográficos e informações familiares responsáveis pela formação de seu habitus primário. Seu pai era filho de meeiro e, por volta dos 30 anos (quando nasceu Pierre), tornou-se funcionário dos correios, depois promovido a carteiro-cobrador; foi, a vida toda, empregado numa vila próxima a Pau. “A experiência infantil de trânsfuga filho de trânsfuga, pesou bastante na formação de minhas disposições em relação ao mundo social” (p. 109). Muito próximo de seus colegas de escola primária (filhos de pequenos agricultores, artesãos ou comerciantes), tinha com eles “quase tudo em comum, exceto o êxito escolar, que me fazia sobressair” (p. 110).
As passagens em relação ao pai, suas tomadas de posição políticas e sociais, são tocantes. Sua mãe provinha de uma “grande família” camponesa, pelo lado materno, enfrentando a vontade dos pais “para fazer um casamento percebido como uma aliança desastrosa” (p. 111). Filho único, a experiência do internato nos liceus de Pau (1941-1947) e no liceu Louis-le-Grand (1948-1951), em Paris, são vistas como uma “terrível escola de realismo social, onde tudo já se fez presente, por conta das necessidades da luta pela vida” (p. 115).
Fala do frio passado no inverno, os constrangimentos para se usarem os banheiros, as admoestações, a luta para obter seu quinhão e conservar seu lugar, a prontidão para dar um safanão se necessário. Sua narrativa autobiográfica retoma o argumento desenvolvido em As regras da arte (1992): “a ficção e a sociologia são intercambiáveis, pelo fato de possuírem o mundo social como referente” (Miceli, 2005, p. 18).
Recebeu mais de 300 “suspensões” e “reprimendas” ao longo de sua escolaridade. Vivia angustiado: “eu tinha 11 ou 12 anos, ninguém em que pudesse confiar ou que pudesse apenas compreender” (p. 119). “Eu vivia minha vida de interno numa espécie de furor obcecado […] Flaubert não estava de todo errado ao pensar que, como escreve nas Memórias de um louco, ‘aquele que conheceu o internato conhece, aos doze anos, quase tudo na vida” (p. 120).
Fala das dificuldades que enfrentou com os colegas na classe preparatória no Louis-le-Grand e que começou a praticar o rúgbi, com os colegas do internato, para evitar que seu êxito escolar o afastasse da chamada comunidade viril da equipe esportiva, “único lugar (…) de verdadeira solidariedade, muito mais sólida e direta do que aquela vigente no universo escolar, na luta comum pela vitória, no apoio mútuo em caso de briga, ou na admiração recíproca pelas façanhas” (p. 123). A sala de aula “divide ao hierarquizar”; o internato “isola ao atomizar”.
4.
Há páginas saborosas sobre seu ingresso no Collège de France e seu entendimento segundo o qual “a ficção e a sociologia são intercambiáveis, pelo fato de possuírem o mundo social como referente” (Miceli, 2005, p. 18). Retomando o que escreveu antes, através da evocação das condições históricas em que seu trabalho foi elaborado, conseguiu “assumir o ponto de vista do autor”, como dizia Gustave Flaubert. Isso implica em “colocar-se em pensamento” exatamente “no lugar que, escritor, pintor e operário ou empregado de escritório, cada um deles ocupa no mundo social” (p. 134).
Sergio Miceli aponta o silêncio de Pierre Bourdieu “acerca de seu casamento, dos filhos, das mulheres importantes em sua vida”, falando que o pudor de classe lhe impediu isso: “ele não dispunha da prontidão de habitus requerida para tamanha autocomplacência, que lhe teria habilitado a aprontar uma versão enevoada de sua experiência afetiva, similar àquela veiculada, por exemplo, nas narrativas memorialísticas de Sartre ou de Leiris, tão ao agrado de letrados estetas” (Miceli, 2005, p. 18).
A favor do trabalho sociológico do autor, concluo com a frase de Ricardo Piglia que ilustra com felicidade o processo de autoanálise desenvolvido por Bourdieu: “A crítica é a forma moderna de autobiografia. A pessoa escreve sua vida quando crê escrever suas leituras (…) O crítico é aquele que encontra sua vida no interior dos textos que lê” (2004, p. 117).
*Afrânio Catani é professor titular sênior da Faculdade de Educação da USP Autor, entre outros livros, de Origem e destino: pensando a sociologia reflexiva de Bourdieu (Mercado de Letras).
Referência
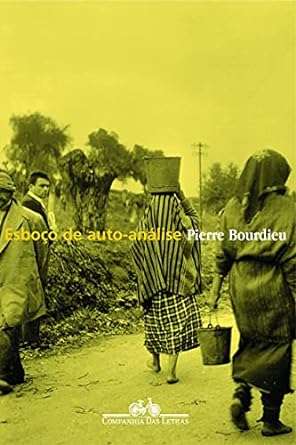
Pierre Bourdieu. Esboço de auto-análise. Tradução: Sergio Miceli. São Paulo, Companhia das Letras, 2005, 144 págs. [https://amzn.to/3EG2Qar]
Bibliografia
Ricardo Piglia. Formas Breves (tradução: José Marcos Mariani de Macedo). São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
Sergio Miceli. A emoção racionada. In: Bourdieu, P. Esboço de auto-análise. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 7-20.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA