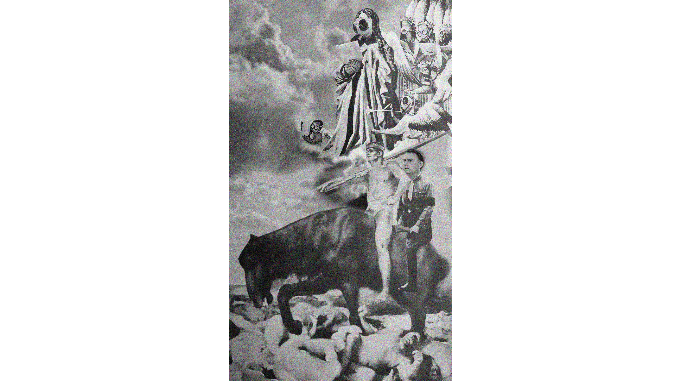Por PAULO CAPEL NARVAI*
Estariam os “tenentes” dos nossos tempos, com seu “silêncio obsequioso”, satisfeitos com a marcha da insegurança nacional capitaneada por Bolsonaro?
Há mais ou menos um século, nos anos em que a “gripe espanhola” matava aos milhões pelo mundo e levava a óbito cerca de 350 mil brasileiros, os tenentes e capitães eram vistos como “inimigos” pelo alto oficialato das Forças Armadas, notadamente o do Exército. Organizando politicamente oficiais de baixa e média patente no movimento conhecido como “tenentismo”, aqueles oficiais rejeitavam radicalmente o apoio dos militares de alta patente à oligarquia que controlava os rumos da então jovem República brasileira.
Com suas revoltas militares (Forte de Copacabana, Paulista, Comuna de Manaus e Coluna Prestes), o tenentismo pretendia colocar-se em defesa das instituições republicanas para implantar o voto secreto, a obrigatoriedade do “ensino primário” público, industrializar e modernizar o país como requisitos para superar as péssimas condições que marcavam a vida das populações pobres, nas cidades florescentes, mas sobretudo nos rincões. O processo culminou na Revolução de 1930.
Constitui um fato a presença de oficiais das Forças Armadas, de diferentes patentes, nas movimentações políticas em torno das ideias de República e de Democracia no Brasil. É inegável também que, ao longo da história, tanto ideias progressistas quanto conservadoras tiveram abrigo em corações e mentes dos fardados. A participação dos “pracinhas” da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na luta contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, na Itália, é inequívoco exemplo de progressismo; a resistência às reformas de base de João Goulart, o golpe de 1964 e o Ato Institucional nº 5, mostram adesão a causas conservadoras, para não dizer abertamente reacionárias como a tolerância com torturadores.
Segurança nacional
A ideia de segurança nacional é uma das formulações estratégicas como referência teórica nas escolas de formação de oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica.
Desde que no século XVII se delinearam, de modo geral, as características básicas do Estado-nação, este assumiu o papel de promover e garantir a segurança nacional, missão atribuída às forças armadas, motivo pelo qual o conceito de segurança esteve restrito e reduzido a temas militares. Após a Revolução Russa de 1917, com a emergência do Estado de Bem-Estar Social (welfare state) na Europa Ocidental, a noção de segurança nacional foi ampliada para incluir, em vários países, temáticas relacionadas com o papel estratégico da educação, saúde e habitação e o conjunto de ações de proteção social, embora sempre subordinando-as à lógica militar. O fim da União Soviética (URSS) e a hegemonia neoliberal que marcou as últimas décadas do século XX impuseram, porém, retrocessos ao welfare state e restringiram o conceito de segurança nacional.
Não obstante o processo de globalização e a notável intensificação e internacionalização de atividades econômicas, com a emergência do capitalismo financeirizado superando as formas mercantilista e industrial, as questões de segurança nacional seguem na ordem do dia dos países e mobilizam a atenção de oficiais e, sobretudo, dos comandos das suas forças armadas.
A pandemia de covid-19 e seus efeitos sobre a economia, e toda a vida social, trouxe consigo em 2020, em todos os países, a necessidade de ressignificar o conceito de segurança nacional, que não deve ser visto como um assunto científico ou técnico, nem ideologicamente neutro. Ao contrário, há atualmente questões cruciais envolvendo, em cada país, a ideia de segurança nacional. Não é diferente no Brasil.
Com o advento da “guerra fria”, após o final da Segunda Guerra Mundial, consolidou-se a partir dos centros de inteligência militar dos Estados Unidos da América (EUA) a ideologia do “inimigo interno”, no contexto da “paz armada” marcado pelo equilíbrio militar entre as duas superpotências de então, os EUA e a URSS. Naquele contexto, à falta de um “inimigo externo” a ameaçar, o “inimigo interno” ocupou o centro das preocupações estratégicas do alto oficialato brasileiro, em boa parte com treinamentos e formação complementar em escolas militares dos EUA e, consequentemente, dos planos de cursos de formação de oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica. Tudo isso se expressa, ainda hoje, na Doutrina de Segurança Nacional.
Segundo essa doutrina, o “inimigo interno” é o “subversivo”, o “comunista”, agente do “comunismo internacional”.
“Inimigo interno”
A noção de “inimigo interno” segue animando a formação de oficiais e, ideologicamente, o inimigo é esse “agente”, embora não se saiba muito bem o que isto significa à esta altura do século XXI. A “indústria do anticomunismo”, porém, está consolidada, é bem conhecida e segue movimentando muito dinheiro e despertando a cobiça de muitos oportunistas – desses que vendem “proteção contra fantasmas”. Essa “indústria” precisa desse “inimigo”, sem o qual cessam seus negócios lucrativos. Se ele não existe, ou é politicamente inexpressivo, pouco importa: inventa-se o “inimigo”.
Nos anos 1970 o “inimigo” era real. Mas também sua força era, em boa parte, convenientemente superestimada. Em certas situações, inventavam-se supostas ameaças, como as que representariam setores de esquerda reconhecidamente avessos à luta armada e críticos de ações caracterizadas como “subversivas”.
Em 1973, dois anos antes do assassinato do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do DOI-CODI em São Paulo, o general Breno Borges Fortes, comandante do Estado Maior do Exército Brasileiro, participou em Caracas da 10ª Conferência dos Exércitos Americanos. Fortes não distinguia alhos de bugalhos e sua posição, fortemente influenciada pelo general Robert Porter Jr., chefe do Comando Sul do Exército dos EUA (1965-69), não comportava nuances, como se pode depreender do que disse em Caracas:
“O inimigo [ou seja, o agente do “comunismo internacional”] usa mimetismo, se adapta a qualquer ambiente e usa todos os meios, lícitos e ilícitos, para lograr seus objetivos. Ele se disfarça de sacerdote ou professor, de aluno ou de camponês, de vigilante defensor da democracia ou de intelectual avançado, (…); vai ao campo e às escolas, às fábricas e às igrejas, à cátedra e à magistratura (…); enfim, desempenhará qualquer papel que considerar conveniente para enganar, mentir e conquistar a boa-fé dos povos ocidentais. Daí porque a preocupação dos Exércitos em termos de segurança do continente deve consistir na manutenção da segurança interna frente ao inimigo principal; este inimigo, para o Brasil, continua sendo a subversão provocada e alimentada pelo movimento comunista internacional.”
A “guerra fria” acabou, a ditadura civil-militar foi derrotada, o Muro de Berlim caiu, o mundo mudou. Mas a doutrina de segurança nacional segue intacta nas escolas de formação militar. Tendo passado da hora de mudar e pouco tendo sido alterado, importa indagar a quem isso interessa. A ideia de segurança nacional segue impermeável a temas que efetivamente a ameaçam como, dentre outros, o racismo, a precariedade da educação e da segurança pública, a crônica insuficiência habitacional, as agressões ambientais e a desorganização da ocupação do solo urbano, a concentração da renda e das propriedades rurais, as profundas desigualdades sociais.
O que impede o reconhecimento, enfrentamento e superação desses problemas estruturais e que se constitui, portanto, como um inimigo, interno ou externo, a ser combatido? Uma resposta possível é justamente a ideologia e as forças políticas organizadas em torno da negação desses problemas. A ideologia que, ao não reconhecer a pertinência dessa agenda, impõe à nação um conjunto de temas identificado como “terraplanismo”. Esta ideologia tem nome: “bolsonarismo”.
Quase meio século depois, convido o leitor a “virar a chave” do discurso do general Breno Fortes e admitir um inimigo interno oposto aquele por ele delineado em Caracas. Um inimigo cujas feições se assemelham àquela ameaça ao Brasil representada pela ideologia contra a qual foram lutar na Itália os “pracinhas” da FEB, ou seja, um inimigo nazifascista. As pautas que conformam a ideologia bolsonarista (privatista, individualista, racista, misógina, homofóbica, antiambiental, anti-indígena, antiestatal, falso moralista) correspondem a um conjunto de crenças e valores que, não sendo ainda fascista, conforme vários analistas, guarda estreita relação com essa ideologia. O bolsonarismo é, no presente, a principal ameaça à segurança nacional, compreendida para além dos seus contornos apenas militares.
Por essa razão, um texto atual sobre a ideia de inimigo interno, em versão adaptada, mas mantendo o “estilo literário” do general Breno, poderia ficar como a analogia que segue: “O inimigo bolsonarista usa mimetismo, se adapta a qualquer ambiente e usa todos os meios, lícitos e ilícitos, para lograr seus objetivos. O bolsonarista se disfarça de pastor, sacerdote ou professor, de estudante que não quer política no ambiente escolar ou de indígena blogueira, de produtor rural ou de líder do agronegócio fazendo-se passar por agricultor, de vigilante defensor das liberdades ou de intelectual avançado. (…) O bolsonarista vai à lavoura, às escolas, às fábricas e às igrejas, à cátedra e à magistratura. Desdenha de mortes por epidemias, mas faz plantão para obrigar criança estuprada a não abortar. (…) Enfim, o bolsonarista desempenhará qualquer papel que considerar conveniente para enganar, mentir e conquistar a boa-fé das mulheres e homens do Brasil. Daí porque a preocupação de quem tem efetivamente compromisso com a Segurança Nacional deve consistir na manutenção das liberdades democráticas, asseguradas pelos três poderes da República, nos termos da Constituição de 1988, zelando pela segurança interna frente ao inimigo bolsonarista; este inimigo, para o Brasil, continua sendo a indústria do anticomunismo, que defende o latifúndio e o trabalho escravo, subvertendo os direitos trabalhistas, destruindo a previdência social, a educação e a saúde públicas, e impedindo que a Seguridade Social instituída em 1988 se consolide e promova o bem-estar da população. O inimigo bolsonarista, alimentado pelo capitalismo financeiro internacional, que só quer saber de juros e dividendos e não planta um pé de feijão, nem produz um alfinete sequer é, atualmente, o inimigo interno contra o qual é preciso defender o Brasil”.
Insegurança sanitária e segurança nacional
Condições de saúde, com destaque para epidemias, são do interesse da segurança nacional. No episódio da epidemia de meningite, que em meados dos anos 1970 pegou de surpresa o governo brasileiro, a primeira reação foi censurar a imprensa. Mas logo a sensatez se impôs e os melhores especialistas que o país dispunha à época foram convocados a ajudar o governo a lidar com o problema, pouco importando filiações partidárias e preferências políticas. Tratava-se do interesse da segurança nacional.
Dispor de informações e meios para enfrentar epidemias constitui, portanto, uma condição elementar para promover e garantir a segurança nacional. É chocante constatar o despreparo de egressos de escolas de formação de oficiais sobre tais conteúdos curriculares.
Mesmo quando se trata de uma doença com baixa letalidade relativa (entre 0,5% e 1%), como a covid-19, é grande o impacto de mais de duas centenas de milhares de mortos. Mas basta projetar as consequências de epidemias com altas taxas de letalidade, como o ebola, para se estimar o potencial dramático dos seus efeitos. O Zaire ebolavirus, por exemplo, é uma cepa cuja letalidade pode chegar a 90%.
A letalidade da poliomielite varia entre 2% a 10% e cerca de 90% dos infectados pelo vírus não apresentam sintomas. A pólio é uma das enfermidades que, em decorrência da desproteção vacinal causada pela desorganização do Programa Nacional de Imunizações (PNI) está, segundo especialistas, em risco de ressurgimento no Brasil, pois sua cobertura vacinal despencou de 84,52% em 2015 para 65,57% em 2020.
Em 2019, após terem sido notificados mais 18 mil casos e 15 mortes por sarampo, o Brasil perdeu a certificação de país livre da doença, conferido em 2016 pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). A taxa de letalidade do sarampo varia de 4% a 10% e há vacina, cuja eficácia é de aproximadamente 99%, disponível gratuitamente na rede do SUS. Em 2020, mais 5 óbitos foram registrados pelo Ministério da Saúde. A cobertura da vacina contra o sarampo (a tríplice viral, que protege também contra caxumba e rubéola, e deve ser aplicada em duas doses) foi de 96,07% para a primeira dose em 2015 e 70,64% em 2020. Apenas 55,77% da população-alvo da tríplice viral tomou a segunda dose em 2020. Nos próximos anos, o sarampo seguirá fazendo milhares de vítimas e matando no Brasil, pois estamos muito distantes da meta de 95% de cobertura vacinal.
Para não me alongar, atenho-me a esses exemplos para argumentar que não é preciso refletir muito para compreender a relevância e o valor estratégico das ações de saúde pública para a segurança nacional. Para conquistar e manter um grau razoável de segurança sanitária, é indispensável que o país disponha de um bom sistema de saúde dotado de áreas de vigilância epidemiológica e ambiental bem organizadas, com recursos adequados e pessoal qualificado. Como a que se busca, à duras penas, desenvolver no SUS.
Não é preciso muito esforço, também, para compreender que representam importante risco à segurança nacional, as hostilidades ao SUS, à ciência e aos pesquisadores, e o descontrole sobre a produção no país de bens e serviços de interesse do SUS, como o são equipamentos médico-hospitalares, e a produção de soros, vacinas, medicamentos, equipamentos de proteção individual e insumos empregados na prestação de cuidados de saúde.
Bolsonaro como ameaça à segurança nacional
Tão notável quanto preocupante vem sendo o silêncio do alto oficialato das Forças Armadas sobre o modo como tem se portado o governo federal, com omissões graves e ações atabalhoadas, no enfrentamento da pandemia da covid-19. Nem os mais de 9 milhões de casos e 220 mil mortes têm quebrado esse “silêncio ensurdecedor”, sobretudo – e talvez por isso mesmo – quando um general da ativa está à frente do Ministério da Saúde, e em princípio no comando das operações, que envolvem também autoridades estaduais e municipais. O péssimo desempenho do general-ministro, e de seus auxiliares diretos, muitos deles igualmente militares, vem envolvendo e comprometendo o conjunto das Forças Armadas, arrastadas para uma espécie de “pântano administrativo” em que pontificam a incúria e a incompetência.
Não é possível, porém, saber se durante o desenvolvimento da pandemia de covid-19, tenentes, capitães e sargentos demonstraram alguma inquietação com o que vem ocorrendo aos olhos de todos. Mas não é crível que estejam sendo indiferentes aos fatos.
Se calam os “de cima”, frente à insegurança sanitária a que o país está sendo conduzido, não deveriam fazê-lo os “tenentes” dos nossos tempos. Fariam muito bem esses oficiais, se desenvolvessem um pensar crítico para a formação obtida nas escolas militares. O questionamento, pelos canais internos das respectivas instituições militares e, sobretudo, nos marcos do convívio democrático que lhes é assegurado pela Constituição de 1988, dos rumos dados à República e à Democracia pelo presidente da República e seus apoiadores militares, colocaria os atuais tenentes, capitães e sargentos à altura dos seus colegas do movimento tenentista.
Um século depois da “gripe espanhola”, o novo coronavírus espalha-se pelo mundo e a pandemia da covid-19 inquieta o país, que já cogita de problemas similares mais à frente e que segue convivendo com endemias, que não cedem e fazem mais e mais vítimas, nas cidades e nos rincões.
Um século depois das revoltas “tenentistas” que abalaram quarteis, há silêncio na caserna. Parece aquele “silêncio obsequioso” com que o Vaticano condenou o teólogo Leonardo Boff, em 1983. Com ideias sobre o cristianismo colidentes com as emanadas da Congregação para a Doutrina da Fé, a usina ideológica da Igreja Católica nascida da Inquisição, Boff foi proibido por seu inquisidor, o cardeal Joseph Ratzinger (que seria posteriormente o Papa Bento 16), de publicar e de falar em público. Sentado, mais de três séculos depois, na mesma cadeira em que Galileu Galilei ouviu a sentença que o obrigava a pedir perdão, Boff foi ouvido e condenado, mas não obrigado a pedir perdão.
Mas por que, ao tomar conhecimento do que é noticiado diariamente, estariam nessa espécie de “silêncio obsequioso” os oficiais de baixa e média patente das Forças Armadas?
Bolsonaro arrastou o conjunto das Forças Armadas para seu governo e afirma que são inseparáveis. O silêncio do alto oficialato corresponde à aceitação tácita do que diz o ex-capitão, posto na reserva em 1988. Calam também os oficiais que não integram o alto oficialato, como a indicar que concordam com seus superiores de armas. Parte da nação, perplexa com a crescente “insegurança nacional” e os rumos dados à República, vem pedindo o impedimento de Bolsonaro.
Estariam os “tenentes” dos nossos tempos, com seu “silêncio obsequioso”, satisfeitos com a marcha da insegurança nacional capitaneada por Bolsonaro?
*Paulo Capel Narvai é professor titular sênior de Saúde Pública na USP.