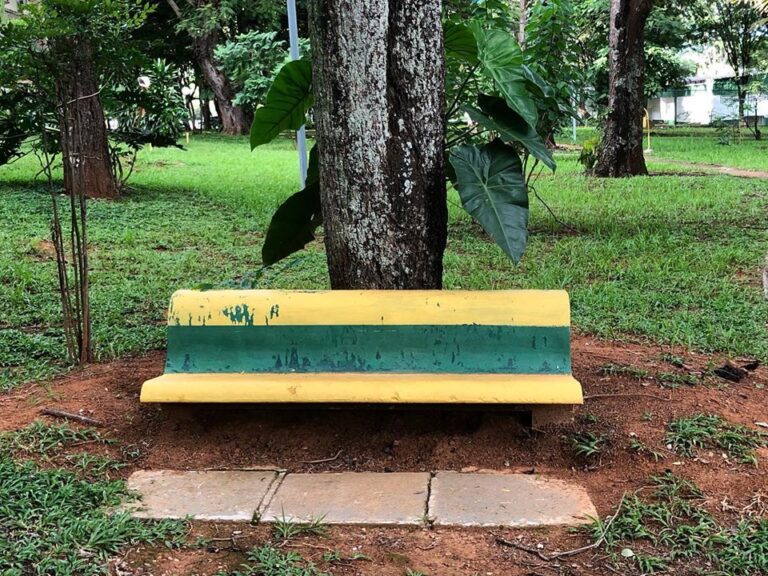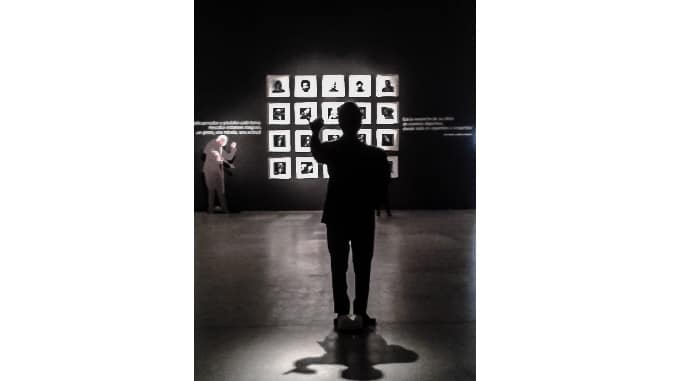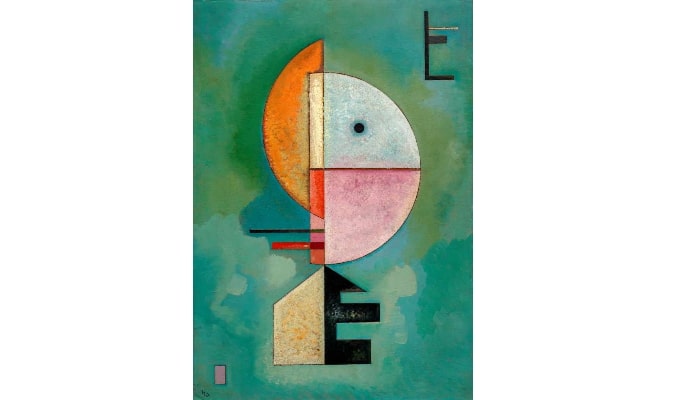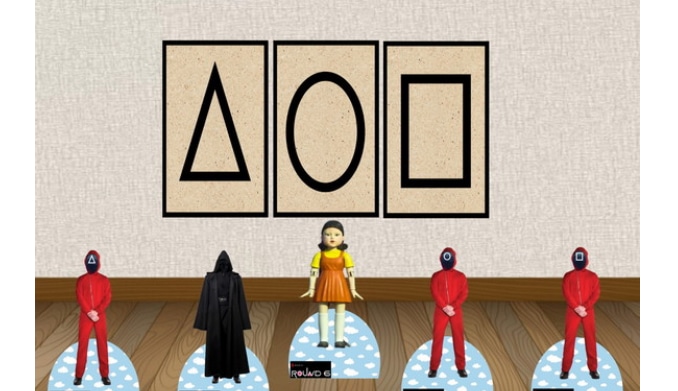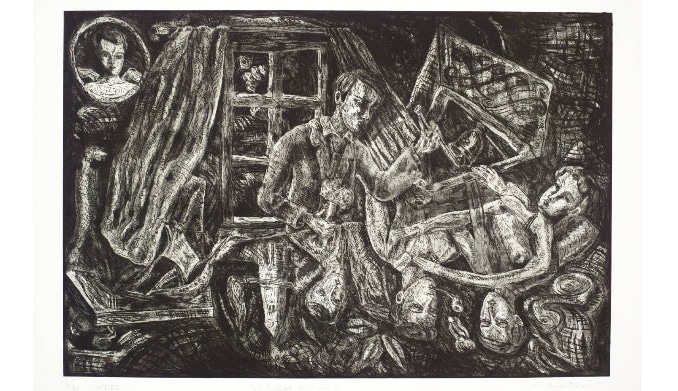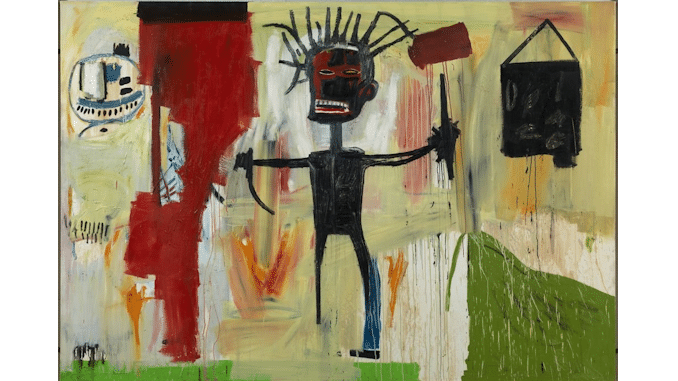Por MARCOS DANTAS*
Comentário sobre o livro de Richard Barbrook
Em 1999, o sociólogo britânico Richard Barbrook brindou-nos com o seu irônico Manifesto cibercomunista. Nesta paródia à obra de Marx, uns tantos ideólogos fetichizados pela informática, fazendo da Wired o seu Pravda, nos são apresentados como vanguarda de uma nova revolução prometeica, capaz de fundir comunismo e livre mercado graças às avançadas forças produtivas da rede mundial de computadores.
Em Futuros Imaginários, Barbrook vai mais fundo em suas provocações. Trata-se de um inspirado, muito bem pesquisado e instigante ensaio que examina a construção teórica e ideológica que fará da visão estadunidense de mundo e de sociedade o próprio projeto de mundo e de sociedade do futuro, legitimando a ascensão dos EUA a potência hegemônica global a partir da Segunda Guerra.
Sim, o projeto de futuro não pertencia apenas ao socialismo marxista. Nos EUA, um grupo de intelectuais militantes, muitos deles com altos cargos em Washington, procurou elaborar uma metateoria alternativa capaz de conquistar corações e mentes sofisticados para a causa de seu país. Barbrook, com seu humor tipicamente britânico, denomina-os de “Esquerda da Guerra Fria”.
Alguns dentre seus mais influentes nomes, como James Burnham, Walter Rostow e Daniel Bell haviam sido, na juventude, marxistas (e trotskistas). Tinham sólidos conhecimentos da obra de Marx. Articulados com eles, desfilam políticos e teóricos que tiveram seus momentos best seller nos anos 1950 a 1980: John von Neumann, Herbert Simon, Ithiel de Sola Pool, John Galbraith, Herman Kann, Arthur Schlesinger, Peter Drucker etc. Barbrooke lhes disseca vida (inclusive suas ótimas relações com o dinheiro da CIA ou do Pentágono), obra e pensamento ao longo de passagens que, não raro, ocupam, para cada um, duas, três ou mais páginas do livro.
Assim tudo ganha uma surpreendente coerência. Os EUA saíram da Segunda Guerra cônscios de sua liderança – econômica, política e militar – da parcela não-comunista do mundo. Porém, não logravam oferecer a esse mundo uma “grande narrativa” (e, aqui, Barbrook provoca os pós-modernos), tão atraente e mobilizadora como o marxismo. Tratava-se de dar “forma às coisas que virão”, lembrando H. G. Wells. Mas uma forma que deveria levar a um futuro contrário àquele proposto pela então também vitoriosa e ainda dinâmica União Soviética.
A Esquerda da Guerra Fria bebeu em três fontes. Na vertente marxista reformista que inspirou a social-democracia e seu Estado do Bem-Estar Social. Em Norbert Wiener, cuja cibernética pensava a relação homem-máquina priorizando o ser humano. E em Marshall McLuhan, dos três, a fonte mais importante, à qual é dedicado um nada lisonjeiro capítulo exclusivo.
Ideólogo superficial, celebridade mediática, de fácil leitura, McLuhan propunha uma concepção da história muito atraente aos meios de comunicação, vistos como “extensões do homem”. Tal não passava de vulgar determinismo tecnológico embalado em “frases de efeito malucas” e “exageros paradoxais”. Ora, no preciso momento em que nascia a informática, esta tese vinha mesmo a calhar: as formas das coisas que virão serão moldadas pelos computadores e pela internet, não pela sociedade e suas lutas… de classe.
Por meio de um marxismo que oculta Marx, de uma cibernética sem Wiener e seu humanismo, e desse mcluhanismo que não cita o desregrado McLuhan, Daniel Bell concebeu a sociedade da informação, etapa superior do desenvolvimento capitalista.
Então, o futuro chegou. No último capítulo, Barbrook demonstra a linha de continuidade entre toda aquela cinqüentenária construção ideológica e o discurso atual do mercado ponto.com. A derrocada da URSS privou os EUA de um poderoso inimigo mobilizador, logo substituído pelo “choque de civilizações” de Samuel Huntington, enquanto a internet, já madura, seria a tecnologia determinista que levaria o mercado e a livre iniciativa para todos os quadrantes do mundo.
A revista Wired surge como arauto desse novo tempo. George Gilder e Kevin Kelly, na esteira de Bell, puseram-se a explicar como poderia funcionar esse mercado ponto.com, “combinando comunismo cibernético com neoliberalismo em rede”. John Barlow lança, em Davos (logo onde!), a jeffersoniana “Declaração da Independência do Ciberespaço”. Muita gente boa acreditou e ainda acredita, vide os debates recentes sobre o projeto de lei do senador Azeredo…
Todo esse processo enfrentou, claro, fortes resistências. A grande narrativa da Esquerda da Guerra Fria, logo aceita pela social-democracia européia, não ganhou muitos adeptos nos países do então chamado Terceiro Mundo, cujos pensadores e líderes políticos insistiam em construir teorias próprias, antiimperialistas, inspiradas no marxismo. Se o lindo canto da sereia não funcionava, então ainda valeria o velho big stick: ditaduras militares na América Latina, ou a guerra do Vietnã, galhardamente defendida por Rostow, serviriam para enquadrar os recalcitrantes.
Hoje, apesar das resistências dos adeptos do software livre e da maciça prática de livre troca de arquivos na rede, é fato, constata Barbrook, que a grande maioria dos navegantes, prefere mesmo ocupar suas conexões com fofocas, notícias de celebridade, as mesmices da TV, as últimas do futebol, bate-papos corriqueiros – e muita pornografia.
A Escola de Frankfurt, esqueceu ele, num raro lapso, talvez ainda tenha algo a nos dizer sobre tudo isso. Nada de política, muito menos revolução. Os grandes negócios comandam a expansão da internet. Um servidor popular com “conteúdo gerado pelo usuário” pode vender muita propaganda. Ajudar amadores a fazer sua própria mídia pode ser tão lucrativo quanto vender produtos de mídia feitos profissionalmente. Ao contrário do credo mcluhanista, o advento da internet não marcou o nascimento de uma nova civilização humanista e igualitária. “Por algum motivo, a utopia foi adiada”.
No fundo, é aquilo que Marx já explicara: o decisivo não é a tecnologia, mas o capital…
“Saber quem inventou a profecia da sociedade da informação é a pré-condição para entender o significado ideológico de seus conceitos intelectuais” – sábia advertência, sobretudo para as nossas escolas de sociologia, comunicação, educação, economia e similares, hoje em dia infestadas por esse acrítico determinismo tecnológico mcluhanista de, guardadas as diferenças, Castells, Deleuze, Toni Negri etc. Nisto, o projeto de Rostow e Bell, via ditadura militar, obteve completo êxito. Caio Prado, Celso Furtado, Florestan Fernandes, Sergio Buarque ou Darci Ribeiro não deixaram herdeiros.
*Marcos Dantas é professor titular da Escola de Comunicação da UFRJ, conselheiro eleito do Comitê Gestor da Internet (CGI.br). Autor, entre outros livros, de A lógica do capital informação (Contraponto).[https://amzn.to/3DOnqFx]
Publicado originalmente no Jornal de Resenhas no. 5, março de 2009.
Referência
Richard Barbrook. Futuros imaginários: das máquinas pensantes à aldeia global. Tradução: Adriana Veloso e outros. São Paulo, Peirópolis, 448 págs.