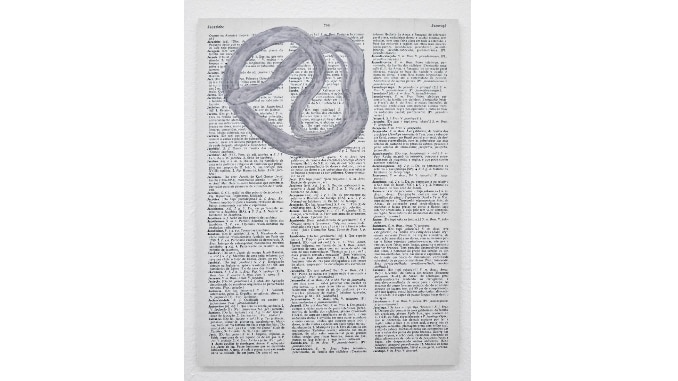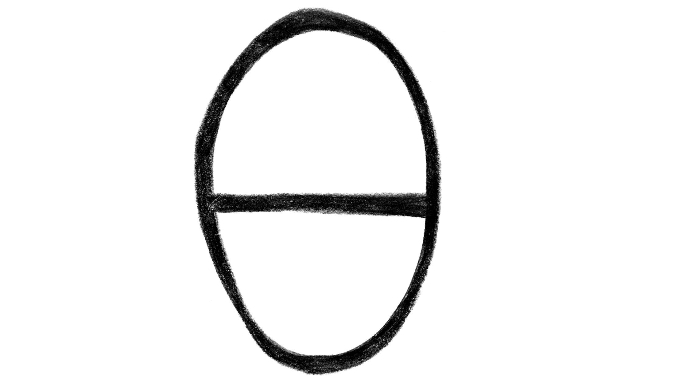Por RAQUEL VARELA*
O direito à resistência, à insubordinação contra déspotas e a luta pela emancipação contra o capitalismo são direitos inalienáveis e patrimônio de todo o género humano
“Se está contra a invasão de Putin e contra a OTAN, qual é a sua solução?”, têm-me perguntado estes dias. O que fazer afinal perante uma invasão injustificável, com parte de um país sob fogo e três milhões de refugiados (que se prevê poderem chegar a cinco milhões)?
A União Europeia e os seus países tentaram convencer a população de que havia três coisas a fazer: remilitarizar a Europa, aplicar sanções econômicas à Rússia e armar a “resistência ucraniana”. Nada disto servirá – é o meu argumento – para derrotar Vladimir Putin e proteger o povo ucraniano. Muito pelo contrário.
A única coisa que poderia derrotar no imediato o Exército russo, que tem armas nucleares, seria uma intervenção da OTAN. O que significaria uma Terceira Guerra Mundial. MIGs, zona de exclusão aérea, que Volodymyr Zelensly tem pedido à OTAN, queixando-se de “abandono”, significaria na prática uma chacina mundial, dos ucranianos e de todos nós em níveis potencialmente apocalípticos. Milhões morreriam.
É talvez aqui que se encontre a explicação para os apelos de Estado à “resistência”. Pese embora os apelos, até de alguns líderes europeus, a “voluntários” (comparando com a guerra civil espanhola), à mobilização não responderam em massa os ucranianos nem os europeus, mas milícias, ex-militares expulsos do exército, ex-criminosos (segundo a imprensa oficialmente armados por Volodymyr Zelensky) e grupos de extrema direita e neonazis de todo o mundo – de 52 países, segundo o jornalista de investigação Ricardo Cabral Fernandes e várias ONG especializadas no tema.
Generais do Exército em Portugal, e diplomatas pró- OTAN (o próprio ex-ministro Azeredo Lopes) chamaram publicamente a atenção para a caixa de pandora que se abre com o armamento destas milícias extremistas. Porque não estão sob a alçada do direito internacional e podem cometer todo o tipo de atrocidades, estão fora da lei. Noutras guerras, no passado mais ou menos recente, isso deu origem a grande parte dos grupos terroristas que atacaram civis indiscriminadamente na Europa, nos EUA e no resto do mundo.
É, pois, com espanto que vejo a naturalidade com que defensores incondicionais dos “valores europeus”, da paz e da democracia, que vão agitando o papão fascista para apelar ao voto útil, a assistir a isto em silêncio, afirmando que não passa de propaganda russa. A Rússia não pretende “desnazificar” a Ucrânia, até porque levou os seus nazis para combater na Ucrânia. Mas isso não autoriza a assistir-se ao armamento de milícias do mesmo calibre.
O fascismo não é uma corrente de opinião, nem um corpo de ideias – é o culto, organizado, da morte, através de milícias. Desde a revolução italiana de 1919-20, os Estados democráticos convivem mais ou menos com estes grupos fascistas consoante lhes são úteis para combater greves e revoluções: o princípio maquiavélico de que o “inimigo do meu inimigo é meu amigo”. A vida é mais complexa. Em diplomacia, a linguagem dos Estados, todos os amigos são falsos e todos os inimigos reais. A comparação destes mercenários com a esquerda militante que se bateu na guerra civil espanhola é patética.
Senão, vejamos. Todas as ideologias podem degenerar e, para Hannah Arendt, o nazismo, o estalinismo e o imperialismo tinham como características comuns o totalitarismo. Mas os democratas, comunistas, anarquistas e trotskistas, muitos deles mortos por Stalin, lutaram em Espanha pela distribuição de terras aos trabalhadores agrícolas da Andaluzia, pelos direitos dos mineiros das Astúrias, pela democracia nas fábricas de Barcelona. Os fascistas espanhóis tinham outro grito: “Viva la muerte!”
Lutavam pela propriedade privada dos latifúndios, das fábricas e das minas. Sendo poucos (os ricos, de facto, são poucos) e tendo o Exército dividido (uma parte com a revolução), sobrava-lhes financiar milícias, recrutadas nas catacumbas da sociedade e a inestimável ajuda da Itália fascista e da Alemanha nazi. Em Espanha houve uma guerra civil com uma revolução. Na Ucrânia há uma guerra de defesa nacional contra um invasor.
O Estado russo avisou desde o início que estes “voluntários” não seriam tratados como prisioneiros de guerra. A Rússia respondeu mobilizando as suas milícias pró-nazis, e extremistas, nomeadamente da Chechénia e da Síria. É uma espécie de “sacanas sem lei”, só que isto não é um filme de Tarantino. A Ucrânia ameaça tornar-se um campo de treino mundial da extrema direita. Um atoleiro como a Síria.
Pelo que sabemos hoje não vão para a Ucrânia trabalhadores em massa. Pelo contrário, há uma lei que os impede, aos homens que lá estão, de fugir do país e da guerra. Todos os homens entre os 18 e os 65 anos estão impedidos de sair.
Pergunto-me, se a fuga fosse possível, quantos ficariam nestas condições a lutar e quantos fugiriam? E o que faremos aos ucranianos que estão contra Vladimir Putin, mas não apoiam o Governo de Zelensky, nem a guerra, que querem paz e que temem os grupos armados que se instalaram no seu país? Chamamos-lhes “covardes” e apelamos à “pátria”? É que esse tem sido o mediático discurso patriótico e viril. A mesma pergunta tem de ser feita para o Exército e a população russas: quem de facto apoia esta guerra na Rússia? É por isso que ver cidadãos europeus a pedir o cancelamento da cultura russa, animados de extremismo russófobo, deve envergonhar-nos.
Para lá da propaganda de ambos os lados, fica outra grande questão: qual é a real capacidade de mobilização dos Estados hoje para uma guerra nacional, de expansão ou defesa?
Poderá vir a haver uma resistência revolucionária e democrática na Ucrânia. Que una ucranianos e russos (oxalá!), com os métodos usados nas greves em fábricas na Primeira e na Segunda Grandes Guerras, ou as deserções em massa como na Primeira Guerra, ou, mais raro, porém possível, confrontos dentro do próprio Exército, a la MFA português. Nada disso, com as informações de que dispomos, existe hoje.
Aí, se houver uma resistência de esquerda, progressista, que procure unidade com sectores de algumas oposições da Rússia, não serão os fascistas e mercenários da Ucrânia e da Rússia os primeiros a disparar contra qualquer oposição de esquerda à guerra? Não foi isso que aconteceu na Síria onde a resistência laica e progressista foi dizimada? A bandeira amarela e azul, como todas as bandeiras da “pátria”, escondem os terríveis conflitos sociais e os interesses antagónicos que existem dentro de cada nação.
O que tem o Estado russo a oferecer aos ucranianos? A mesma “terapia de choque” que ofereceu aos seus cidadãos russos, com reformas neoliberais brutais (quando Vladimir Putin e o Ocidente apertavam as mãos a aplicá-las) e censura e bonapartismo. Neoliberalismo sob ocupação: eis o significado da “libertação do nazismo” que Putin oferece. E na Ucrânia? Não há um “povo em armas”.
Primeiro, antes da guerra, com as reformas do FMI que Volodymyr Zelensky apoiou, houve migração econômica em massa para a Europa Ocidental e para a própria Rússia, oito milhões ficaram sem terra onde possam trabalhar e viver. Agora são bombardeados pela Rússia, com uma “resistência” neonazi a defendê-los e um governo que apela a uma guerra mundial. Este é o triste cenário que temos pela frente.
O que fazer no imediato? No imediato, aqueles que se opõem à guerra são os mais desarmados. Há um enorme déficit de ideologias emancipadoras, de consciência de classe (todos se acham nacionais de algum lado, mas ninguém se acha parte da classe trabalhadora), de internacionalismo organizado, sindicatos e partidos com um programa de esquerda e força social de massas. O capitalismo, alcunhado de neoliberalismo, tem-se dedicado sistematicamente a dividir, atomizar, individualizar as classes trabalhadoras. “There is no such thing as society. Only individuals”, [“A sociedade não existe. Apenas indivíduos.”] dizia Margaret Thatcher. O programa da Thatcher, aplicado obstinadamente pelas classes dominantes ao longo das últimas décadas, mostra-nos agora os seus frutos podres no coração da própria Europa: guerra e barbárie.
A esquerda, acossada ou cooptada pelos Estados tem vindo a recuar, a baixar as suas bandeiras, na esperança talvez de, como dizia com amarga ironia um amigo já falecido, “se continuarmos a recuar, como a Terra é redonda, um dia apanhamos o inimigo pelas costas”. Quem não faz a história é engolido por quem a faz.
Quem organiza a guerra são os Estados-nação e os negócios em torno destes. Quem morre nas guerras em nome dos Estados-nação são as classes trabalhadoras. As sanções são um garrote que não atinge os ricos, mas devasta quem vive do trabalho. Os Estados continuarão a fazer guerras e a anunciada remilitarização da Europa não nos trará paz, nem defesa contra os “russos”. Os líderes europeus, da Ucrânia e da Rússia afirmam-se como organizadores de derrotas históricas, trouxeram-nos até aqui, e querem culpar-se mutuamente por este desastre humano que é a vida em pleno século XXI.
Nós precisamos dos que trabalham e vivem do trabalho sejam russos, ucranianos, todos os povos da Europa e do mundo para haver paz e pôr fim à luta entre Estados, que é e sempre será uma expressão da luta econômica por matérias-primas e força de trabalho. Geopolítica, como se diz cinicamente.
Resistir não é cometer suicídio, nem levar um povo a fazê-lo. Resistir é organizar politicamente para vencer. O que fazer? Hoje, assinar a paz, mesmo no meio de uma derrota. Amanhã organizar a resistência, para vencer. Ou derrubamos os muros nacionais, as bandeiras do Estado-nação e nos reencontramos como gênero humano, ou a vida será um calvário de sofrimento.
O direito à resistência, à insubordinação contra déspotas e a luta pela emancipação contra o capitalismo são direitos inalienáveis e patrimônio de todo o género humano. O direito a ser dono do próprio trabalho e o direito à democracia são os fundamentos da vida em sociedade. O passado das classes trabalhadoras está cheio de derrotas, mas também de lutas vitoriosas, de tradições de organização e combate que ultrapassam fronteiras. Como se organiza a resistência, ao lado de quem e contra quem, é o que urge responder, para passarmos do terror à esperança.
*Raquel Varela, historiadora, é pesquisadora da Universidade Nova de Lisboa. Autora, entre outros livros, de Breve História da Europa (Bertrand).