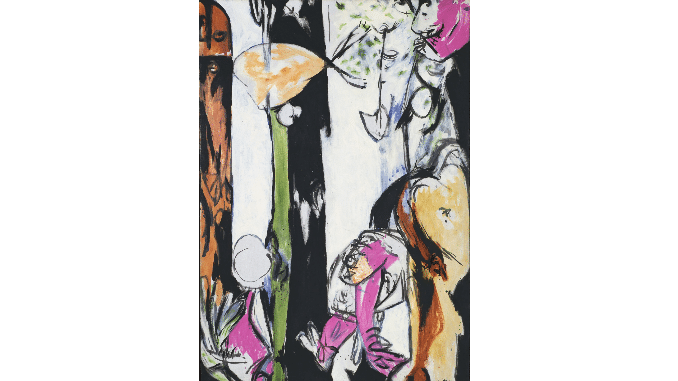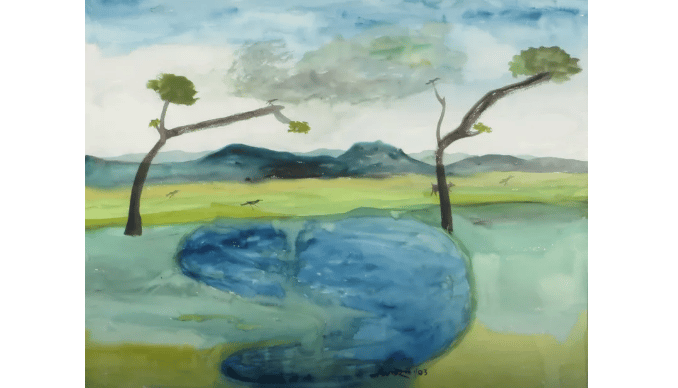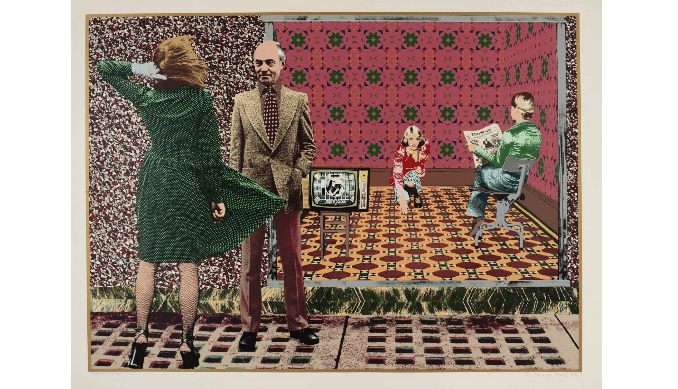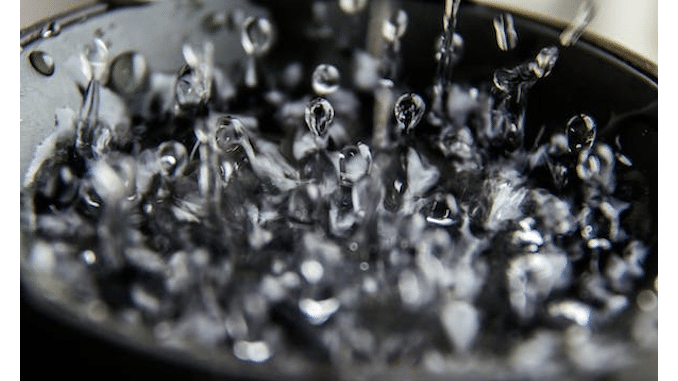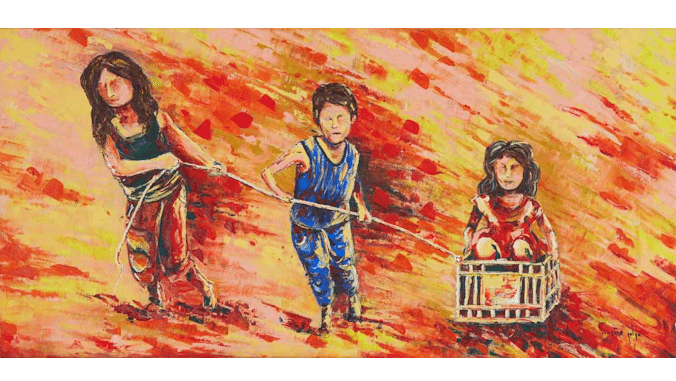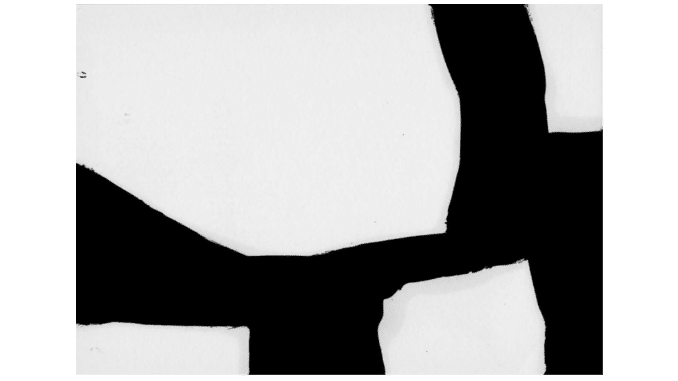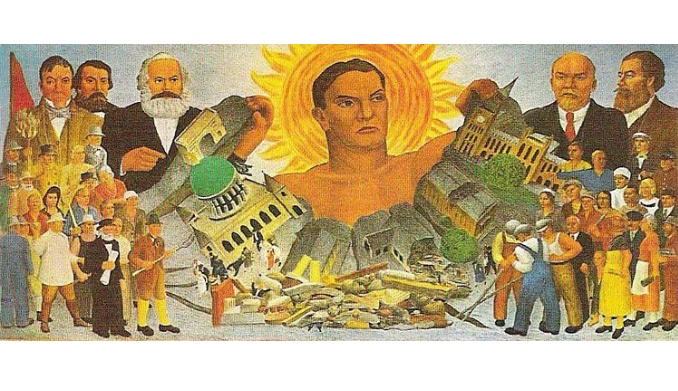Por JOSÉ ANTÔNIO PASTA JÚNIOR*
Comentário sobre o livro de Alfredo Bosi
Quando a História Concisa da Literatura Brasileira foi publicada, em 1970, houve, entre os amigos, quem lhe vaticinasse 25 anos de validade. Era um vaticínio, além de generoso, certamente otimista. Generoso, porque capaz de reconhecer de imediato o valor da obra, e otimista em sentido peculiar: porque, assinalando a qualidade excepcional, previa, nesse período, uma evolução literária que viria, não a anulá-la, mas a superá-la, datando-lhe o valor.
Justamente agora – 32 edições depois –, quando se cumpre esse estágio probatório de um quarto de século, fica patente que o prazo de validade do livro não expirou, nem tem vencimento à vista. O que acabou datando mais facilmente foi o otimismo daquele juízo, aliás bastante generalizado e compreensível no seu tempo. Nele certamente se supunha que a produção literária brasileira evoluiria de modo a recompor e a reperspectivar amplamente o seu próprio passado, e que o acúmulo de estudos críticos particulares viria a permitir e demandar a realização de uma nova síntese histórica em alto nível.
De lá para cá, nada ficou propriamente parado, está claro, e alguns avanços verdadeiros foram feitos, inclusive no conhecimento de autores e obras capitais de nossas letras. Não cabe aqui enumerá-los, porém, nada disso, quando autêntico, pode ser esquecido ou negligenciado. Mas aquela movimentação literária, capaz de reperspectivar o passado, e aquele acúmulo de avanços particulares, que ficam a exigir a nova síntese histórica, certamente não ocorreram.
No campo da crítica, estudos particulares com alcance e fôlego para propor uma alteração mais geral de perspectivas permanecem ainda exemplos bastante isolados. Felizmente existem, mas são raros, ou mesmo raríssimos. No seu relativo isolamento, tacitamente denunciam um panorama duramente marcado pela associação entre o acanhamento crítico e conceitual e sua parceira indefectível – a pedanteria para desrecalque de basbaques. Agindo em dupla, a contrafação pedantesca e a mediocridade burocrática se substituem ao trabalho do conceito, com efeitos teóricos e práticos devastadores.
Assim, uma obra de peso e de longo curso, como é a História Concisa, quando se repõe atualizada e ampliada, surge involuntariamente como um revelador dos tempos. Mostra, de saída, que a multiplicação das pós-graduações em letras – que se instalaram no país justamente no período posterior à sua publicação –, se teve o mérito de normalizar e sustentar uma produção média, contribuiu pouco para uma verdadeira renovação de perspectivas. Tributária, em larga medida, de uma situação cultural anterior a esta, a História Concisa fica agora em uma posição peculiar: “para continuar em dia, precisa incorporar essa produção que a desatualiza” sem, no entanto, no conjunto, superá-la. Curiosamente, se essa foi uma das dificuldades a enfrentar em sua atualização, certamente foi também a primeira condição de possibilidade para efetuá-la. Com efeito, não faria sentido atualizar, no aspecto informativo, uma obra que estivesse irremediavelmente datada no aspecto crítico.
Duas vezes a História Concisa se pôs essa prova: no final dos anos 1970, quando se atualizou no que toca aos autores de ficção e à bibliografia crítica, e agora, nestes meados dos 1990. Antes, como agora, não se tornou um livro velho com um pedaço novo, mas uma obra que se repropõe serenamente, com a idade e atualidade que tem. Creio que algum sentimento íntimo desta ordem guiou sua presente ampliação, que visivelmente optou por preservar o equilíbrio e o jogo de proporções originais da obra. Os novos acréscimos desdobram com naturalidade painéis e linhas críticas anteriores, integrando-se com harmonia no conjunto. Aliás, em um trabalho que, desde o início, privilegiara a atenção aos movimentos recentes, modernistas e pós-modernistas, o gesto de atualização se faz mesmo com maior naturalidade.
Diante da abundância de matéria ficcional, poética e crítica, a presente ampliação renunciou declaradamente a qualquer pretensão de exaustividade. Ampliou consideravelmente, mas de modo seletivo, os célebres rodapés bibliográficos do livro, conservando também, sem cortes, a sua composição anterior.
Embora igualmente sem aspirações de exaustividade, o novo capítulo “A Ficção entre os Anos 70 e 90: Alguns Pontos de Referência”, é um painel bastante rico e matizado dessa produção. A rigor, não há um só movimento essencial à narrativa literária do período que não esteja nele representado. A palavra-chave aí é, certamente, movimento. Diante de autores e tendências que, na maioria dos casos, agitam-se e desenham-se ainda, diante de nós, o historiador escolheu flagrar dinamismos e linhas de força. Até aí vai o movimento interpretativo -mas só até aí-, sugerindo hipóteses para compreender vetores de transformação, mas suspendendo-se com prudência diante da avaliação mais terminante de autores e obras individuais.
Algo das frases ardidas e dos juízos cortantes que sempre surpreendiam, em meio à sobriedade da História Concisa, desaparece nesses capítulos novos, repontando apenas em alguma frase ou sugestão velada. A julgar por outras obras recentes do autor – em particular a Dialética da Colonização –, não foi a veia polêmica que minguou, mas apenas, no caso, a necessidade de sustentar a perspectiva do historiador que deteve o juízo diante daquilo que ainda mal se pode perspectivar. De todo modo, o capítulo não se furta a sugestões ousadas, das quais muito estudo literário poderia nascer. Talvez entre as mais interessantes esteja aquela que assinala a conjunção peculiarmente brasileira, oriunda do final dos anos 1960, que junta às vezes, no desenho de uma mesma obra, tendências críticas de ordem mimética e documental a pulsões anárquicas, vindas do estilhaçamento posterior a 1968.
Nessa linha, de modo um tanto velado, o livro aponta ainda, em obras recentes, a associação sintomática – que clama por interpretação – de brutalismo e amaneiramento, na qual parece que se repõe, em termos já explícitos e projetuais, a nossa ancestral conjunção de pretensões sofisticadas e cafajestismo atávico.
No novo capítulo “Poesia ainda”, o ponto de vista do historiador aceita um foco muito mais definido. A súmula de seu juízo, para muitos surpreendente, é a “demarcação da dominância e preeminência atuais do nosso veio existencialista em poesia”, que sobrenadou à maré experimentalista – cuja continuidade e vigência, por outro lado, igualmente se assinalam. Junto a um levantamento muito rico e generoso de autores e obras, esse veio existencialista marca-se, segundo o autor, (1) “pelo ressurgimento do discurso poético e, com ele, do verso, livre ou metrificado -em oposição à sintaxe ostensivamente gráfica”; (2) “pela ampliação da margem concedida à fala autobiográfica, com toda a sua ênfase na livre, se não anárquica, expressão do desejo e da memória” e (3) “pela reposição ardorosa do caráter público e político da fala poética – em oposição a toda teoria do autocentramento e auto-espelhamento da escrita”. Como se vê, todas essas características se estabelecem a contrapelo da pura auto-referencialidade linguageira, comum às vanguardas experimentalistas.
Nessa área, entretanto, a principal surpresa do livro está no capítulo sobre “Traduções de Poesia”, cujo levantamento e ajuizamento levaram o historiador não só a abrir esse espaço como, ainda, a afirmar que “o aparecimento de numerosas traduções de poesia nos anos ‘980 será talvez o fenômeno mais digno de atenção da nossa historiografia literária nesse fim de século”.
Registro apenas, para concluir, que, ampliado e atualizado que esteja, o final do livro não foi alterado: culmina com a invocação da figura de Otto Maria Carpeaux – a quem a obra é também dedicada – e sua última palavra é Espírito, com maiúscula, à boa e velha maneira hegeliana. Mais do que na fidelidade a si mesmo desse Mestre da Crítica, que é Alfredo Bosi – virtude admirável em qualquer parte e muito mais em terra de veleitários –, esse final me faz pensar que em alguma coisa concordam, finalmente, aqueles que só se curvam ao trabalho do Espírito e os materialistas de verdade. Cada um a seu modo, ambos parecem dizer: fetichismo, não.
*José Antônio Pasta Júnior é professor aposentado de literatura brasileira na USP. Autor, entre outros livros, de Trabalho de Brecht (Editora 34).
Publicado originalmente no Jornal de Resenhas / Folha de S. Paulo no. 04, em 03 de julho de 1995.
Referência
Alfredo Bosi. História Concisa da Literatura Brasileira. Edição revista e ampliada. São Paulo, Cultrix, 528 págs.