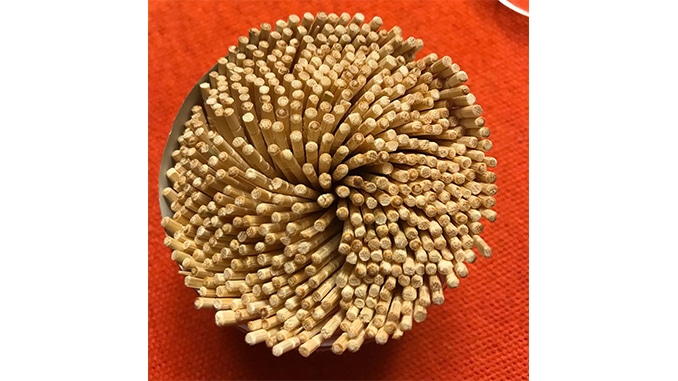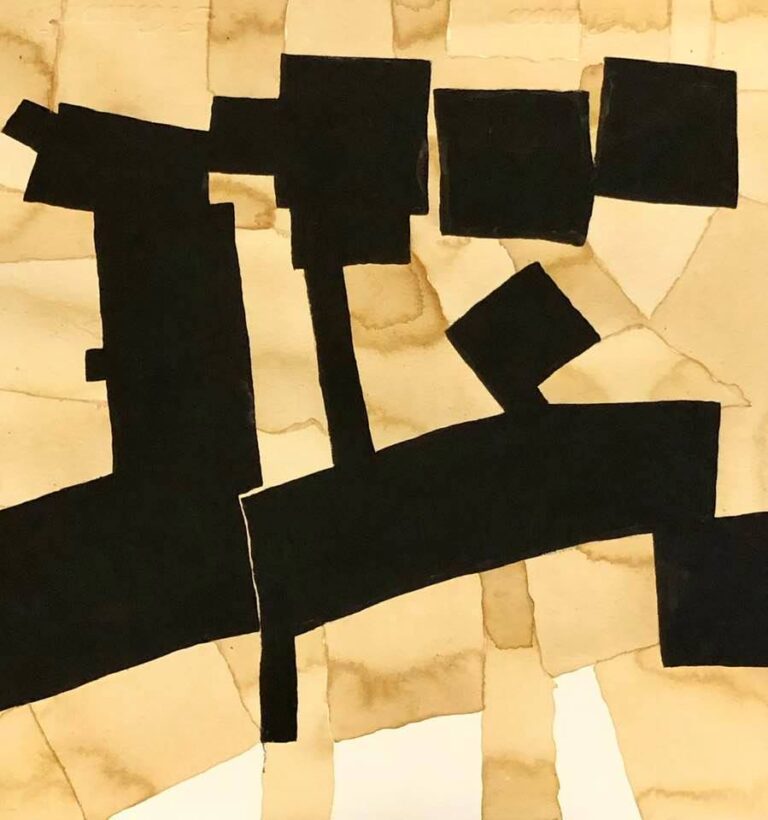Por Fernão Pessoa Ramos*
A brutalidade da imagem na destruição exercida pela civilização ocidental e pelo capitalismo consumista
Entre os grandes diretores de cinema do século XX, o franco-suiço Jean-Luc Godard merece destaque. Começou como crítico no Cahiers du cinéma, ainda no tempo de André Bazin, e depois integrou, a partir de 1958, o grupo dos “jovens turcos” da Nouvelle Vague.
O movimento francês foi a primeira vanguarda moderna propriamente cinematográfica, se excetuarmos aquelas dos anos 1920 com raízes na literatura e artes plásticas. No final dos anos 1960, Godard evolui à esquerda do que era inicialmente um movimento com raízes mais à direita do espectro político, buscando inspiração no classicismo hollywoodiano através da chamada “política dos autores”.
Na Nouvelle Vague, Godard compunha com François Truffaut, Éric Rohmer e Jacques Rivette a chamada “rive droite” – em oposição à “rive gauche” de Agnès Varda, Chris Marker, Alain Resnais e outros. Chega na extrema esquerda com a fundação, em 1968, do grupo documentarista “Dziga Vertov”, de corte maoísta. Entre 1968 e 1972, o grupo “Dziga Vertov” produziu filmes com crítica radical às estruturas sociais do capitalismo (como “Luttes en Italie”, “Vladimir et Rosa”, “Le Vent d”Est”, “Letter to Jane”, “British Sounds”), dando sequência a obras anteriores como “La Chinoise”/1967 ou “Weekeend”/1967.
Nos anos 1980 e 1990 Godard voltou-se ao experimentalismo formal, realizando uma série de obras no modo ficcional, usando atores e estrelas, mas desconstruindo a forma narrativa tradicional com trama e personagens. Nestes filmes são percorridos temas diversos como a dimensão da humanidade face a potência divina (“Hélas pour moi”/1993); as cores e luzes da pintura clássica como tema narrativo (“Passion”/1982); o eterno motivo da sedução feminina reciclado e pensado (“Prénom Carmen”/1983); o dogma da virgindade de Maria com seus dilemas atualizados (“Je Vous Salue, Marie”/1985); os horrores da guerra da Bósnia, misturados à Fernando Pessoa (“For Ever Mozart”/1996); Shakespeare, agora em Chernobyl (“King Lear”/1987); o cinema, sua música e suas falas, conforme foi visto pela “nouvelle vague” (“Nouvelle Vague”/1990); a própria história centenária da arte do cinema (“Histore(s) du Cinéma”/1988-98), etc.
Godard continua a todo vapor, mostrando que mantém a verve criativa. É daqueles artistas com obra consistente para além da maturidade – quando envelhecem e, naturalmente, entram na fase mais retrospectiva da vida. Passam então a girar em torno dos grandes formatos e temas em que floresceram. Godard avança bem na velhice, com produtividade notável para seus quase 90 anos (é de 1930).
Na segunda década do século XXI, além de diversos curtas e produções mais caseiras, assinou três longas: “Filme Socialismo”/2010, “Adeus à Linguagem”/2014 e “Imagem e Palavra”/2018. Seu último filme, “Imagem e Palavra”, recebeu uma Palma de Ouro Especial no Festival de Cannes de 2018 e passou recentemente, no primeiro semestre, pelos alguns poucos cinemas brasileiros.
Seu penúltimo longa, também da década de 2010, “Adeus à Linguagem”/2014, retoma “Duas ou Três Coisas que Sei Dela”, filme de 1966-67. São dois filmes filosóficos, de um cineasta que, em sua filmografia, tencionou o pensamento na imagem-som, torcendo o conceito no formato fílmico-narrativo que transcorre.
“Adeus à Linguagem” tinha trama ficcional mais forte que “Imagem e Palavra” e uma sensibilidade mergulhada de modo mais decidido na filosofia contemporânea, com belas preocupações sobre o estatuto do ser que nos remetem ao pensamento e às sensações que parecem ser ditas por um velho filósofo francês pós-estruturalista da segunda metade do século XX. Além disso, “Adeus à Linguagem” é um filme em 3D, tendo sido exibido no Brasil neste formato. Quem teve a oportunidade de vê-lo no cinema, “comme il faut”, com sua singular beleza plástica, não esquece a dança dos volumes e das cores nas formas godardianas.
“Imagem e Palavra”/2018, no entanto, abandona o “frisson” mais estonteante da metafísica pós-estruturalista para se voltar, no modo de um ensaio documentário, à reflexão sobre o exercício da política e do poder. Está sob o domínio da práxis, podemos assim dizer. Sintoniza a tendência do pragmatismo mais brutal de nosso tempo no qual a escrita, ou ícones mais primitivos como “emojis”, substituem progressivamente as pequenas doses cotidianas de comunhão que tínhamos na comunicação nuançada da fala. São blocos sintagmáticos que, com seus pequenos tijolos obtusos, detonam como pólvora os afetos da ira, da indignação, do ressentimento.
Em “Imagem e Palavra”, Godard traça este cruzamento entre palavras, hoje multiplicadas, e, ao mesmo tempo, ausentes na fala. Dedica-se a refletir sobre as exaltações de nosso tempo em seis fôlegos – na realidade cinco segmentos ensaísticos, claramente indicados, e mais uma ficção final. Em declarações sobre a obra e no filme, Godard nos diz que os cinco segmentos equivalem aos cinco dedos da mão. Sua voz explica, logo na abertura, que “a verdadeira condição do homem é de pensar com suas mãos”, em citação tirada de Denis de Rougemont: “Existem os cinco dedos, os cinco sentidos, as cinco partes do mundo, sim, os cinco dedos da fada. Mas todos juntos, eles compõem a mão e a verdadeira condição do homem é pensar com suas mãos”.
Acompanhando esta fala em “off”, fora de campo, surge, em primeiro plano, a imagem de duas mãos idosas manipulando a película de um filme numa mesa de montagem. O primeiro plano do filme é o de uma mão com o dedo indicador levantado, fotografada com uma sombra forte que a recorta de um fundo negro. Aponta para cima, meio tateando, meio pedindo interrupção e atenção para a expressão. Segue-se letreiro elogiando o silêncio sem fala de Bécassine (personagem clássica de uma história em quadrinhos francesa). Depois, as mãos tateando corpos, e sozinhas, são seguidas da imagem ícone da lâmina cortando os olhos em Um Cão Andaluz/Buñuel, como uma liberação do olhar.
As cinco partes do filme são seguidas de uma sexta, não numerada, que aproveita as cinco anteriores para estender uma tênue trama e um universo ficcional. A linguagem (“a língua não será jamais linguagem” diz o filme remetendo aos dilemas da semiologia estruturalista) de “Imagem e Palavra” é a do ensaio audiovisual, asserindo através de figurações que esboçam um pensamento para, logo depois, naquilo que tenta ser anterior ao pensar, o fazer desaparecer.
O ensaio é uma modalidade fílmica que tem raiz na tradição documentária e hoje conta com produção cinematográfica forte. “Imagem e Palavra” nitidamente se insere neste campo. Como forma, na filosofia e nas ciências humanas, o ensaio já foi tematizado por grandes pensadores de nossa época. Ao desembarcar com intensidade na produção fílmica dos anos 2000, vindo de um momento anterior, a narrativa ensaística trouxe espaço de expressão para grandes diretores como Chris Marker, Agnès Varda, Harun Farocki, Alexandre Kluge, Straub/Huillet, Vérena Paravel/Lucien Castaing-Taylor, Chantal Akerman, Péter Forgács, Pedro Costa e outros.
O caminho das figuras que encontramos em “Imagem e Palavra” é inicialmente o da história do cinema. “Remake” é o título do primeiro segmento. Ele possui como carga imagens/sons já cristalizados, carregados de uma enunciação passada em imagem fílmica. As figuras não constituem propriamente uma “representação” do mundo, nem se delineiam em asserções propositivas. Surgem como constelação de nuvens que se esboça em picos e logo se desfaz. Os picos, no entanto, estão lá e às vezes se elevam como grandes Himalaias, para quem quiser ver.
Para asserir, ou figurar, Godard possui seu cabedal próprio de artista formado na cinefilia francesa que ele, inclusive, ajudou a construir como panteão, desde os tempos de crítico no “Cahiers” nos anos 1950. “Imagem e Palavra” formata uma narrativa que enuncia com este material a linguagem de sua arte, seguindo o cinema naquilo que cristalizou em estilo e autoria na sua história. Certamente não é uma reprodução menor do grande (266 minutos) e épico “Histoire(s) du Cinéma”/1988-98, projeto maior da filmografia godardiana e que pareceu coroar, no final do século XX, sua obra de maturidade.
“Imagem e Palavra” mostra a agilidade, e a memória, que Godard já teve um dia para percorrer como um lince (ou seria uma lebre?) a história dos filmes. Estes, agora em sua velhice, servem como hélice para impulsionar a verve audiovisual que mantém aguda. O propósito parece ser mostrar como a opressão e a desrazão nos fizeram abandonar a simplicidade da vida e sentir novamente atração na exaltação da potência desmedida e bárbara.
No discurso de Godard sente-se o artista em sintonia com os traumas recentes dos atentados na França. Godard sempre foi um artista do político, que pensa em imagens/som e intervêm pela forma filme, através de enunciados direcionados às estruturas institucionais que concentram poder. A construção do som em diversas pistas ocupa aqui destaque.
O filme foi pensado, segundo Godard, para ser exibido em pequenas salas, com caixas de som distribuídas na superfície, em volta da tela, acima e abaixo dela. Música, ruídos e palavras pipocam pelo espaço, com claras alterações que implicam significados em sua construção, principalmente quando as vozes se sobrepõem à narração fora de campo, indo e voltando, se destacando da periferia para o centro da emissão.
O diálogo com a cultura árabe é forte em “Imagem e Palavra” e retorna de modo obsessivo no fluxo fílmico. Talvez o eixo central desse Godard político seja pensar a Europa e suas novas configurações sociais, vistas pelo viés histórico do ódio, da violência e da guerra. Emergem imagens do Islã radical e da bandeira negra do ISIS, em contraposição às cores gritantes, digitalmente estouradas, do sol, do mar, da amizade, da vida pacata e de belas faces árabes com expressões doces.
O mosaico ensaístico de “Imagem e Palavra” é, então, composto por cinco partes que desembocam na breve narração de uma trama, fazendo se passar como um livro. O título em francês de “Imagem e Palavra” é “Le Livre d”Image” com subtítulo “Image et Parole”. Infelizmente, em português, perdeu a parte principal do nome, “O Livro de Imagem”, e trocou “fala”, tradução mais fiel de “parole”, por “palavra”.
O primeiro segmento, intitulado “Remake”, surge logo após as figuras iniciais deste “Livro da Imagem” (e não “das imagens”), que introduzem a questão do pensamento como imagem, pelo tato. “Remake” é composto basicamente por citações fílmicas e possui no título a indicação de uma operação que, por excelência, constitui a arte cinematográfica: o “remake”.
O primeiro capítulo de “Imagem e Palavra” está configurado sobre as construções da repetição fílmica na obra. O segmento tem norte na dialética da repetição, que tudo retorna (re-make), seguindo a evolução do grande espírito na visão hegeliana-marxista da história: o da tragédia e da farsa, do escravo e do senhor. É “remake”, pois estamos retornando ao que já foi imagem, filme de nós, condenados ao retorno pela negação, da qual a dialética não se liberta.
No nosso caso, o retorno é à imagem que já foi imagem e está impressa, literalmente, na película (ou suporte digital) pelo verniz de um estilo. Pensar com as mãos, no modo que o filme se propõe explicitamente, não significa abandonar o pensamento pela expressão corporal, mas pensar na imagem e pela imagem, ou negar aquilo que, no pensamento, se acorrenta à matéria para fazer a entidade subjetiva. Se na história tudo se copia, “remake” é o primeiro dedo dos cinco da mão: é a direção do fluxo imagem que se quer história, mas consegue apenas retornar.
Como grande testemunha de sua força, fica o esforço breve de querer ser paralelo ao conjunto exterior, mas acabar sendo ocupado pelo sentido e pela memória, se esvaindo na “refazenda”. O “Remake”, no livro godardiano da imagem fílmica, é o que se sucede no giro do motor “forward” do grande filme que “Imagem e Palavra” encontra pelas citações neste primeiro segmento: Laurence Olivier/”Hamlet”; Aldrich/”Kiss Me Deadly”; Murnau/”O Último Homem”; Ray/”Johnny Guitar”; Rozier/”Blue Jeans”; Spielberg/”Tubarão”; Franju/”Le Sang des Bêtes”; Rossellini/”Paisá”; Pasolini/”Salô”; Hitchcock/”Vertigo”; Vigo/”Atalante”; Eisentein/”Ivan” e “Nevsky”; e, ele mesmo, Godard, por “Allemagne 90 Neuf Zero”, “Les Carabiniers”, “Le Petit Soldad”, “Hélas pour Moi”, “Histoire(s) du Cinéma”.
São todas imagens fílmicas que transcorre em cascata neste segmento (e também nos outros), servindo de hélice para o grande “remake” da história que o filme que figurar pelo mundo da política, da brutalidade e do poder. Neles, filmes, “Imagem e Palavra” se aproveita para fazer falar os afetos da compaixão e da crueldade que lhes são inerentes.
E assim compõe a relação entre filme, realidade e o pensamento das mãos. O primeiro dedo da mão, dos cinco que o filme percorre, seria o do pensamento composto pelo tato que toca e assim se faz sentir como imagem, antes que a fala se torne palavra – ou na multiplicação infinita desta “parole” quando tende ao zero, maneira do desdobrar sobre si.
O segundo dedo do pensamento com as mãos (“verdadeira condição humana” segundo Godard, e que a singulariza), forma o segundo segmento de “Imagem e Palavra” intitulado “As Noites de São Petsburgo”. É o segmento da guerra e do horror. Deixamos para trás o discurso do método no ensaio (o “re-make”) e agora estamos no motor da imagem, na figuração da morte e da violência pelo poder através dos séculos.
“Les Soirées de Saint-Petersburg” é o título de livro do diplomata francês Joseph de Maistre, pensador conservador que, como contrarrevolucionário, viveu a Revolução Francesa – para ele expressão do Terror. Godard o cita algumas vezes neste segmento. Descreve a experiência de Maistre na expressão de que a guerra, em seu horror, é divina. Philippe Sollers, em algum ponto, tentou recuperar num ensaio a retórica de Maistre como uma espécie de “Sade blanc”, mas este não é o percurso que faz Godard.
A citação de longos trechos de seu livro em voz “off” é figurada na imagem de “Imagem e Palavra” e mostra atualidade surpreendente na exaltação do exercício da violência: “a guerra é então divina nela mesma pois é uma lei do mundo. Quem pode duvidar que a morte em combate é um grande privilégio e quem poderia achar que as vítimas – julgamento terrível – teriam versado seu sangue em vão? A guerra é divina na glória misteriosa que a cerca e na atração, não menos inexplicável, que exerce sobre nós”. A imagem e os enunciados que seguem têm o horizonte aberrante da brutalidade como referência.
O segmento do horror em “São Petesburgo” também nos remete ao longo inverno do cerco de Leningrado (nome desta cidade no período soviético) pelos nazistas, quando mais de um milhão de civis, e outro tanto de soldados russos e alemães, morreram numa batalha dilacerante da II Guerra Mundial.
As referências/citações cinematográficas continuam a correr no filme, com a imagem do desvairado “Mabuse” de Lang numa corrida de carro infernal; a idealização protofascista dos “Nibelungos” do mesmo Lang; o “Napoleão” de Gance; e, mais ainda, a trágica morte do coelho numa caçada – numa das cenas mais marcantes de “A Regra do Jogo”/Renoir (1939), pré-figuração cinematográfica por excelência da ascensão da barbárie nazista.
Este segundo segmento se inicia com uma bela passagem de “A Arca Russa” de Alexandr Sokurov, filme que quer contar 300 anos da história russa num longo plano sequência de 96 minutos através do Palácio de Inverno de São Petsburgo, passeando pelos quadros do Museu Hermitage. Após a citação de Joseph de Maistre, há a imagem detida da lápide de Rosa de Luxemburgo (trabalhada digitalmente em suas cores), bandeiras do ISIS em suas caminhonetes, bandeiras americanas na frente de limousines, expressões agudas em quadros de Hieronymus Bosch. Onipresente, a imagem do horror é acompanhada de ruídos da guerra. O trabalho com o som parece ser particularmente forte neste momento.
O terceiro segmento de “Imagem e Palavra” surge carregado por viagens e imagens de filmes (narrativas) com trens. É uma espécie de porta de saída, um parêntesis à representação do vento da história tentando se erguer, constantemente acossado, baqueado pelo horror. Os trens, as partidas, são um respiro, mas eles também trazem para os trilhos a imagem sangrenta. Este é igualmente o segmento das flores. Embora elas surjam em outros momentos, há aqui explosões de flores, planos com cores intensas e artificiais que circundam os trilhos.
O título do segmento reproduz um verso do poeta metafísico Rainer Maria Rilke: “ces fleurs perdues entre les rails, dans le vents confus du voyage” (“estas flores perdidas entre os trilhos, no vento confuso da viagem”). Nos trilhos, pelos trens, um momento privilegiado é o de Buster Keaton às voltas com o movimento sincopado de si mesmo em “A General”, tentando passar de um vagão para outro, sem ir a lugar nenhum, com o trem em movimento. Em contraponto, temos a sequência de um filme de Jacques Tourneur (“Berlin Express”/1948), estilo “noir”, filmado no imediato pós-guerra.
A divisão dos vagões segue de acordo com a apresentação dos personagens na trama, cada parte isolando a exposição das personalidades no espaço de vagões sucessivos. Entre eles, está um resistente alemão perseguido que será protegido pelos passageiros anônimos. À ordem racional expositiva da guerra, da resistência e do mundo “noir”, Buster Keaton fornece uma variante poética, meio cômica, com sua ação sem consequências, ou de consequências duvidosas, onde a finalidade encavalada em gestos sincopados reage sobre si em circuito fechado, até a imobilidade.
Surgem outras imagens de um documentário mudo, no qual trens atravessam túneis e abismos, com planos subjetivos da cabine que dão tensão e movimento a este sentido de lirismo, perdido entre escape, viagens, fugas, flores, que deixamos para trás. É a Arte que amarra este movimento, conforme nos afirma novamente a voz fora de campo de Godard, sussurrando através de uma imagem de garotos em volta da lanterna mágica: “Quando um século se dissolve lentamente no seguinte, alguns indivíduos transformam os meios antigos nos meios novos. São estes últimos que chamamos Arte. A única coisa que sobrevive de uma época é a forma de arte que ela cria. Nenhuma atividade se tornará arte antes que sua época termine. Em seguida esta arte desaparece”.
As partidas e chegadas em cascata dão lugar ao quarto segmento de “Imagem e Palavra”, intitulado, seguindo Montesquieu, “O Espírito das Leis”. Ele parece complementar o segundo segmento, “As Noites de São Petsburgo”, como um remédio que não cura o sintoma. “O Espírito das Leis” é a decorrência direta da elegia da guerra e da violência em “As Noites de São Petsburgo”. Faz um contra-espelho iluminista, o “espírito das leis”. Mostra-se na narrativa pelas citações à Montesquieu e aos “pais fundadores” da civilização norte-americana.
Este segmento, dedicado às leis, é baseado na demanda de justiça e nas dificuldades de fazer que seu eixo não gire no vazio. Abraham Lincoln tem espaço personificado por um jovem e idealista Henry Fonda, citado longamente através da obra central da filmografia de John Ford, “Young Mr. Lincoln” (“A Mocidade de Lincoln”/1939). Nela, o diretor Ford, o ator Fonda, o personagem Lincoln, e o filme parecem querer traduzir, pois acreditam, os melhores ideais ianques que sustentam até hoje a crença em sua democracia.
Em novo momento de ascensão ideológica, depois da crise de 1929, e logo antes da entrada do EUA na Segunda Guerra Mundial, Ford consegue vibrar com a organicidade social vislumbrada nesses ideais de justiça. Mas Montesquieu e os “pais fundadores” do projeto civilizatório norte-americano, são carregados em “Imagem e Palavra” pela voz soturna fora de campo de Godard, em modalidades desafinadas. O vento da irracionalidade, o peso da brutalidade e do imperialismo, parecem fazer contraponto ao iluminista “espírito das leis”. A força das pulsões de morte borbulha por baixo e ferve, imagem de sangue, de guerra e holocausto (uma das obsessões recorrentes em Godard). Coloca na berlinda o espírito iluminista, desconfiado, como bom francês da segunda metade do século XX, de seus limites para ser fio condutor propositivo da história.
As referências ao livro de Montesquieu são diversas e o próprio frontispício do livro surge como imagem – mas a sequência que inicia este quarto segmento foi tirada do grandioso documentário “La Commune, Paris 1871”/2000, obra maior do diretor Peter Watkins, sobre a revolta francesa na Paris do século XIX. É, portanto, através desta toada, fazendo contraponto entre a Comuna de Paris e o “Espírito das Leis”, que avançamos no quarto segmento de “Imagem e Palavra”.
A passagem de “Young Mr. Lincoln” é antecedida por um breve flash de “O Homem da Câmera”, de Dziga Vertov, espécie de reminiscência do passado maoísta de Godard em 1968. A imagem da deformação em “Freaks” (1932, Tod Browning) surge logo depois de “Young Mr. Lincoln” e o paralelo pornográfico da imagem “lamber o saco” que sucede dá a medida. Depois de Lincoln, Godard encontra a questão da fé e seus afetos forçando o limite da lei. “O que importa, se tudo é graça” nos diz de novo a voz cavernosa godardiana sobreposta à imagem de “Journal d”un Curé de Campagne” (Robert Bresson/1951) e de Ingrid Bergman, como Joana d”Arc (Victor Fleming/1948), ardendo numa fogueira com expressão mais de gozo que sofrimento.
A modalidade ensaística de “Imagem e Palavra”, no degrau que a escritura se instaura, não faz caber, nem se deve buscar, asserções claras para saciar a boa consciência, seja reivindicatória ou indignada. A visão crítica que Godard possui da civilização ocidental e, principalmente, do cinema norte-americano, é misturada à contraditória admiração que nutre por Hollywood, desde os tempos do “Cahiers”.
É ela que dá o centro de gravidade em “Histoire(s) du Cinéma” e surge claramente em sua carreira em filmes como “À Bout de Souffle”/1959, “Une Femme est um Femme”/1961, “Le Mépris”/1963, “Alphaville”/1965, “Made In USA”/1966, entre outros. Em “Imagem e Palavra” nos situamos no embate entre o ideal racional-iluminista e a visão godardiana de política e poder. E política/poder sempre foram elementos presentes na filmografia de Godard, desde o início de seu diálogo com o cinema americano.
Seguindo seu tempo, o diretor francês agora sente-se nas linhas do embate da atualidade, mostrando como podemos enunciar e confrontar as forças irracionais da violência e do fascismo, enquanto figuras fílmicas. O cinema fez parte das novas demandas tecnológicas que, como comunicação de massa, se cristalizaram em modos de expressão nos últimos dois séculos, trazendo sua especificidade para a raiz da arte e da estética.
Em “Imagem e Palavra” as figuras que asserem surgem sempre no modo da citação e da reflexividade. É Godard chegando aos 90 anos com olhar embaçado de cinema. Trabalha a brutalidade da imagem na destruição exercida pela civilização ocidental e o capitalismo consumista, como na citação de “Weekend” (Godard, 1967); a melancolia inconfundível na paradigmática da expressão de Giulietta Masina em “La Strada” (Fellini, 1954); a agonia profunda do fim do mundo que respiramos no caminhar do garoto suicida em “Alemanha Ano Zero” (Rossellini, 1948) (em sobreimpressão com figuras de Goya); no grande peso da culpa do cristianismo que se carrega nas costas em “Dias de Ira” (Dreyer, 1943); e também na falsa culpa de “O Homem Errado” (Hitchcock, 1956 – com um Henry Fonda envelhecido e sem a confiança de 1939 em “Young Mister Lincoln”); no massacre da Columbine High School visto pelos olhos de Gus Van Sant em “Elephant”/2003 (exemplo de “montage interdit”?, diz o letreiro); na já mencionada revolta dos pequenos monstros humanos de “Freaks”/1932, encarnando pela deformidade o grito de insubmissão; na arquetípica imagem de arquivo da garota judia, ou cigana, que levanta brevemente os olhos para câmera antes de ser fechada num vagão para ser embarcada de Westerbrok para Auschwitz, onde seria morta (“Respite” de Harun Farocki/2007).
A determinada altura, ainda neste quarto segmento, letras garrafais ocupam a tela com a frase “montage interdit” (“montagem proibida”), compromisso ético que sustenta, em seu núcleo, o edifício da estética fílmica baziniana dentro da qual, um dia, Godard respirou – antes de questioná-la (“Montage mon bon souci”, publicou). São figuras, portanto, que, no quarto segmento, querem sobrepor enunciados do iluminismo e do horror fascista a fundamentos morais de nosso tempo.
O parafuso espanou e a porca começa a girar em falso, parece nos dizer Godard na atualidade da dissonância. O giro se dilatou tanto que a cobertura no movimento solto deixou de ser natural e o atrito se mostra: “Il y a quelque chose qui cloche dans la loi”, nos diz a voz fora de campo – algo que gira em falso na lei e em seu “espírito”.
Depois da lei, do espírito e da guerra, vem a quinta parte, o segmento desumano de “Imagem e Palavra”, intitulado “La Région Centrale”. Nele, o quinto dedo da mão que pensa o corpo, segundo a exposição inicial do filme, vai agora apontar para o além-corpo. Parece nos mostrar aquilo que se expressa pelo meio do exterior, no “meio” de uma máscara inteiramente maquínica, sem humanidade. A mão que, como pensamento, tateava e sentia a matéria da imagem, agora elege o dispositivo inumano pois é sua fonte.
O dispositivo maquínico da imagem-câmera é o parâmetro possível de positividade na enunciação. O quinto segmento de “Imagem e Palavra” é uma espécie de brincadeira com o indicador levantado da figura de Béssiane que atravessa o filme e compõe seu cartaz. O dedo levantado nos recomenda silêncio como estratégia de ignorância neste mundo que fala demais – e aparentemente nada quer dizer.
“La Région Centrale”/1971 (assim, em francês) é também o título do principal filme de Michael Snow, diretor nascido no Canadá anglo-saxão (Toronto), personagem maior do cinema experimental norte americano dos anos 1960/1970. Apesar da proximidade, na proposta radical e na contemporaneidade, os contatos entre Godard e essa vanguarda, de corte mais plástico e figuração abstrata, foram pontuais, repercutindo esporadicamente em sua obra. Talvez seja uma suposição que esta homenagem direta a Snow queira preencher a lacuna, mas é fato que o trabalho original com o dispositivo cinematográfico no longa “La Région Centrale” (190 minutos) coloca uma nova camada enunciativa nas intuições ensaísticas de “Imagem e Palavra”. É o longa de Snow que dá a âncora título ao quinto segmento do filme.
A proposta vanguardista de Snow em “La Région Centrale” é particular – e essencialmente inumana. Ela quer subtrair até o limite a dimensão subjetiva da tomada e coloca a câmera num braço robótico, elaborado como um imenso mecanismo maquínico. Todo filme é tomado a partir de iniciativas não aleatórias deste maquinismo. O mecanismo foi construído para realizar tomadas com movimentos bruscos, rente ao chão ou em espiral (travellings para frente e para trás, horizontais, verticais, panoramas circulares), sem participação humana, programados previamente e controlados a distância.
O mais interessante é que este grande dispositivo fílmico que sustenta a câmera em “La Région Centrale” foi instalado na natureza isolada, numa região montanhosa deserta, no Norte do Quebec. Michael Snow com sua pequena equipe, e o imenso dispositivo maquínico robótico, foram colocados por um helicóptero na montanha isolada, o que permitiu à câmera fazer, por si só após programada, os livres movimentos horizontais, verticais e curvos que vemos nos planos montados de “La Région Centrale (são 17 sequências que se sucedem separadas pela imagem de um grande “x” que ocupa periodicamente a tela). As filmagens tomaram cinco dias e o som do filme é composto por ruídos maquínicos, sem falas, originários da manipulação eletrônica do dispositivo.
É esta obra, então, que empresta sua proposta ao quinto segmento de “Imagem e Palavra”. A imagem da máquina filmando em torno de si mesma, e por si mesma (imagem de um “em si” maquínico sem intenção nem memória) tem elaborada camada estilística que é aproveitada por Godard. O puro maquínico, transformado na unidade filme transcorrendo, serve como referência e contraposição à imagem gorda de humanidade e afetos que, até este momento, é figurada em “Imagem e Palavra”.
Logo ao início do quinto segmento menciona-se o fim das espécies, incluindo a humana, e a diferente responsabilidade daqueles que tem mais ou menos recursos no processo de extinção. Mãos que se movem seguem novamente como se quisessem exprimir o pensamento humano no após tudo, através de uma digressão, aparentemente de Blanchot, sobre o tempo e sua inerência no que é sensação. Um grande letreiro, “Hommage à la Catalogne”, faz referência à experiência carnal extrema, nas trincheiras da guerra civil espanhola (1936), de um jovem George Orwell. Uma voz nos diz que, entre o sofrimento que faz o tempo, e a espera que o torna excessivo, “as histórias avançam de modo mais lento do que as ações são finalizadas”. O que abre o tempo à ausência de tempo talvez seja uma forma própria de o referir para além da experiência da ação.
Seguindo a representação ensaística do vazio, para além da negação, o cume amplo da imagem-ação fílmica finalista, sensório-motora, é atacado. A ação humana, na tradição do classicismo cinematográfico, é “engordada” por motivos sucessivos e emoções, que o espectador pesca como num jogo, mas pode ser esvaziada pela desconstrução do afeto na mimesis.
É o que tenta fazer Godard: esta pescaria motivacional da ficção, surge representada numa sequência típica daquilo que Hitchcock chama “MacGuffin”. “MacGuffin” é um conceito, inventado pelo diretor inglês, que sintetiza brilhantemente o vazio da intenção na ação. A explicação sobre o termo é longa, mas ele refere principalmente um “motivo” ficcional frágil e inverossímil que, apesar do vazio, consegue ancorar com intensidade a tensão da trama, tornando-se centro hipnotizador de espectadores.
O “MacGuffin”, citado por Godard em “Imagem e Palavra”, é conhecido e analisado em detalhes por Hitchcock, na longa entrevista que concedeu ao jovem François Truffaut (“Hitchcock/Truffaut: Entrevistas”): trata-se da rocambólica história de uma garrafa de vinho com material atômico que, em “Notorius”/1944, leva Ingrid Bergman e Cary Grant até o Rio de Janeiro. O plano que Godard reproduz em “Imagem e Palavra”, depois da imagem de uma bela e intensa expressão de Bergman, é o “close” na chave que abre a adega onde está escondida a falsa garrafa “MacGuffin-motivo”.
Também aí os afetos são muitos e soltos, avidamente prontos para grudarem, se pendurarem, no primeiro cabide motivo que lhes seja oferecido. Novamente o artista sente incômodo com as emoções gordas do cinema mostrando como podem ser esvaziadas, seja pela centrifugação inumana que resulta da aceleração motivacional da imagem-ação no cinema hitchcockiano, ou naquela da experiência do dispositivo maquínico de Michael Snow. As breves citações, em “Imagem e Palavra”, do dispositivo maquínico de “La Region Centrale”, são ásperas: percorrem o solo do deserto e árido da montanha, antes de avançarem para o infinito do céu. Talvez queiram criar escape para a armadilha do humanismo, ponto caro ao pensamento dominante na filosofia francesa da segunda metade do século XX.
O filme “Imagem e Palavra” termina num último segmento, anunciando a “Arabie Heureuse” (“Arábia Feliz”). Nesta última parte (espécie de sexto segmento), Godard diminui claramente o ritmo de citações fílmicas e engata a narrativa na trama do livro de Albert Cossery, “Une Ambition dans le Déssert”. Destaca sua filosofia de vida. A felicidade é agora, parece nos dizer, e são as delicadezas da civilização árabe que a sustentam. Na ficção que fecha o filme, uma voz “over”, fora de campo, narra fragmentos da trama do livro. “Heurese Árabie” aparece grafado na tela com o frontispício do livro de Alexandre Dumas, “L”Árabie Heurese – souvenirs de voyages em Afrique et en Asie par Hadji-Abd-El-Hamid Bey”.
A “Árabie Heureuse” de Dumas é também uma expressão para designar o sul da região árabe do Golfo, mais fértil do que outras e por isso “heureuse” (feliz). A referência ao autor da trama, Albert Cossery, traz igualmente menção à sua personalidade. Cossery era tido como uma espécie de bon vivant, apreciador da vida no presente e sem consequência. Com esta filosofia, Cossery, frequentou a nata existencialista da intelectualidade francesa no pós-guerra de Paris.
Na realidade, o universo “árabe” sempre foi muito presente para os franceses. Não só a cultura “berbere”, do Norte da África, mas também os árabes do Golfo, nos quais o filme se detém através do país imaginário “Doffa” do romance. Nos últimos anos, a presença árabe adquiriu cores sombrias no imaginário europeu ao se intensificarem os atentados e a crise migratória da guerra civil síria.
A questão da Europa e da União Europeia é um tema recorrente em “Imagem e Palavra”, surgindo em diferentes momentos do filme. A bandeira com fundo negro do ISIS e sua escrita em letras brancas também aparece aqui, embora não componha o horizonte central da parte “Arabie Heureuse”, inspirada em Dumas e Albert Cossery. Existe na narrativa uma defesa da opção política do califado ficcional de “Doffa” (através do personagem de Samanta) por uma civilização sem petróleo, algo que seria singular e positivo na região.
Godard aproveita para realçar a forma singela, sem o ouro negro, que a natureza involuntariamente dotou o imaginário reino de “Doffa”, em meio a outros países mergulhados na cobiça por riqueza e poder. Opção que embute a simplicidade da vida e a fuga do grande capital, sua brutalidade e suas guerras. É uma tentativa de ode, em meio ao horror, à beleza da luz e das cores do céu, do mar e da areia mediterrânea, dos rostos e do toque – belezas acentuadas pelo trabalho livre de coloração digital que manipula a imagem no filme. Um trecho do romance “Salammbô” (1862), de Flaubert, lido pela voz rouca de Godard, nos dá essa ideia ao narrar um exército de Bárbaros, caravana no deserto, avançando sobre uma Carthago nas brumas e clamando o nome da heroína: “Oh Salammbô”, “Oh Salammbô”.
No “livro de imagem”, portanto, dois lados são postos pela palheta vigorosa de Godard, entre a despedida e o silêncio do horror. E, se quisermos “ler” o livro – o “livro do filme” como o título sugere – talvez devêssemos percorrê-lo de fora, como um grande fluxo de mundo imagem. Talvez cheguemos, neste ponto de pura pulsão entre silêncio e horror, próximos de uma inspiração que faz desaparecer a obra no instante mesmo que a afirma. Não seria onde Godard desembarca, quando que se quer no “livro” da Imagem, que traz a si própria como mundo e memória? Forma que se escreve passando, indo ao encontro, mas que desagua numa potência de horror exterior da qual é essência e não se diz. A expressão da personagem clássica da heroína Bécassine, com seu jeito de inocente caipira bretã e dedo indicador levantado, seria paradigma.
É assim que termina o “livro de imagem” de Godard: pelo lado “heureuse”, mas fechando-se em si como fórmula, composto por “páginas” que nos levam a um ponto de saturação e transcendência. Sendo o livro da “imagem” assim integra os limites do “livro-filme”, espécie metafísica também imaginada pelo poeta Stéphane Mallarmé, quando pensou seu livro mítico: um “livro de imagem”, só da Imagem, além do fluxo limítrofe das páginas.
É o que designa título francês (“Le Livre d”Image”) de “Imagem e Palavra”. Em Godard, o livro-limite está carregado pelo peso do mundo, levando nas costas o fardo da atualidade, da política e da representação do poder. Termina numa sequência de dança conhecida da história do cinema: num dos episódios do longa “Le Plaisir”/1952, de Max Ophuls, mostra o momento no qual o que vem da vida e nela pulsa, emerge com a intensidade do dançar e subitamente para, num final brusco e absoluto, em meio ao movimento frenético. Um corpo (Jean Galland) se estatela no chão com a violência da morte. O belo contra-campo de olhar de Gaby Bruyère (a dançarina que acompanhava Galland formando o par na valsa), indo na direção do corpo que deixa o auge da alegria, é a última imagem, aquela que finda, “Imagem e Palavra”.
A intensidade e brutalidade do nada na morte, deslizam pelo tato da imagem no dedo recorrente de Bécassine, que pedindo silêncio atravessa o filme. É antecedida, neste momento, pela imagem inicial de “Cidadão Kane” (Welles, 1941): “No Trespassing”, estampada em primeiro plano na trama wellesiana. O “livro de imagem” de Godard também não consegue escapar nem penetrar, pois fica no de fora – e teríamos de começar por aí, neste ponto cego da escritura do filme que finda numa imagem negra e numa voz sem campo, falando de sua irremediável “mise en abyme”: “lorsque que je me parle à moi-même je parle la parole d”un autre que je me parle à moi-même” (“quando falo a mim mesmo digo a fala de um outro que eu falo a mim mesmo”).
*Fernão Pessoa Ramos é professor titular do Departamento de Cinema da Unicamp