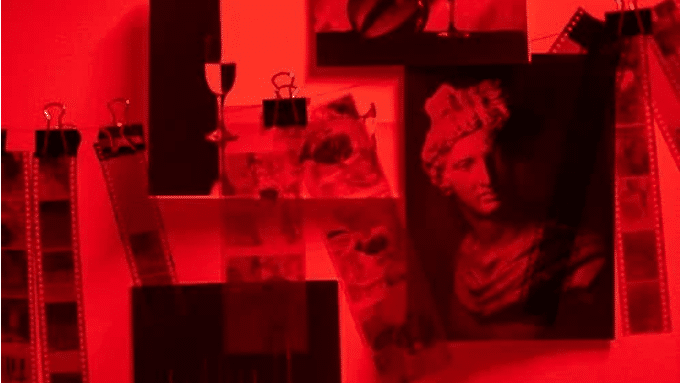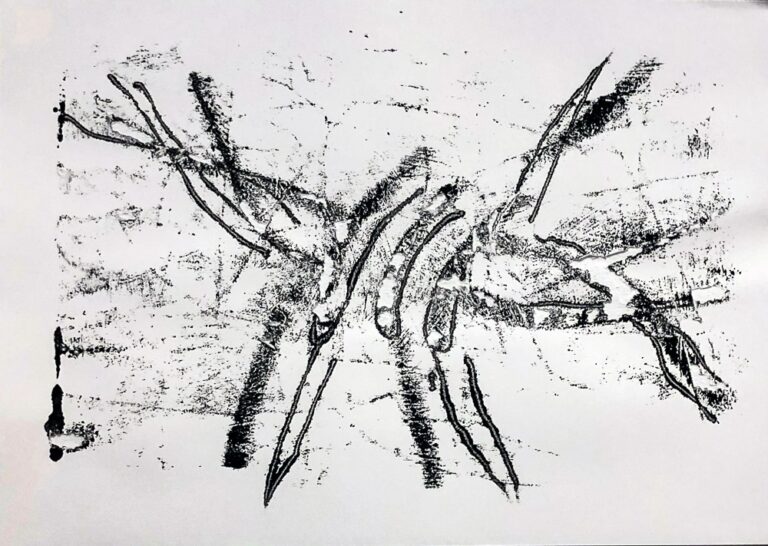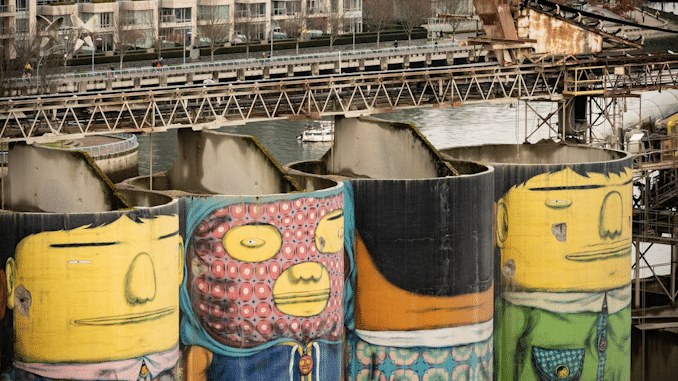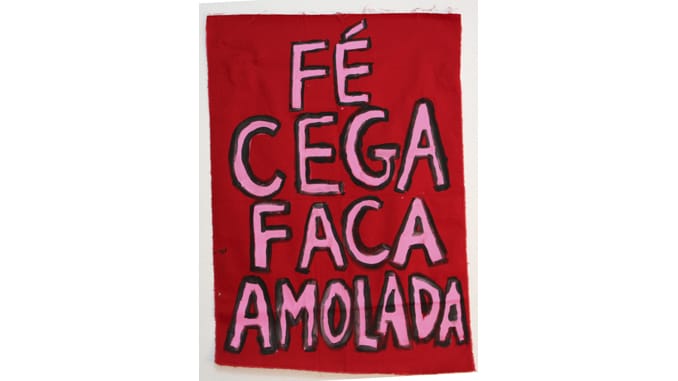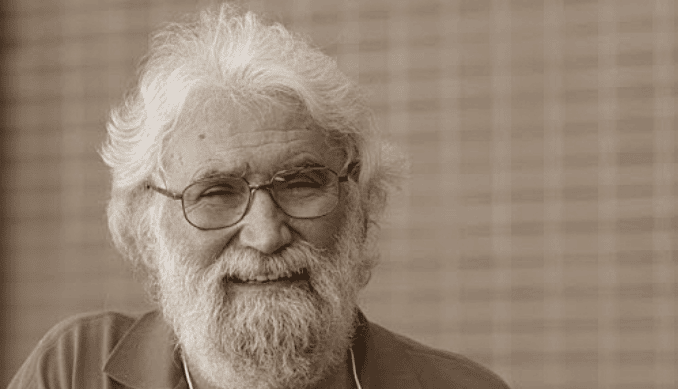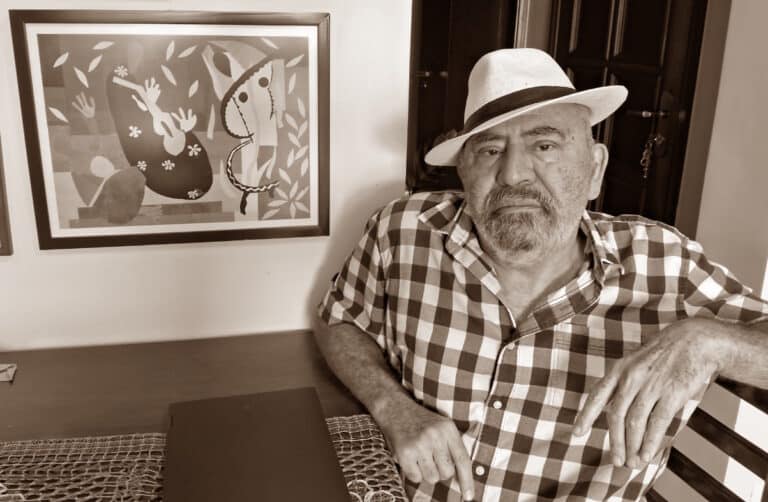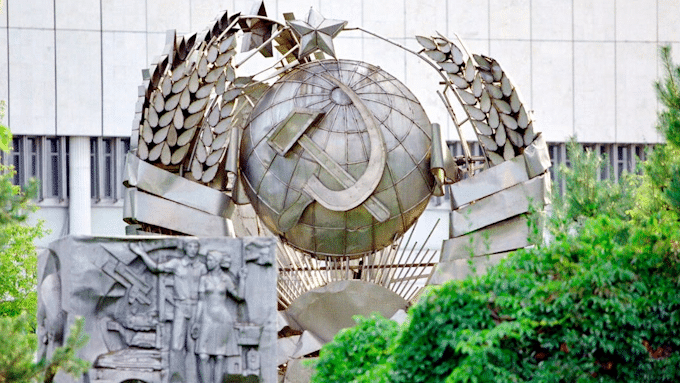Por Rubens Figueiredo*
Comentário sobre a novela de Lev Tolstói
A imagem de um escritor consolidada em ensaios e enciclopédias revela tanto sobre a época desses textos quanto sobre a obra a que se referem. Ainda mais quando se trata de uma obra de raiz polêmica, a exemplo do escritor russo Liev Tolstói – polêmica à qual os desdobramentos históricos do século XX imprimiram um significado e um alcance ainda mais complexos.
Prende-se a isso o fato de ser quase impossível encontrar um texto a respeito de Tolstói em que não sobressaiam as expressões “moralista” e “pregador religioso”. Da mesma forma, é raro não topar com uma descrição da sua obra que não suponha uma divisão bem definida em duas fases: a primeira, de escritor, romancista esmerado, e a segunda, de doutrinador religioso.
Claro que há dados capazes de respaldar tais esquemas. Todavia o peso decisivo conferido a esses dados implica a subtração de outros elementos, tanto da biografia quanto da obra de Tolstói. À luz disso, aquela imagem passaria a ser vista, no mínimo, como uma simplificação e, na pior hipótese, como uma manipulação ideológica.
É o caso do livro Dostoiévski ou Tolstói, de George Steiner. No final do seu estudo, o crítico vai ao ponto de afirmar que o Grande Inquisidor, no romance Os irmãos Karamázov de Dostoiévski, traça na verdade um retrato de Tolstói – convertido por Steiner numa espécie de patriarca das chamadas utopias totalitárias.
Apesar de tudo, essas interpretações apontam para algo importante: a inconformidade, patente nas obras de Tolstói, com o padrão de desigualdade social vigente na sociedade russa; e também a inconformidade com as formas capitalistas que vinham sendo introduzidas na Rússia de modo acelerado e traumático. Por outro lado, elas pecam ao suporem, nos pontos de vista do escritor, uma estabilidade, uma coerência e um caráter sistemático que jamais tiveram. A leitura de seus livros, com personagens marcados por hesitações e mudanças de ânimo repentinas, por inquietações intelectuais e experiências afetivas tão diversificadas, poderia nos deixar precavidos contra aquelas esquematizações, se não fosse talvez o filtro das apresentações e dos prefácios, que repisam a imagem de um Tolstói doutrinador.
Mas há um fator de outra natureza que pesa também nessa “tradução” de Tolstói para os nossos tempos e para a nossa geografia. Trata-se do prestígio da noção de que arte literária desfruta uma autonomia peculiar em relação à experiência histórica e de que, em última instância, o real se esgota na linguagem e na ficção.
Essa noção não era estranha à época e ao país de Tolstói. Porém, nas condições da sociedade russa – censura, desigualdade brutal, massas analfabetas, persistente sentimento de atraso em face da Europa ocidental –, a tese se mostrava simplesmente inviável. Pior ainda, vista do ângulo da Rússia, ela ressaltava um perfil hipócrita. Até a “indiferença” preconizada pelo contista e dramaturgo Anton Tchekhov adquiria, de pronto, um sentido político. Essa é raiz do cunho polêmico que nutre toda a literatura russa e também a fonte do seu vigor, de sua abrangência e do seu alcance duradouro.
A maneira mais fiel de descrever o caso de Tolstói seria dizer que ele se colocava na posição em que a tensão e o antagonismo eram mais intensos e em que era preciso vivenciar o conflito. Mas não como um jogo intelectual. Não pelo gosto do conflito em si. Não pela suposição de que a dor purifica e o conflito aprimora. A opressão e a exploração grassavam ao redor de Tolstói e, desde Infância e os Contos de Sebastópol até o romance Ressurreição, de 1899, ele se mostrou preocupado em não perder isso de vista. Subjacente, está a aspiração – que não era uma particularidade sua, mas da sociedade à sua volta – de uma solução efetiva. As obras de literatura valiam como experiências de pensamento, em estreita aliança com outras modalidades de discurso. Entre elas, a religião.
Com isso em mente, a leitura da novela Felicidade conjugal pode adquirir outro teor. Escrita em 1859 quando Tolstói tinha 31 anos, ela já exprime sua insistência de se pôr no lugar de um outro, vivenciar uma perspectiva alheia. Essa insistência o levará a buscar a perspectiva não só de personagens de outras classes sociais e de outras culturas, mas também de animais e até de plantas (por exemplo, o conto “Três mortes”).
Felicidade conjugal é narrada do ponto de vista de uma adolescente, herdeira de uma rica propriedade rural. Ela conta seu noivado e seu casamento com um homem mais ou menos com o dobro da sua idade, amigo do seu falecido pai. A novela acompanha uma experiência de poucos anos, em que o conceito romântico de amor passa por duras provas, até se exaurir. Os meandros das angústias da jovem compõem páginas em que Tolstói faz valer sua fama de observador sagaz, mas também – é importante frisar – aberto ao contraditório.
Na raiz das agruras da narradora está a relação de dominação que preside o casamento. “Meus pensamentos não são meus, mas dele”; “ele precisa humilhar-me com sua tranquilidade altiva e ter sempre razão contra mim”; “este é o poder do marido – ofender e humilhar uma mulher sem nenhuma culpa”; “precisava apresentar-se perante mim como um semideus num pedestal”.
Outro foco de conflito na novela reside no contraste entre o campo e a cidade. Em São Petersburgo, a jovem se vê assediada por apelos e atrativos, corporificados em festas e bailes, na vida social da elite. O caráter excitante dessa experiência se manifesta na forma de uma contínua renovação de desejos e vontades – compras, visitas e contatos sociais e afetivos.
A cidade é a porta da modernização, da introdução do capitalismo incipiente, ao passo que o campo preserva os traços pré-capitalistas, mas também, e por contraste, sugestões de uma possível vida alternativa.
Os versos de Liérmontov citados pelo marido (“E o insensato quer tormenta, como se nela houvesse paz”) supõem uma crítica ao que a cidade representa. Contudo é na cidade que a jovem consegue se desvencilhar da influência moral do marido, “que me esmagava”, diz ela, e consegue se equiparar ou mesmo “colocar-me acima dele”. “E assim amá-lo ainda mais”, conclui a jovem – um bom exemplo da dinâmica narrativa de Tolstói, que prima por transformar uma possível solução num novo problema.
Rubens Figueiredo, escritor e tradutor, é autor de O livro dos lobos (Companhia das Letras).
Referência
Lev Tolstói. Felicidade conjugal. Tradução: Boris Schnaiderman. Editora 34, 124 págs (https://amzn.to/45BRBb5).
Artigo publicado originalmente no Jornal de Resenhas