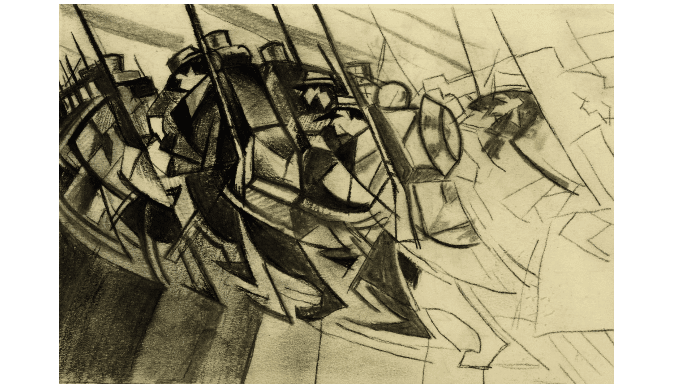Por SÉRGIO EDUARDO FERRAZ*
A estratégia do presidente Lula em relação ao Banco Central e à política monetária
Busco, neste texto, refletir sobre a pertinência política da estratégia do presidente Lula, no começo do seu terceiro mandato, em relação ao Banco Central e à política monetária. Mostro, de início, os desafios inéditos que Lula superou nos últimos cinco anos, incluindo aí aqueles que emergiram no período mais recente transcorrido entre sua vitória em outubro e o infame 8 de janeiro de 2023. Contrasto essa série de êxitos com o desempenho dissonante na área econômica, elencando as razões que justificam essa avaliação crítica.
Enfatizo, como ponto principal do argumento do texto, que Lula, e o próprio PT, correm o risco de contribuir para o fracasso de um percurso, modesto, mas realista e disponível, capaz de levar a economia do seu atual desaquecimento para uma retomada, sem que demonstrem possuir plano alternativo. Antes de esboçar, na última parte deste artigo, em linhas gerais, esse percurso, que emerge a partir de indicações tanto da equipe econômica liderada por Fernando Haddad como da avaliação da maior parte dos analistas do cenário político-econômico, doméstico e global, busco mostrar que, do ponto vista substantivo, as críticas de Lula à autoridade monetária, ao seu modelo de autonomia e ao próprio papel proeminente do mercado financeiro no debate de política econômica devem ser objeto de desdobramento, pois há muito a se refletir sobre todas essas temáticas. O reconhecimento disso não contradiz, no entanto, a defesa pelo texto de que Lula não é o agente apropriado para liderar esse debate.
Os desafios vencidos por Lula
Provavelmente, não há comparação do ponto de vista histórico. Ao menos no Brasil, nenhum político, candidato à presidente, presidente em exercício ou efetivo passou pelas dificuldades em série que Lula enfrentou e venceu. Preso em 2018, desmoralizado e estigmatizado, decretou-se sua morte política, o que não o impediu de ressurgir em 2022 como único nome capaz de defender a democracia ameaçada. Candidato, enfrentou a campanha mais desequilibrada desde a redemocratização de 1988, e, ainda assim, se elegeu pela terceira vez presidente.
Já eleito, mas antes de tomar posse, diante do abandono do cargo por Jair Bolsonaro, teve que governar sem caneta e negociar a aprovação de uma PEC (a da “Transição”) sem a qual a herança de desordem e caos legada pelo desgoverno anterior impediria não só o cumprimento de promessas centrais da campanha – como o Bolsa-Família de 600 reais –, mas também o funcionamento mínimo da máquina pública no início do futuro mandato, inviabilizando na largada a nova presidência.
Presidente em exercício, com apenas oito dias no cargo, sofreu, no domingo infame de 8 de janeiro, uma tentativa de golpe de estado, a qual não somente foi capaz de superar – aglutinando na resistência todos os outros Poderes, a Federação e a maior parte da sociedade civil –, mas o fez de modo a evitar também armadilhas que se embutiam, qual sinistras bonecas russas, naquela empreitada de terror.
De imediato, a cilada que conduziria à tutela das Forças Armadas, que teria sido o resultado da operação de GLO que teve a sabedoria de rejeitar, ainda em meio ao vandalismo e à barbárie em Brasília, e, na sequência, a convivência forçada com um comandante do Exército que, decidido a proteger os que praticaram a violência e a blindar a óbvia participação de militares no 8 de janeiro, bloquearia qualquer tentativa, mesmo modesta, de “desbolsonarização” da corporação. Demiti-lo foi o sinal claro de que as relações entre civis e militares teriam que se adequar ao veredicto das urnas.
Os primeiros dias de governo, também confrontaram o novo presidente com a ameaça, avançada, de extermínio dos Yanomami, obrigando a deflagração de uma operação de guerra na fronteira norte contra a indústria criminosa e genocida do garimpo patrocinada por Jair Bolsonaro. A isso tudo se somou agilidade suficiente para empreender viagens internacionais e contatos estratégicos com várias lideranças mundiais, que não só reintroduziram o Brasil na cena internacional, mas funcionaram como reforço estratégico à tarefa em curso de salvar a democracia, além de alinharem o país no lado certo da peleja pela preservação ambiental e contra as piores consequências do colapso climático planetário.
É impossível minimizar, portanto, o tamanho dos desafios imediatos e a quantidade de acertos do novo governo, e de Lula pessoalmente, ao enfrentá-los, da eleição às primeiras semanas no poder.
E é aqui que entra uma nota – importante – de dissonância. Na economia, passados mais de dois meses e meio de governo, a história parece diferente.
A nota dissonante na economia
Mesmo tendo disponível, a perspectiva de um percurso, modesto mas real, para transitar do desaquecimento em curso da economia para a desejada retomada, o governo se apresenta, nesse assunto, dividido, vacilante e sem norte firme. O ministério da Fazenda, a quem cabe a formulação das políticas e a condução das medidas nessa área, possui um plano de ação (embora ainda não tornado de todo público), mas arrisca perder seu capital político, e enfraquecer-se, antes mesmo de serem iniciadas as batalhas importantes nessa seara, exatamente por falta de respaldo interno.
A isso se soma o fato de que a direção do PT, principal partido da coalizão de governo, não vê contradição em atacar o ministro Fernando Haddad, a exemplo do que se viu na disputa sobre a reoneração dos combustíveis, como se isso não afetasse a disposição do restante da (ainda incerta) base aliada em sustentar as medidas econômicas por vir, muito mais complexas e de difícil negociação, e das quais depende o sucesso do governo de gerar renda e emprego para a população brasileira.
O que causa maior preocupação, na área econômica, é que o próprio Lula tem se colocado, involuntariamente, nesse início de mandato, em uma posição desestabilizadora do seu governo.
Abrindo “guerra” contra o Banco Central autônomo e sua política monetária, o presidente, além de se afastar do papel natural de “árbitro” que o cargo sugere, engendra consequências na economia que são o exato oposto do que pretende. De dezembro para cá, e em particular com a escalada de declarações presidenciais, a partir de meados de janeiro, as expectativas de inflação não cessaram de aumentar, o câmbio se deteriorou e a curva de juros (as taxas para diferentes prazos no futuro) se tornou mais inclinada, sinalizando financiamento mais caro para o crédito privado e para a dívida pública, piorando as perspectivas fiscais do governo e o horizonte do investimento, vital ao crescimento.
Com isso, o espaço para o Banco Central (BC) iniciar a aguardada redução dos juros se reduziu, na avaliação de muitos analistas. O começo do corte das taxas pelo COPOM, previsto pelo mercado, em novembro passado, para março, é visto agora como provável apenas no final do ano ou mesmo no início de 2024.
É verdade que as indicações crescentes de que a economia vem se enfraquecendo, somadas ao receito de uma crise de crédito, na esteira do caso das Americanas, pressionam no sentido do relaxamento da política monetária em um prazo mais curto. E que há economistas importantes, a exemplo de André Lara Resende, um dos inventores do Plano Real, que discordam de que o Banco Central seja completamente “pautado” pelo mercado e suas expectativas, inclusive quanto à estrutura a termo das taxas de juros, sugerindo que a autoridade monetária possui manobra maior diante do mercado e que deveria utilizá-la.
Até aqui, no entanto, o que se tem, é um aumento do pessimismo, entre a analistas consultados pelo Banco Central, sobre as possibilidades de corte na taxa básica de juros ainda em 2023. Se, no início de fevereiro, 25% apostavam que os juros não iriam cair até o fim do ano, um mês depois essa proporção alcança 36% entre os especialistas consultados, como informa o jornal Valor econômico (7.03.2023), e é praticamente unânime entre os observadores desses movimentos a avaliação de que as declarações presidenciais críticas ao Banco Central e ao nível das metas de inflação são um dos fatores responsáveis por essa deterioração de expectativas.
É possível, portanto, que a estratégia do Planalto para apressar o crescimento econômico não esteja bem calibrada.
Lula até pode estar querendo informar à população que ele não é o responsável pelos juros escorchantes e por previsíveis dificuldades futuras na economia, transferindo a culpa para a direção do Banco Central, nomeada por Jair Bolsonaro. Compreensível. Sobretudo, porque se trata da primeira experiência em que um presidente assume o cargo tendo de lidar com um Banco Central autônomo e com mandato. No entanto, ao vocalizar suas críticas de um modo agressivo, cobrando soluções imediatas, e sem maiores cautelas, arrisca desferir um tiro no próprio pé e nas perspectivas de crescimento de que tanto necessita.
E sem necessidade, pois haveria muitos outros agentes que poderiam desempenhar esse mesmo papel crítico, sem provocar a turbulência, e a reação negativa em preços-chave para a economia, que uma fala presidencial dessa natureza tende a suscitar.
Mas, antes de averiguar o percurso disponível para a política econômica do novo governo nesse início de mandato, vamos ver no que Lula, no mérito, tem razão, nessa polêmica com o Banco Central. Não é pouca coisa.
Há, sim, muito a ser discutido
Para início de conversa, o Brasil tem, sim, a taxa real de juros mais alta do mundo, girando hoje em torno de 8%, depois de descontada a inflação prevista (taxa ex-ante). Essa situação, embora com variações ao longo do tempo, vem sendo uma característica central da economia brasileira desde a estabilização monetária, em meados dos anos 1990.
São muitas as dificuldades que o crédito caro traz ao país, entre as quais se salientam o crônico patamar insatisfatório de crescimento e de geração de emprego, o câmbio sobrevalorizado, que trava as exportações, e o desequilíbrio fiscal que produz nas contas públicas, colocando em risco a sustentabilidade no tempo da dívida pública. A rigor, desde o Real, trocamos, em uma certa medida, ritmo de crescimento por estabilização inflacionária. Nem lembramos mais que crescíamos a taxas “chinesas” entre 1930 e 1980.
Lula tem razão em insistir que não se naturalize esse cenário e em estimular discussão sobre o assunto. É ponto crucial da agenda pública compreender as razões dessa anomalia – pois países com conflitos muito mais severos do que o Brasil, situação fiscal mais precária, estoque de dívida mais elevado e potencial de recursos mais modesto convivem com taxas reais de juros mais reduzidas. É vital traçar um caminho para que se supere, gradualmente, o problema. É matéria, entretanto, que exige reflexão, cautela, perícia técnica e decisões políticas oportunas e bem calculadas. E que não combina nem se dobra à bravata e à retórica.
O modelo de autonomia do Banco Central (BC) também está longe de ser infenso a críticas. Desenhado do jeito que está, pode ganhar distância das diretrizes de política econômica do governo de turno – o que pode ser positivo ou nocivo, dependendo das circunstâncias, dos diagnósticos e das orientações correspondentes postas em prática pela Fazenda e pela autoridade monetária diante das conjunturas. O que é certo, contudo, é que, talhado no molde atual, o modelo corre risco considerável de se aproximar excessivamente, e por vezes exclusivamente, dos ditames do mercado financeiro.
É de lá que costumam, nas últimas três décadas, ser recrutados, presidentes e principais diretores do Banco Central, como demonstrou pesquisa recente coordenada pelos cientistas políticos Adriano Codato e Mateus de Albuquerque. Trazem, naturalmente, esses formuladores da política monetária, pinçados de grandes bancos e de gestoras de ativos, uma cultura específica, um modo de ver o mundo alinhado com os valores privatistas do mercado e, adicionalmente, costumam, ao final dos mandatos, retornar aos seus postos no setor privado, no fenômeno perverso, não alheio a outras áreas regulatórias, da “porta giratória”, o que, por óbvio, condiciona seus comportamentos enquanto agente públicos.
Não há por que pensar que tenha que ser assim. Há várias medidas que poderiam melhorar em muito as fragilidades desse modelo, tornando a gestão da política monetária mais aberta e equilibrada, calibrando influências mais diversas e dificultando a emergência de conflitos de interesses. Ponto, portanto, novamente, para quem deseja que se discuta a questão.
Em terceiro lugar, a suposição de um único nível “ótimo” de inflação, que informa os modelos de metas perseguidos pelos Bancos Centrais, pode ser questionada na medida em que decisões de política monetária geram efeitos de redistribuição, não sendo “neutras”, em suas implicações para os diversos segmentos da sociedade, nem, por conseguinte, impavidamente “técnicas”. Há ganhadores e perdedores, em função das políticas adotadas, ao contrário do que reza a doutrina convencional, não por acaso cada vez mais posta em xeque nos países centrais pelo menos desde a grande crise de 2008.
Basta pensar nas diferentes possibilidades de “custo de desinflação”, em termos do tamanho projetado de uma desaceleração/recessão, ou nas implicações embutidas nas estipulações de prazos para o retorno a uma meta de níveis de preços que tenha escapado aos intervalos admissíveis. Nos dois casos, provavelmente as autoridades monetárias se defrontam com leques distintos de alternativas, os quais, ao fim e ao cabo, podem significar a sobrevivência ou a liquidação de dezenas de milhares de empresas e de milhões de postos de trabalho em uma economia do tamanho da brasileira. Podem significar, também, reconheça-se, um retorno à estabilidade monetária em tempo hábil ou o ingresso em uma espiral inflacionária, com as consequências danosas que os brasileiros que já eram adultos na primeira metade da década de 1990 conhecem.
Um outro ponto é que a própria missão atribuída, pela lei brasileira de autonomia ao Banco Central, enfatiza a manutenção da inflação em intervalos de variação estipulados, a serem alcançados em um determinado prazo, pondo em segundo plano, ao contrário das normas que vigoram em outros países, objetivos relacionados ao crescimento da economia e ao emprego. A missão do FED norte-americano, distintamente, equipara em importância ambos os propósitos. Há espaço, portanto, para redesenhar missões nessa matéria equilibrando melhor os objetivos.
Mas ainda há outro aspecto nesse assunto que é crucial mencionar. Ele não se relaciona especificamente com o Banco Central e seu modo de operação, mas envolve a questão de como a sociedade brasileira, através da grande mídia, foi incentivada a enxergar o próprio mercado financeiro – basicamente, como um conjunto de especialistas capazes de imprimir selos de qualidade a políticas públicas.
Há pelos menos vinte anos, os principais comentaristas econômicos brasileiros – os que atuam nos principais veículos de mídia – se alinharam de tal forma com a visão sobre a economia dos analistas e operadores do mercado financeiro que este último passou a ser visto, na prática, como a instância autorizada de julgamento definitivo da qualidade da política econômica executada pelos governos.
Tudo se passa, e assim é reproduzido há décadas, como se não estivéssemos diante de um setor da economia que atua visando maximizar sua própria lucratividade, dependente da solvência fiscal do Estado, com um viés acentuado de curto prazo – o que, diga-se, está dentro das regras de uma economia capitalista. O que é inusitado, entretanto, é tomar a visão desse segmento, que naturalmente reflete seus interesses como credor da dívida pública, como o marco de julgamento capaz de legitimar ou deslegitimar, de modo irrecorrível, quaisquer propostas de política econômica, venham elas de governos, da universidade ou de outros especialistas.
Ao fazer isso, renuncia-se ao debate e à discussão como regra geral de interação pública na abordagem de assuntos que interessam a todos, entregando-se a tarefa de definir o que é pertinente ou não, em termos de política econômica, a uma das partes interessadas. Não é exagero dizer que isso é um despropósito completo e que abrimos assim o caminho para que a agenda pública passe a ser definida pelos interesses de apenas um setor – bem poderoso, aliás – da sociedade. Ponto de novo para quem defende que se coloque o dedo na ferida.
Fecho esse tópico com uma observação mais específica. O comportamento de quem preside a autoridade monetária, responsável pela execução de uma função de Estado, detentora de mandato e desvinculada dos governos de ocasião, precisa ser coerente. E faz parte do jogo cobrar essa postura. Roberto Campos Neto errou claramente, se afastando do papel que lhe é atribuído legalmente, ao manifestar preferência partidária, indo votar vestido com a camisa da seleção brasileira nos dois turnos presidenciais.
E errou novamente ao participar de grupo de WhatsApp de ministros do governo de Jair Bolsonaro. Por outro lado, é de se reconhecer que, em sua gestão, o BC elevou as taxas de juros de 2 para mais de 13 por cento, entre 2021 e 2022, portanto no período em que o ex-presidente que o nomeou se candidatou à reeleição. Há também aqui o que se discutir.
Existe, assim, vasta matéria para o debate na sociedade. Lula tem razão ao cobrar a discussão. Erra somente quando assume a linha de frente dessa tarefa e dá a impressão de reclamar respostas imediatas. E esse equívoco é mais preocupante porque colide com o percurso, modesto mas real, de retomada do crescimento disponível para o novo governo.
Qual percurso?
O percurso que parece estar disponível exige uma atuação coordenada entre a área econômica do novo governo, liderada pelo Ministério da Fazenda, e o Banco Central, uma vez que requer sintonia entre as políticas fiscal e monetária. A tarefa ganha em complexidade, já que Fernando Haddad é o primeiro chefe de equipe econômica que tem que coabitar com um Banco Central autônomo, nomeado pelo governo passado. Ele entendeu com rapidez as implicações desse novo cenário e tem buscado sustentar um canal permanente com Roberto Campos Neto, que tem mandato até 2024 à frente do Banco Central. Essa relação não será simples e envolverá momentos de convergência e outros de tensionamento. O segredo estará em evitar esgarçamentos excessivos que sinalizem colapso na comunicação. Divergências e visões distintas estão na conta, queimar as caravelas de uma coordenação mínima, não.
Em um cenário em que a economia brasileira desacelera, vencidos os efeitos dos incentivos eleitoreiros de curto prazo a que Jair Bolsonaro e Paulo Guedes apelaram na busca afinal fracassada da reeleição, mas mantém ainda níveis de inflação afastados da meta, e em que o contexto global engendra sinais contraditórios – sem que se saiba se a volta da China à normalidade econômica compensará a puxada de freio em curso no ritmo das economias dos Estados Unidos e da União Europeia –, o percurso disponível, é importante sublinhar, acena com resultado modesto em 2023, abrindo possibilidade de crescimento mais substantivo apenas para 2024.
As etapas que estruturariam esse caminho compreendem medidas fiscais, de diferentes graus de complexidade técnica e política, da parte do governo que, se bem formuladas e encaminhadas, podem afetar positivamente as expectativas do mercado, quanto à inflação e à trajetória da dívida, e incrementar o potencial de crescimento de médio prazo da economia brasileira. Essa concretização de um programa econômico por parte do novo governo, ao lado do aprofundamento da percepção da desaceleração em curso, abriria caminho para o início do afrouxamento da política monetária, o que estimularia, por sua vez, em um efeito de sinergia, o investimento produtivo e facilitaria a administração da dívida pública, resultando em fortalecimento da posição fiscal do governo.
Se somarmos a esse manejo concertado das dimensões fiscal e monetária um cenário externo pelo menos “neutro”, e algum começo de aporte de investimentos externos – fruto da volta do país ao cenário internacional e de eventuais oportunidades geradas pela descarbonização, transição energética, alinhamento da política ambiental, e reestruturação, com viés regional, das cadeias globais produtivas –, podemos imaginar um percurso, lento mas efetivo, de retomada do crescimento em bases sólidas, cujos sinais estariam visíveis em meados de 2024.
Politicamente, é verdade, temos uma combinação delicada: se tudo correr mais ou menos bem, resultados, ainda modestos, emergirão em um horizonte de cerca de dezoito meses; as tarefas que nos podem conduzir a isso, no entanto, são imediatas e todas são “pedreiras” do ponto de vista político, ou seja, envolvem conflitos, em múltiplas dimensões, envolvendo (e afetando, em termos de custos, inclusive) atores poderosos.
Não é o caso, no espaço deste texto, de aprofundar o ponto, mas a mera enunciação dos projetos que terão que ser submetidos pelo governo ao Congresso para, depois de desafiantes negociações, virem a ser implementados, fala por si, destacando-se o novo arcabouço fiscal – que substitui o desmoralizado teto de gastos criado em 2016 no governo Temer – e a reforma tributária, que terá uma etapa de unificação dos impostos indiretos e outra que se voltará para a tributação sobre a renda e o patrimônio.
Não é preciso gastar tinta para salientar que essas duas matérias mexem não só com o chamado “andar de cima”, mas com toda a estrutura federativa (União, Estados e Municípios), mobilizando as principais forças políticas do país. Demandam comunicação competente, uma vez que, afetando o bolso da população, e das elites, serão um prato cheio para uma oposição que domina como ninguém o ecossistema da desinformação. E terão que ser votadas, vale lembrar, por duas casas legislativas onde o governo, como anunciou na primeira semana de março o presidente da Câmara reeleito com mais de 400 votos, deputado Arthur Lira (PP-AL), não consolidou maioria sequer para votar “matérias simples”, estando muito distante de deter base consistente para aventurar vitórias em temas que exigem maiorias qualificadas ou mesmo quóruns constitucionais.
“Pedreiras” políticas não são inexpugnáveis, mas exigem, no mínimo, liderança política com visão clara de propósito e uma coalizão disciplinada para sustentar os objetivos pactuados. A estratégia de Lula de atacar o Banco Central e exigir alteração imediata na política monetária, embora possa funcionar como um modo de transferir responsabilidades, indica um alheamento perigoso da principal liderança do país, e do novo governo, em relação ao percurso factível para retomar o crescimento.
O conflito aberto entre a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no caso da desoneração dos combustíveis, tópico trivial quando comparado ao que terá que ser discutido em poucas semanas, sugere ausência de solidariedade e coesão no principal partido da coalizão de governo.
Não há chance dos pré-requisitos do percurso esboçado pela Fazenda serem cumpridos sem a liderança do presidente da República e o comprometimento do principal partido da coalizão. Se o PT não assumir custos políticos, não será Arthur Lira nem o “Centrão” que o farão em seu lugar. Pelo contrário, um governo enfraquecido, que desperdice o caminho, estreito mas real, para a organização de uma retomada da economia, restaurará o terreno dos sonhos para os inventores do orçamento secreto capricharem em sua vocação predatória do erário e das estruturas de governo, para não falar no perigo, que se potenciará, de uma vitória em 2026 de alguma liderança associada à extrema direita.
Sem alternativa para lidar com os desafios econômicos, desperdiçado o percurso hoje disponível, correrá o risco de atuar em um pêndulo contraproducente: indo do voluntarismo mais acentuado, na tentativa de fazer andar em marcha forçada a economia que, depois de fracassado, não deixará ao governo outra alternativa senão a rendição, sem condições, aos ditames do mercado financeiro.
*Sérgio Eduardo Ferraz é doutor em ciência política pela USP.
O site A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
Clique aqui e veja como