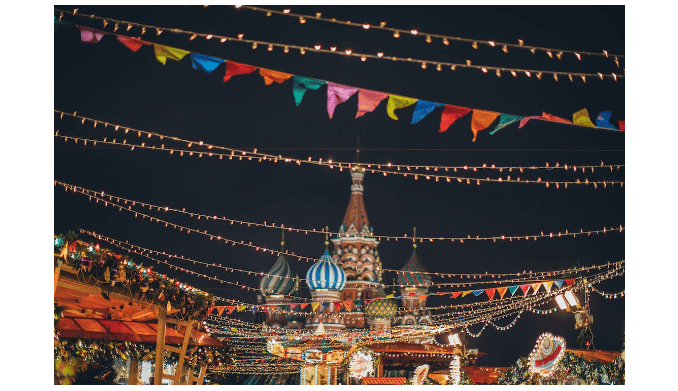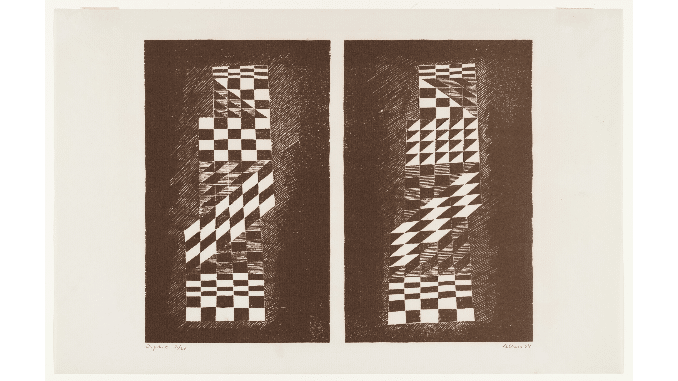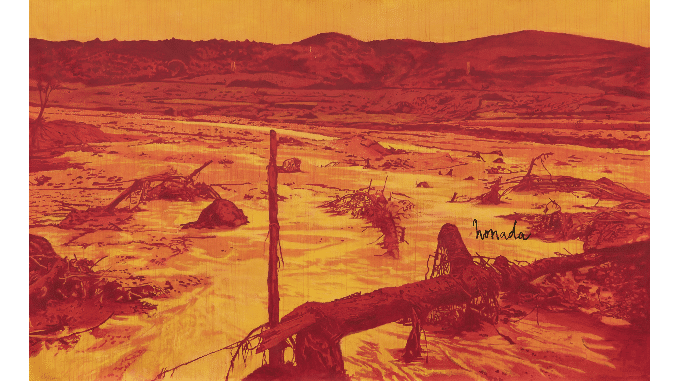No Brasil, as ações de promotores e procuradores são guiadas mais por convicções individuais do que por demandas e necessidades da população
Por Fábio Kerche e Rafael Viegas*
Instituições moldam comportamentos, possuem certa estabilidade no tempo e estruturam regras formais e informais conhecidas e compartilhadas por seus membros. Instituições possuem instrumentos para incentivar certos comportamentos e desestimular outros, diminuindo a chance do acaso, garantindo certa previsibilidade, independente de quem ocupe os cargos na instituição. No tipo ideal das instituições, a opinião de seus integrantes seria secundária, já que estes se submeteriam a procedimentos e prioridades decididas pela chefia ou pelos políticos.
No mundo real, entretanto, a relação das instituições com seus membros não é tão previsível e harmoniosa. Inevitavelmente existe tensão entre interesses individuais e da direção, além de divergências com atores externos. Para que haja um alinhamento, são necessários incentivos na carreira, sanções para os desvios e mecanismos para monitoramento das atividades.
O Ministério Público no Brasil, pós Constituição de 1988, seria de tal monta livre desses incentivos institucionais que é quase o caso de pensarmos numa “não-instituição”. Prioridades e estratégias do MP, aparentemente, são dadas pelos próprios promotores e procuradores, moldadas por fatores externos à organização, como origens de classe, faculdades de direito e por outros mecanismos não formais.
Nessa perspectiva, o livro de Julita Lemgruber, Ludmila Ribeiro, Leonarda Musumeci e Thais Duarte, Ministério Público: guardião da democracia brasileira? (Fortaleza, CESec) que apresenta uma pesquisa quantitativa e qualificativa junto aos integrantes do MP, ganha importância porque a opinião dos promotores e procuradores é relativamente mais relevante do que em outras organizações estatais estruturadas hierarquicamente.
Com a nova Constituição, promotores e procuradores “passaram a ter como balizas apenas “a lei e a consciência”, tendendo as ações a guiar-se mais por convicções individuais, pela experiência adquirida em certas áreas de trabalho e pelas opções feitas durante a vida profissional do que primariamente pelas demandas e necessidades da população assistida ou por uma padronização institucional assegurada por regulamentação específica” (p. 27).
A instituição pouco hierárquica apresenta como resultado de suas práticas alta fragmentariedade, ao ponto de colocar em dúvida a noção de unidade institucional. O estágio em que o membro do MP se encontra na carreira profissional e as diferenças de perfis, inclinações ideológicas, posições políticas e expectativas individuais, foram fatores identificados como, aparentemente, decisivos para se entender as diferenças nas prioridades e nos estilos de atuação dos membros do MP. A autonomia aos agentes teria resultado num “cheque em branco” a ser “preenchido de acordo com inclinações e posicionamentos ideológicos ou idiossincráticos dos membros da instituição” (p. 14).
Dos 12.326 promotores e procuradores, a pesquisa recebeu 899 questionários preenchidos apropriadamente. Dos que responderam, a origem social com perfil “elitizado” prevaleceu. “Embora isso não seja necessariamente um empecilho à atuação em prol dos menos favorecidos, pode influir na definição dos interesses prioritários e na percepção da maioria dos promotores e procuradores acerca do seu papel na sociedade” (p. 16). Prioridades não seriam escolhidas pela instituição, por seus líderes ou por políticos eleitos, diga-se de passagem, mas selecionadas de forma individual pelo próprio promotor.
O combate à corrupção, por exemplo, é apontado por 62% como prioridade e a defesa de direitos sociais para idosos, pessoas com deficiência e relativos a gênero não passam de 10%. A maioria quer ser como Deltan Dallagnol, o procurador da Operação Lava-Jato, mesmo que a Constituição não priorize o combate à corrupção em detrimento de outras áreas ou que não haja uma decisão da sociedade nesse sentido. Como o número de promotores e procuradores é escasso, assim como o tempo, escolher um tema como prioritário significa abrir mão de outros.
As autoras poderiam ter explorado mais como a estrutura da carreira poderia criar algum tipo de política institucional decidida pelas instâncias superiores do MP. Afinal, boa parte dos promotores e procuradores, principalmente lotados em posições sensíveis, como nos órgãos do MP incumbidos do controle externo da atividade policial e combate à corrupção, não é titular, mas designada.
Essa designação funcionaria como um estímulo para se seguir uma política institucional? Outro ponto que seria passível de reflexão é se a constante migração de promotores e procuradores para ocupar cargos no Executivo estimularia um alinhamento ao governo. A autopercepção dos agentes, típicas em pesquisas de survey, pode ter escondido a potencialidade desses instrumentos.
O livro, ao manter uma tradição de ouvir a opinião de promotores e procuradores iniciada nos anos 1990 no IDESP, atualiza a visão dos membros do MP, contribuindo para mapear semelhanças e diferenças na opinião desses atores. Em uma instituição tão frouxa do ponto de vista de regras e hierarquia, e, principalmente, pouco transparente, a opinião passa a ser uma ferramenta de análise importante. O livro é peça importante para os estudiosos do Sistema de Justiça no Brasil.
*Fábio Kerche é pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa.
*Rafael Viegas é pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Sociologia Brasileira da UFPR.
Artigo publicado originalmente no site Jornal de Resenhas.