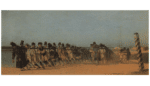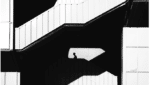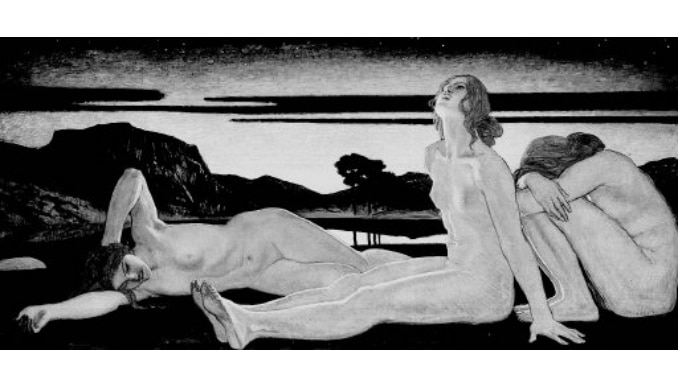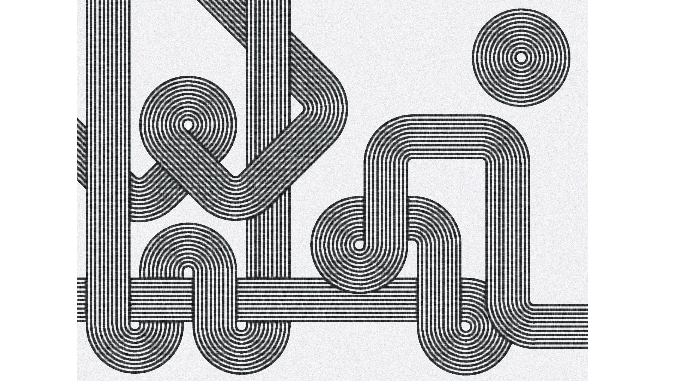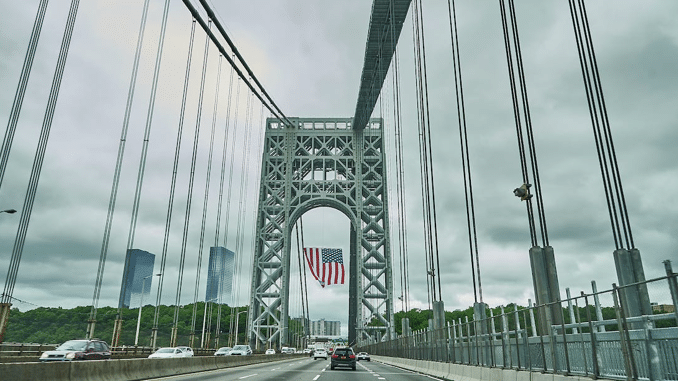Por ANTONIO SÉRGIO ALFREDO GUIMARÃES*
Trecho, selecionado pelo autor, do livro recém-lançado.
Os negros em busca da cidadania1
Se na Europa o nascimento num determinado território e o compartilhamento de certos traços culturais, como uma língua comum, foram condições de primeira hora para a generalização da cidadania no interior dos estados-nação, nas Américas as etnias e, posteriormente, a sua racionalização e percepção como raças, passaram a ser justificativas para garantir a negação desses direitos de cidadania e permitir a continuidade da escravidão ou do servilismo como modo de produção e como relação de trabalho. Aqui, como desenvolvi no capítulo 2, a solidariedade social, ou seja, a promessa aberta de integração racial e étnica pela via da aculturação substituiu o ideal de igualdade social para as massas, uma vez abolida a escravidão e instituída a república como forma de governo.
Vimos também que o processo de construção da cidadania nos países americanos passou por duas etapas: primeiro, a abolição da escravidão; segundo, a construção de um sentimento nacional que incluiu toda a sua população. Só assim os direitos civis, políticos e sociais poderiam vir a ser generalizados para um corpo nacional, seja ele ou não multicultural.
As classes sociais2 são fundamentais nas sociedades modernas porque nessas últimas já não existem os coletivos institucionalizados que monopolizam privilégios, como na Antiguidade ou na Idade Média. Nas sociedades modernas, toda e qualquer mobilização coletiva, fechamento de oportunidades ou monopolização de recursos, deve ser organizada por indivíduos que atuam livremente, como iguais, em mercados. As classes, enquanto coletivos, formam-se e desfazem-se a depender de conjunturas políticas, mas, enquanto estruturas, são permanentes, pois a organização de coletivos sociais é dada pela estrutura socioeconômica e pelo funcionamento dos mercados.
Vistas como possibilidade de acesso ao mercado de bens e serviços, as classes atuam permanentemente, ao definir as chances individuais através da posse de capitais e de seus marcadores (Bourdieu, 1979). A propriedade de ativos financeiros e de imóveis, o domínio da norma culta da língua materna, de línguas universais, de códigos da cultura erudita, a posse do conhecimento científico e de credenciais escolares etc. constituem, pois, elementos permanentes de classificação social e de distinção a relativizar a equalização dos indivíduos em cidadãos.
Nas Américas, as classes sociais seguem historicamente um recorte muito próximo ao dos povos que aqui se encontram (e se mesclam) e que são referidos como raças. A mestiçagem pode confundir essas fronteiras ou acentuá-las (Munanga, 1999). O decisivo para esse jogo classificatório é o modo como se constitui a cidadania, ou seja, a igualdade de direitos entre os indivíduos que compõem a nação. Como as hierarquias sociais se mantêm e se reproduzem no contexto ideológico republicano?
Sigo aqui, de certo modo, as sugestões de Dumont (1960), desenvolvidas para o Brasil por Da Matta (1990), segundo as quais a manutenção de certa hierarquia social impediu que se desenvolvesse explicitamente entre nós uma rígida hierarquia racial, ou seja, a subcidadania da maioria dos negros e mestiços evitou por muito tempo que as raízes raciais da hierarquia social fossem visíveis.
A mobilização dos negros brasileiros em busca da ampliação de sua cidadania, através de diferentes períodos históricos, utilizou-se de elementos retóricos recorrentes. Vejamos.
No Brasil, como em outras partes das Américas, o processo de abolição proporcionou uma onda de reflexão erudita, pseudocientífica, em torno do conceito de raça, cujo resultado foi criar justificativas para a continuada desigualdade social entre europeus e não europeus. os primeiros reivindicavam para si a igualdade cidadã e os direitos políticos, enquanto aos segundos ficavam reservadas as posições subalternas. Como bem observou Dumont (1960), as sociedades modernas americanas elegeram o racismo como justificativa natural para a hierarquia social que permaneceria nas repúblicas liberais.
Diferentemente do que se passou nos Estados Unidos, no entanto, a raça no Brasil não criou para os indivíduos, principalmente os mestiços, obstáculos intransponíveis. Várias explicações foram dadas para tal diferença, que não cabe aqui resenhar. O fato é que a noção mais antiga de “cor”, em torno da qual, na Europa, desde a Antiguidade, se diferenciaram povos e indivíduos, continuou a ter mais importância que as explicações pseudocientíficas baseadas em raça. Ainda que as classificações de cor tivessem sofrido uma espécie de releitura racista erudita e permanecessem doravante com tal substrato, não se desenvolveu no Brasil nem uma classificação racial bipolar, nem emergiram regras classificatórias precisas (Harris, 1956). As circunstâncias e situações sociais permitiriam a manipulação das classificações de cor (Azevedo, 1963).
Tal desenvolvimento estava em homologia com a impossibilidade demográfica e política de se criar uma nação totalmente branca, pelo que quero dizer uma nação apenas com descendentes de europeus não miscigenados e recém-imigrados. A impossibilidade demográfica estava na baixa atratividade do Brasil para as correntes imigratórias europeias do final do século XIX e começo do XX; a impossibilidade política residia na centralidade social e econômica que ganhou parte da população brasileira de origem mestiça, que se autodeclarava branca.
Aqui, talvez valha a pena retomar, ainda que em traços rápidos, as diferenças dos sistemas de classificação racial vigentes nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil, de modo a evitar mal-entendidos e excesso de polissemia. O sistema norte-americano utiliza a regra de hipodescendência, ou seja, descendência traçada a partir do cônjuge socialmente inferiorizado, para traçar os limites dos grupos raciais, que são referidos abertamente como raças. O sistema europeu contemporâneo, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, rechaça o termo “raça” e classifica os indivíduos, seja em termos culturais, etnias propriamente ditas, ou a partir da cor da pele, sem referência a descendência biológica.
O sistema brasileiro também recusava o termo “raça” até recentemente, preferindo o de “cor”, e também não tem uma regra clara de classificação por descendência, mas utiliza outras marcas corporais, tais como cabelo, formato do nariz e dos lábios, para classificar os indivíduos em grupos. Se o termo “raça” era tabu até há pouco, hoje em dia usa-se correntemente o par “raça/cor” em recenseamentos e pesquisas de opinião, assim como no dia a dia se os utiliza como termos intercambiáveis. Pode-se, portanto, dizer, grosso modo, que o sistema estadunidense é o mais fechado de todos, posto que delimita com precisão os grupos de descendência; o sistema europeu é um pouco mais aberto, posto que o critério único de cor da pele permite maior trânsito entre os grupos, ainda que a categoria de pele “escura” possa dar origem a uma espécie de purgatório racial; finalmente, pode-se dizer que o sistema brasileiro, utilizando uma pluralidade de marcas físicas, possibilita a formação de vários grupos raciais entre o branco e o negro.
Por isso mesmo, esse é o sistema que pode tratar a mistura racial como processo, pois é o único que tem os elementos para demarcar as etapas de tal transformação. De fato, a jovem nação republicana adotaria, no auge da moda intelectual do racismo, o discurso do branqueamento gradual de toda a sua população, promovendo a imigração e aceitando a mestiçagem como algo necessário e virtuoso (Skidmore, 1974; Ventura, 1991; Schwarcz, 1993).
Mas a crença no branqueamento era apenas uma das possibilidades abertas pela matriz ideológica que conformou o nascimento da jovem nação sul-americana. Essa matriz é enunciada pela primeira vez, de modo erudito, no Segundo Império, por Carl Friedrich Von Martius, em ensaio de 1838 para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Von Martius chama a atenção para o fato de que a história do Brasil deveria ser escrita levando em consideração que seu povo seria formado pela mistura de três raças – “a cor de cobre ou americana, a branca ou caucasiana, a preta ou etiópica” (Von Martius, [1838] 1956, p. 42).
Três variantes possíveis dessa matriz conheceram desdobramentos importantes para a formação racial negra no Brasil: o embranquecimento, o mulatismo e a negritude.
O embranquecimento da população brasileira surge como corolário da superioridade da raça branca e da civilização europeia, mas como negação das teorias racistas que teorizavam a mestiçagem como degenerescência. Constitui-se, portanto, no primeiro vértice da matriz enunciado por Von Martius, ao pregar não apenas que o povo conquistador imporia a sua língua e a sua civilização, mas também os seus atributos e qualidades raciais sobre os povos colonizados.
Talvez a versão mais bem-acabada dessa versão otimista do embranquecimento esteja na tese apresentada por João Baptista de Lacerda (1911) ao Congresso da Universal das raças, em Londres, em 1911. Segundo essa formulação, a raça negra seria absorvida paulatinamente através da miscigenação, gerando um estoque de mulatos eugênicos, assim como, por fim, através de sucessivos intercruzamentos, esses últimos também acabariam por ser incorporados ao grupo branco. É importante notar, entretanto, algumas outras versões da mesma tese: uma mais pessimista – que entendia ser necessária a substituição da raça negra, via intensificação da emigração europeia, expulsão dos africanos libertos e maior mortalidade natural da raça negra – e outra mais otimista – que encarava o embranquecimento como um processo mais geral, que compreendia não apenas miscigenação, mas também a aculturação e assimilação social de negros e indígenas à cultura luso-brasileira. Em suas três variantes, o embranquecimento é uma ideologia de longa duração, e que limita os avanços da cidadania no Brasil.
A segunda variante surge como um desdobramento mais radical e mais afinado com a proposta racialista de Von Martius. Nessa variante, como resultado da mestiçagem entre indígenas, brancos e negros formara-se no Brasil uma meta-raça. A construção do imaginário de uma nação mestiça, que incluiria a totalidade dos indivíduos livres, foi intensificada pelo movimento abolicionista, e se aprofundou durante o período republicano. essa formulação talvez se constitua no veio mais refinado do pensamento social brasileiro, e encontra seus expoentes, em termos de enunciação, em Joaquim Nabuco e Gilberto Freyre.
Segundo esse pensamento, a liberdade, conquistada pela abolição da escravidão, transmuta-se imediatamente em cidadania, na ausência de preconceitos de raça. As desigualdades sociais remanescentes passam a se ancorar na ordem econômica e cultural das classes sociais. Cabe ao estado incorporar e regular através de políticas sociais o acesso dos cidadãos ao pleno gozo de seus direitos, e promover desse modo a justiça, a educação, a saúde e a seguridade social de todos. O Estado é o único ente civilizador e promotor da harmonia social (Vianna e Carvalho, 2000). Não há lugar, nesse pensamento, para a teoria de Marshall do desenvolvimento da cidadania pelas conquistas de direitos.
Essa variante da matriz vonmartiana seria chamada por alguns intelectuais de mulatismo, ou seja, uma forma de conceber a nação brasileira segundo a qual o mulato seria o brasileiro típico, mais que o branco oriundo da emigração europeia ou da mistura com os descendentes de portugueses. Este tipo de caracterização esteve presente nos escritos de muitos intelectuais paulistas dos anos 1930 e 1940 (Duarte, 1947; Bastide, 1961). Como se pode imaginar, subjacente à acusação de mulatismo está a crença no papel de liderança que a cultura europeia – e não a afro-indo-luso-brasileira – deve exercer sobre a nação brasileira.
Enfim, a terceira variante é a negritude brasileira (Bastide, 1961a; Munanga, 1986). Apesar de muito influente no meio negro, e talvez pour cause, tal variante não encontrou grande apelo nos meios intelectuais, ficando quase que restrita ao enunciado de Guerreiro Ramos (1957). A negritude, como bem caracterizou Bastide, consiste numa radicalização do mulatismo, ao enxergar como negros todos os afrodescendentes e propor que, no Brasil, o povo é negro; ou seja, segundo tal enunciado, não faz sentido pensar o negro enquanto etnia separada, posto que ele é o esteio demográfico da nacionalidade. Por seu turno, a designação do povo como negro, e não mulato ou mestiço, consiste propositadamente na busca por valorizar o elemento mais estigmatizado da formação nacional, revertendo a visão colonialista europeia, introjetada pelas elites nacionais, do Brasil enquanto país branco e de sua cultura como prolongamento da portuguesa.
São essas três vertentes – o embranquecimento, o mulatismo e a negritude – que delimitam o espaço ideológico-racial em que vicejam algumas estratégias discursivas negras para a luta pela ampliação da cidadania.
Retóricas negras e a recorrência de seus temas discursivos
Quatro retóricas de inclusão podem ser distinguidas nesse longo período de mobilização negra. A primeira delas foi caracterizada por Bastide (1983a: 150) como puritanismo. Trata-se do discurso sobre a moral – comportamentos, atitudes e valores – adequada à convivência na sociedade burguesa. Bastide disse ter preferido chamá-lo assim “porque a moralidade é essencialmente subjetiva, ao passo que o puritanismo dá atenção antes de mais nada ao que se vê, às manifestações exteriores e que podem classificar um ser no interior de um grupo”. No entanto, e sendo mais preciso, trata-se de um discurso sobre a moral adequada à integração social dos negros nas classes médias urbanas em uma sociedade em que não era legalmente permitida a discriminação com base na raça ou na cor, a situação de inferioridade e de subalternidade social do negro não poderia ser regulada apenas através dela; muito ao contrário, quando tal discriminação ocorresse, teria que ser discreta e de preferência passível de ser atribuída à operação de mecanismos de classificação social.
Era, portanto, através dos mecanismos de formação e de reprodução das classes – a escolaridade formal, as boas maneiras, a moral, a religião, o domínio da língua culta etc. – que as discriminações sociais poderiam ser mais eficientemente exercidas e, mais que isso, que os negros poderiam se reproduzir espontaneamente enquanto classe (Hasenbalg, 1979). Está aí a sabedoria da imprensa negra de então em alcunhar a população negra de “classe dos homens de cor” antes de adotar a designação de “raça negra”.
O puritanismo, portanto, foi a primeira tentativa, depois do abolicionismo – ou seja, depois da conquista da cidadania formal – de ampliar os direitos efetivos do povo negro através de uma forma comunitária de solidariedade: a racial, que, como vimos, desloca-se paulatinamente da cor para a raça, à medida que avançam, no Brasil, ideologias políticas racistas como o fascismo. Engana-se, pois, quem enxerga no puritanismo uma simples introjeção pela classe média negra da ideologia do embranquecimento. A recusa do pan-africanismo, assim como das práticas culturais afro-brasileiras que medram nos meios populares negros, deve ser lida como enquadramento à lógica de identificação e de reprodução das classes, como negação e tentativa de desconstrução do habitus de classe das camadas populares.
É claro, porém, que um dos pressupostos do puritanismo é a prevalência das ideias sobre as práticas culturais africanas e suas ramificações brasileiras, tidas como inferiores. No entanto, convém chamar a atenção para o fato de que os códigos da alta cultura europeia – expressos nas maneiras de vestir, falar ou se comportar – permanecem como marcadores de distinção das classes altas, mesmo quando a chamada “cultura negra” passa a ser aceita em sua plenitude.
O puritanismo é uma estratégia de elevação de status social de um grupo através da formação de uma comunidade racial – ou seja, de uma origem de raça comum – através do exercício da solidariedade e da liderança. Alguns dos temas discursivos (que os sociólogos norte-americanos chamam de frames) que aparecem na retórica do puritanismo foram tomados de empréstimo do movimento abolicionista e iriam reaparecer em todas as mobilizações negras do século XX: o papel colonizador do negro no Brasil, o negro como criador da riqueza nacional, o talento do mulato, o mestiço como o tipo mais brasileiro (somos todos mestiços, até mesmo os portugueses), a Abolição como abandono e desproteção, a ausência do preconceito de raça no Brasil, mas a continuidade do preconceito de cor.
No tempo em que o puritanismo da Frente Negra Brasileira atingia seu ápice, em 1937, esse já era, entretanto, um discurso embolorado. Isso porque, desde os anos 1920, os modernistas brasileiros encontravam inspiração para o seu vanguardismo na cultura popular negra e mestiça, buscando ali a alma do Brasil. Os festejos populares, as danças, o folclore, todas essas manifestações serviam de referência para a construção de uma nova estética de autenticidade, surgida na cola dos movimentos artísticos europeus, que, do dadaísmo ao surrealismo, descobriram a arte primitiva, africana e oriental. Tal descoberta, no Brasil, caminhou passo a passo com o estudo dos africanismos pela antropologia cultural (Ramos, 1937; Herskovits, 1943), principalmente dos candomblés jejes-nagôs, que transformam a Bahia, primeiro em laboratório, depois numa espécie de Roma negra (Lima, 1964), local de origem espiritual para reconstrução das tradições africanas no Brasil.
Toda a força do renascimento artístico e espiritual modernista teve enormes consequências para os discursos reivindicatórios negros: nuançou seu projeto de classe, assentado em marcadores de status pequeno-burgueses e europeus, àquela altura (anos 1920 e 1930) já sob à crítica de inautenticidade, brandida pelas vanguardas artísticas e intelectuais. Dois outros temas seriam acrescentados, portanto, nos anos 1940, à retórica negra: o povo, no Brasil, é negro; e a cor, simples aparência. Eles seriam acionados, principalmente, no discurso da democracia racial, que passaria a dominar a política cultural e ideológica do Estado Novo.
Já me referi anteriormente à democracia racial, mas é preciso aqui, sinteticamente, retomar as suas origens e especificar a sua vertente negra. As origens das ideias ali consteladas têm fontes diversas, algumas eruditas, outras populares, reunidas sob a motivação política mais profunda que a animou. A fonte erudita pode ser encontrada na inspiração hispanista (Diaz Quiñones, 2006), que tomou conta dos intelectuais latino-americanos no começo do século XX, à procura da especificidade da civilização ibérica, seja em termos dos seus contatos com outros povos, seja da sua forma de governar, seja da sua cultura. A fonte popular vem da campanha abolicionista, que desemboca num movimento social de certa pujança ao ganhar as ruas (Alonso, 2015), mas que teria sua maior legitimação intelectual nos escritos de Castro Alves, Rui Barbosa e Joaquim Nabuco. A fonte política pode ser encontrada em vários intelectuais, alguns de corte mais racialista, como Cassiano Ricardo (Campos, 2005), outros mais culturalistas, como Arthur Ramos ou Gilberto Freyre.
Já se encontra em Oliveira Lima (1911) o argumento, mais tarde retomado por Gilberto Freyre (1933, 1936),3 de que, no Brasil Colônia, a aristocracia portuguesa era muito mais aberta ao contato com as classes populares, incorporando com frequência não só bastardos, mas pardos de talento, “não constituindo o sangue negro um obstáculo insuperável nem sequer à mercê e graças régias” (Oliveira Lima, 1922: 32). Essa democracia de que fala Oliveira Lima, ou seja, a falta de rigidez nas classificações de classes ou de raças, seria alçada por Freyre à singularidade da colonização portuguesa, embrião de uma democracia social e étnica, mais profunda e humana que a democracia liberal anglo-saxônica ou francesa, posto que permitiria a incorporação e a mobilidade social de diversas raças nas novas nações oriundas da expansão europeia. Tal singularidade da democracia na América portuguesa seria chamada também de democracia racial por outros, como Cassiano Ricardo; no entanto, nesse como em outros autores, a concepção de uma democracia autoritária, baseada numa clara hierarquia sob o comando europeu ou branco é mantida intacta, tal como fora anunciada em 1838 por Von Martius.
A simpatia despertada por Casa-grande & senzala está justamente em que, nele, a hierarquia racial cede lugar ao que Benzaquen de Araújo (1994) chamou de “antagonismos em equilíbrio”, ou seja, são as relações de poder entre senhores e escravos, homens e mulheres, adultos e crianças, que determinam a hierarquia social e não as raças. Gilberto Freyre encontraria espaço para incorporar inteiramente a variante popular da democracia racial, ou seja, aquela em que o negro e o mulato eugênico passam a ser matriz da futura nação. Nessa leitura popular, a que Freyre empresta o encanto de sua prosa, a mestiçagem submerge a hierarquia, deixando-a transparecer tão somente em certas preferências estéticas ou culturais.
Tal democracia racial seria aquela autenticamente brasileira, para a qual se requereria um estado forte e regulador das relações sociais, de modo que os potentados privados não sucumbissem à tentação de transformar diferenças raciais e culturais em hierarquias sólidas. Apenas as diferenças de classe poderiam ser reconhecidas pelo estado e por ele mediadas, e reguladas por extensa legislação. Contra a petrificação da diversidade racial e de classe o Estado deveria agir de modo soberano, por cima dos cidadãos. Foi esse ideal de democracia, cujo cerne não se encontra nos direitos individuais, mas na inexistência de barreiras de cor à mobilidade social dos indivíduos, e cuja legitimidade é retirada não da utopia do indivíduo livre, portador de direitos, mas da inexistência de coletivos cujas características adscritas lhes garantam privilégios, que atendia também aos anseios populares e negros, aqueles que mantinham a bandeira da Segunda Abolição.
Assim, paradoxalmente, não desaparece a hierarquia racial abertamente defendida pelas elites brasileiras como racismo, ou assimilada sob a forma mais branda da representação de uma nação mestiça liderada pela herança cultural branca ou europeia. Ela passa a estar submersa numa ordem regulada de classes sociais. Nessa nova hierarquia, como não podia deixar de ser, se insinuam como preferências as marcas físicas, raciais e culturais das classes dominantes. O negro eugênico se transforma em moreno, a beleza, em graça divina; o conflito racial transmuta-se em conflito social.
Para exemplificar com uma canção muito popular de Adelino Moreira, de 1959, o sonho de amor impossível de um negro por uma branca é assim lamentado: “não devia [sonhar] e por isso me condeno/ Sendo do morro e moreno/ Amar a deusa do asfalto”. Ninguém sabe ao certo de que cor eram, realmente, amante e amada, mas se conhece, sim, que o triste enlace resvala em “negra solidão”. O conflito se desloca, como se vê, e ganha expressão através de outra hierarquia. Do mesmo modo, no cancioneiro da época, a “cabrocha”, a “morena” e a “mulata” passam a ser as figuras femininas mais exaltadas (Gonzalez, 1984). Ao lado disso, a Bahia, que fora retratada por Von Martius como a mais portuguesa das cidades brasileiras,4 e que fora caracterizada como a “mulata velha” na Primeira República, passa a ser associada, a partir do Estado Novo, à mística afro-brasileira, como terra da magia e do feitiço, cantada nos sambas-exaltação, junto com o Rio de Janeiro e os morros cariocas.
Para os intelectuais negros que abraçam o ideal da democracia racial, contudo, é importante frisar que o fazem, como vimos, ao ressignificar o movimento da negritude e substituir o pan-africanismo pelo nacionalismo anticolonialista. A polissemia de termos como “democracia racial”, “negritude” e “cultura afro-brasileira” tem que ser ressaltada (Munanga, 1986). Para os negros, a primeira expressão significava a sua integração numa ordem social sem barreiras raciais; a segunda era uma forma de patriotismo que acentuava a cor negra do povo brasileiro; já a terceira realçava a cultura sincretizada e híbrida do Brasil (Bastide, 1976).
Para chegar aos nossos dias – quando a Bahia é caracterizada, abertamente, como cidade negra, o termo “raça” é introduzido nos censos demográficos, e o multiculturalismo e o igualitarismo racial são doutrinas dominantes nas organizações políticas e culturais negras –, é preciso compreender como certos signos de identidade étnica foram apropriados pelas elites negras e como os direitos do cidadão passaram a ser centrais na definição da democracia.
Roger Bastide, que já disponibilizou a chave para a compreensão do puritanismo negro e da negritude brasileira, pode oferecer ainda outra para entender o surgimento da identidade étnica nos anos 1970. Segundo ele, o avanço das religiões afro-brasileiras no Sul e Sudeste do país, a descolonização da África e a conseqüente emergência de uma elite negra africana de circulação internacional, assim como o crescimento e autonomização de uma classe média mulata não incorporada às elites como socialmente branca, fazem com que a negritude brasileira deixe de se referir apenas aos aspectos físico-raciais dos negros para ressaltar a sua autenticidade e singularidade cultural enquanto afro-brasileiros.5 Para Bastide, as bases sociais para a aceitação e adaptação de teorias que circulariam internacionalmente com maior intensidade nas décadas seguintes, como o multiculturalismo e multirracialismo, teriam sido assentadas no Brasil pelo “milagre econômico”, como ficou conhecido o intenso crescimento econômico brasileiro dos anos 1970.
Dessa mesma época, acrescento, data também a grande guinada da intelectualidade política brasileira – à esquerda e à direita –, que recusou a antiga aspiração por uma democracia autenticamente local e voltou-se para a crítica da insuficiência histórica das garantias aos direitos humanos e do cidadão. Abriu-se, então, caminho para que as desigualdades raciais no país possam ser denunciadas como genocídio do povo negro, ecoando a célebre petição apresentada por Paul Robeson e William L. Patterson (1970) à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1951. Quem soltou o grito foi Abdias do Nascimento (1978), que liderou o movimento por democracia racial e pela negritude nos anos 1940 (Munanga, 1986; Bacelar, 1989).
Nada mais compreensível, portanto, que a recusa a tentativas de restringir a democracia a qualquer um de seus aspectos. A ditadura militar fora instalada no país desde 1964, camuflada sob a aparência de democracia representativa, mantendo o Legislativo e o Judiciário como poderes autônomos, refazendo a sistema político partidário e a Constituição, mas intervindo e limitando tais poderes de maneira ad hoc. A ditadura seguiu, assim, uma longa tradição autoritária, que já rendera frutos nas Primeira e Segunda Repúblicas, e servira de inspiração a Vargas, instituindo na Presidência uma espécie de poder moderador imperial. Na luta pela redemocratização do país, portanto, as oposições se viram obrigadas a radicalizar a sua concepção de democracia (Weffort, 1992): fizeram a crítica histórica da sociedade e da política brasileiras, repudiaram qualquer espécie de excepcionalismo ou singularidade nessa matéria, e propugnaram por uma defesa radical das liberdades civis e dos direitos do indivíduo e do ser humano.
O igualitarismo negro, portanto, foi resultado de um amadurecimento de demandas congruentes: abandonou-se a bandeira de luta “por uma autêntica democracia racial” (MNU, 1982) e adotaram-se demandas por reconhecimento de sua particularidade cultural e por ações afirmativas que estabelecessem maior paridade de oportunidades entre brancos e negros.
A cidadania dos negros
Vou sumarizar brevemente meus argumentos, explicitando alguns fios condutores e uma periodização que ficaram implícitos. Vianna e Carvalho (2000), em artigo seminal, retomaram uma tese cara a Oliveira Vianna (1923), para insistir no papel central que desempenhou o estado no processo civilizatório brasileiro, avançando e garantindo direitos e liberdades contra a oposição das classes dominantes, e com o apoio difuso ou amorfo das massas e das classes dominadas. Foi assim na Abolição, foi assim no Estado Novo. José Murilo de Carvalho (2002), em sua história da cidadania no Brasil, demonstrou como tal protagonismo do Estado fez com que os direitos sociais fossem garantidos para as camadas urbanas, antes mesmo que as liberdades políticas e civis estivessem plenamente desenvolvidas. Tal processo foi denominado por Wanderley Guilherme dos Santos (1979) de “cidadania regulada”.
Como procurei expor acima, ainda que rapidamente, foram três momentos de ruptura com a ordem racial estabelecida, às vezes com o protagonismo maior do estado, mas com mobilização social maior nas últimas décadas, em que os negros brasileiros viram respeitados os seus direitos à cidadania.
Sem dúvida, o momento inicial foi a conquista da liberdade individual, pois com o fim da escravatura generalizou-se definitivamente a disjunção entre ser negro e estar sujeito à restrição da liberdade individual. Mas a liberdade assim conquistada não se traduziu, como vimos, em cidadania política ativa; apenas deslanchou o processo de construção nacional, em que tais indivíduos eram assujeitados (Garcia, 1986), antes que sujeitos.
A Primeira República representou bem essa época em que competiram duas lógicas de cidadania. De um lado, a onda civilizadora republicana, limitada às classes altas e remediadas, que, do ponto de vista cultural, significava a europeização do Brasil (Freyre, 1936) e a consequente negação da herança africana; num movimento descendente vieram o racismo pseudocientífico e a tentação de embranquecer a nação, assim com a resposta negra pequeno-burguesa, que, em busca de inclusão social e respeitabilidade, arrebentou-se no puritanismo negro.
De outro lado, num movimento ascendente, ocorreu nos meios intelectuais e artísticos a valorização das manifestações populares, das artes primitivas, do folclore, e das heranças culturais africanas. A arrebentação dessa onda foi múltipla: o modernismo, o ideal da nação mestiça, a retórica afro-brasileira. O que antes era visto como africano e estrangeiro é agora tematizado como afro-brasileiro ou simplesmente brasileiro. Ao invés de aceitar as diferenças e propor a igualdade entre as heranças, optava-se pela hibridez e a convivência e tolerância das desigualdades.
O período seguinte começou já na revolução de 1930 e seguiu pelo Estado Novo. À conquista do reconhecimento do legado cultural da raça negra juntaram-se os direitos sociais do trabalhador urbano. Forjaram-se, nesse período, compromissos políticos e culturais que seriam expressos no ideal de democracia racial: cidadania regulada, nacionalização das culturas étnicas e raciais, recusa ao racismo. Mas a Segunda República, apesar de restituir as liberdades políticas, não as generaliza ou aprofunda. O trabalho no mundo rural, nas grandes propriedades, continua a ser regido por formas de sujeição pessoal e de violência herdeiras do escravismo (Garcia, 1986).
Do ponto de vista dos negros, qualquer avanço em termos de direitos políticos ou sociais se fez apenas nas lutas de classe. A renúncia à singularidade étnica ou cultural foi explícita, embora sua afirmação seja cada vez menos desqualificadora. Ocorreu formação de classes, mas não formação de raças. De qualquer modo, generaliza-se entre as esquerdas, ao menos, a ideia de que o povo brasileiro é negro ou mestiço.
O período posterior a 1990 é o primeiro em que são recusados os pressupostos autoritários da democracia racial, que buscava a harmonia sem consolidar a ordem política e equalizar a distribuição social das riquezas e oportunidades. O protagonismo maior passa a ser dos movimentos sociais, ainda que o estado se mantenha central, como distribuidor e doador. É nessa ordem – de garantia dos direitos individuais e coletivos – que medram o reconhecimento da singularidade étnica e o respeito à igualdade racial. De modo apenas aparentemente paradoxal, a afirmação do coletivo racial serve para aprofundar a igualdade entre os cidadãos. A razão parece estar em que as desigualdades precisam agora ganhar nome (cor, gênero, raça, orientação sexual) para serem combatidas.
Vejamos, no próximo capítulo, como essas ideias libertárias, surgidas na luta contra o racismo e o colonialismo, ganham expressão e impregnam a cena social e política, com força crescente a partir da segunda metade dos anos 1960.
*Antonio Sérgio Alfredo Guimarães é professor aposentado e sênior do Departamento de Sociologia da USP. Autor, entre outros livros, de Classes, raças e democracia (Editora 34).
Referência
Antonio Sérgio Alfredo Guimarães. Modernidades negras. São Paulo, Editora 34, 2021, 296 págs.
Notas
1 Capítulo 6 de Modernidades negras.
2 Como vimos no capítulo 1, para uma importante tradição da sociologia não faz sentido falar de classes sociais antes da idade Moderna. Weber, por exemplo, reserva o conceito para sociedades em que se formam mercados, ou seja, em que indivíduos interajam livremente. A tradição marxista, ao contrário, utiliza o termo para todas as épocas históricas, pois está interessada em explicar como se formam coletivos políticos a partir da teoria geral de que o plano fenomênico das relações sociais está determinado por fundamentos de estrutura econômica, ou seja, pela posição objetiva dos sujeitos numa determinada formação social.
3 A influência de Oliveira Lima sobre Gilberto Freyre foi analisada por Gomes (2001).
4 Rodrigues observa, ao comentar a Viagem ao Brasil, de Von Martius, que a Bahia era a província brasileira em que se podia notar “um maior apego a Portugal e à conservação das leis e às praxes portuguesas”. Von Martius notava também “a expedita atividade comercial do baiano, prático, sólido” (Von Martius, [1838] 1956: 437).
5 “elle ne peut donc accepter une ‘négritude’ d’ordre purement physique, sa négritude ne peut être désormais que culturelle — et j’ajoute: ce qui la définit et rend les deux mouvements d’incorporation nationale et d’authenticité, cohérents entre eux, non pas celle d’une identité culturelle ‘africaine’, mais d’une identité résolument ‘afro-brésilienne’” (Bastide, 1976: 27).