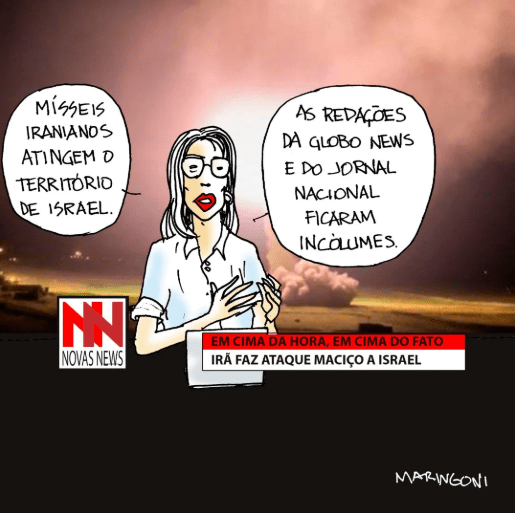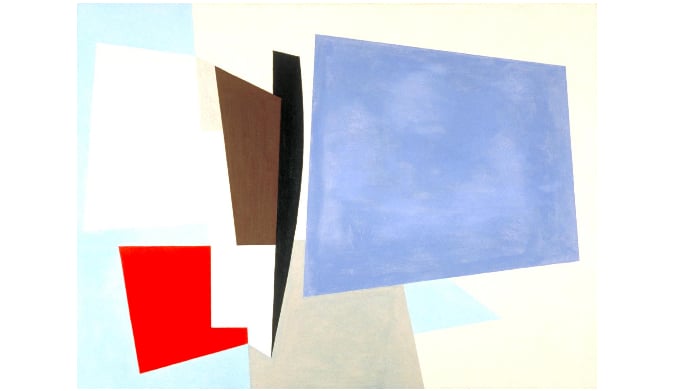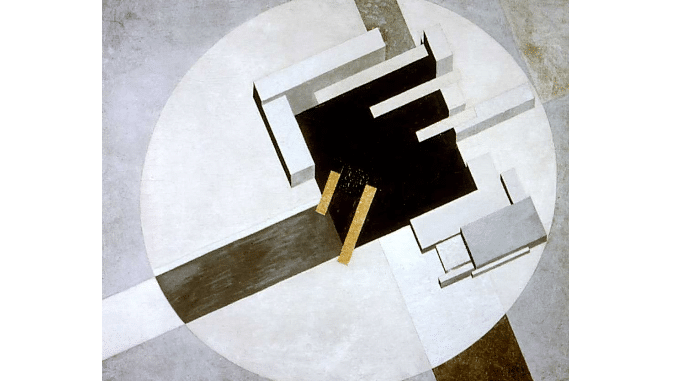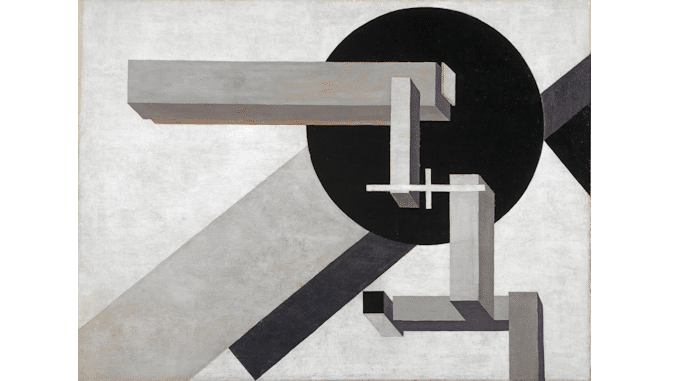Por ANNATERESA FABRIS & MARIAROSARIA FABRIS*
Comentário sobre o filme “Ana. Sem título” dirigido por Lúcia Murat
Na Pinacoteca de São Paulo, uma mulher ainda jovem está percorrendo a exposição Mulheres radicais: arte latino-americana, 1960-1985, sozinha ou na rara companhia de outra mais idosa. Detém-se diante de algumas obras não identificadas (as etiquetas com título e autoria não são destacadas), mas a lacuna pode ser preenchida por uma consulta ao catálogo da mostra, realizada no segundo semestre de 2018. A mulher emula desajeitadamente a sensual boca feminina do filme em 16 mm/35 mm Eat me (1975), de Lygia Pape, em cuja língua começará a revelar-se uma tesoura; seu olhar focaliza três retratos de empregadas domésticas da série A servidão(1976-1989), da panamenha Sandra Eleta; América, não invoco teu nome em vão (1970), da pintora chilena Gracia Barrios; quatro gravuras da argentina Margarita Paksa das séries Situações fora de foco (1966) e Diagramas de batalhas (1972-1976); uma das reproduções da ação O pênis como instrumento de trabalho (1982), da mexicana María Bustamante.
Entremeadas a essas obras, surgem flashes da mulher num camarim de teatro e numa leitura dramática de cartas, durante a qual é afirmado que “a ficção pode conter mais verdades do que os fatos”, como anotou Virginia Wolf em Um teto todo seu (1929).[1] Na correspondência entre artistas mulheres da América Latina citada pela atriz, que estaria arquivada na Universidade de Bogotá, algumas vezes aparece o nome de uma certa Ana. O filme não fornece mais dados, mas os créditos finais e o material paratextual informam que a referência direta é uma peça-processo, Há mais futuro que passado (2017), criada e interpretada por Clarisse Zarvos, Mariana Barcelos e Daniele Avila Small, que a dirigiu.
A leitura de cartas trocadas entre artistas latino-americanas, frequentemente esquecidas pela historiografia oficial, levava a refletir sobre nosso desconhecimento do tema, numa encenação em que ficção e realidade, performance e exposição dos próprios sentimentos, referências externas e opiniões pessoais se embaralhavam e se complementavam para dar vida a “um documentário de ficção”, como dizia o subtítulo.
A visita na Pinacoteca prossegue com uma rápida passagem por um exemplar de arte postal, Grupo de família, Reconstrução do mito (1980), da argentina Graciela Gutiérrez Marx; por É o que sobra (1974), da série Fotopoemação de Anna Maria Maiolino, sequência de três fotos em que a artista simula cortar o próprio nariz, a língua e furar os olhos com uma tesoura; com uma fruição mais detida – por parte da atriz e de sua acompanhante, a cineasta Lúcia Murat – de Fita sem fim (1978), em que a chilena Luz Donoso se interrogava sobre o paradeiro de conterrâneos seus depois do golpe de 1973, o que desencadeia, no filme, uma sequência de fotos de militantes brasileiras desaparecidas; com a apreciação do registro da performance Gritaram-me negra (1978), da peruana Victoria Santa Cruz, até a câmera se fixar numa obra de 1968, sem título, de autoria de Ana, simplesmente Ana, sem sobrenome.
É uma série de seis fotos em preto e branco, organizadas em duas fileiras horizontais sobrepostas, nas quais uma mulher vai assumindo gradativamente sua condição latino-americana e sua negritude – deixando para trás a vassalagem (as duas primeiras poses remetem às empregadas de Sandra Eleta) e o forçado branqueamento –, como no poema ritmado de Victoria Santa Cruz, em que a dúvida inicial sobre a própria condição – “¿Soy acaso negra?” – se transforma na afirmação final: “¡Negra soy!”.[2] Afirmação retomada em duas fotografias, como veremos mais adiante.
O painel fotográfico em que Ana lança um olhar crítico sobre a própria aparência não deixa de ter relações com a foto-performance Tina América (1976), presente na mostra da Pinacoteca. Usando como modelo o retrato de identidade, Regina Vater parodia uma matéria em que a revista Veja (n. 355, 25 de junho de 1975), em consonância com o “Ano da Mulher” da ONU, procurava caracterizar os novos tipos femininos. Exibindo diversos modelos de penteado, usando por vezes óculos, a artista se autorrepresenta em diferentes poses – desinibida, misteriosa, resignada, emburrada, sorridente, sedutora –, numa demonstração da impossibilidade de encerramento de uma identidade numa grade classificatória.
O trabalho Sem título mantém ainda elos com a primeira série das “auto-photos” de Transformações (1976), de Gretta, um nome injustamente esquecido na exposição de 2018. Nelas, a artista desempenha vários papéis – intelectual, ingênua, angustiada – e dá a ver o próprio desconforto por meio de um esboço de sorriso ou de manifestações de desespero, que sinalizam um questionamento da própria subjetividade. A disposição dos retratos de uma mesma pessoa numa grade, em que a variedade de poses pode dar a ideia de um desdobramento temporal, caracteriza outro trabalho apresentado na referida mostra. Trata-se de O normal (Quero fazer amor) (1978), no qual a mexicana Mónica Mayer põe a nu fantasias sexuais e derruba tabus com a enunciação dos parceiros que gostaria de ter ou de um local em que poderia ser vista por muitos ou, ainda, de uma circunstância que desafia o mito da virgindade. As obras de Regina Vater, Gretta e Mónica Mayer vêm lembrar o caráter anacrônico que Lúcia Murat confere à ação de Ana, pois esse tipo de formato e de questionamento identitário data da década seguinte.
E a partir desse ponto, depois do filme ser nomeado – Ana. Sem título –, se inicia a busca dessa enigmática artista, empreendida pela atriz Stela (Stella Rabello), numa jornada América Latina adentro. Certa de que nessa busca encontrará sua geração, a cineasta Lúcia Murat resolve acompanhá-la – com uma equipe exígua, integrada pelo diretor de fotografia Léo Bittencourt e pela técnica de som Andressa Clain Neves – rumo a Cuba, Argentina, México e Chile, principais países pelos quais peregrinaram os exilados brasileiros.
Uma carta de Antonia Eiríz a Feliza (Bursztyn?), datada de 15 de março de 1968, com acenos a Ana, que conheceu na Argentina, leva à primeira etapa da viagem, Havana. Numa das salas do Museu Nacional de Belas Artes, a guia define como “expressionismo grotesco” a arte de Eiríz na década de 1960, época em que na ilha predominava o realismo soviético. Cerceada pelo regime, a artista dedica-se a trabalhos em papel machê, o que a aproxima às obras com objetos descartáveis realizados pela impetuosa brasileira. O dono de um ateliê de gravura, amigo de Antonia, mostra a Stela uma caixinha com fotos sobre uma dança ritualística da brasileira em Buenos Aires.
Para Stela, Ana finalmente tem um rosto, o mesmo da obra sem título de 1968, rosto que o público reconhecerá um pouco mais adiante, quando a jovem negra surge com o turbante e a roupa branca de candomblé, e as imagens da performance argentina ganham animação, numa sequência de fotos que dialogam com algumas de Mário Cravo Neto sobre o mesmo tema: Candomblé (1999) eNa terra sob meus pés (2003), clicadas em Salvador.
De Havana a equipe voa para Buenos Aires. Uma missiva endereçada a Lea [Lublin?] em de 6 de dezembro de 1968 (ou seja, uma semana antes da promulgação do Ato Institucional nº 5), refere-se ao movimentado meio cultural da cidade portenha, com a participação de Margarita Paksa no grupo Cultura 1968[3], que se insurgia contra o tradicional circuito artístico, com o mesmo vigor com que María Luisa Bemberg renovava o cinema. Ana, que, aos dezenove anos se envolveu nesse ambiente, torna a surgir no filme numa nova encenação da performance Meu filho, de Lea Lublin. Convidada parao Salão de Maio de 1968, a artista argentina transformou uma sala do Museu de Arte Moderna de Paris num recanto pessoal, onde se expôs com Nicholas, seu bebê de sete meses, instalado num berço, alimentando-o, trocando-lhe as fraldas, brincando e falando com ele, ou seja, afirmando com todas as letras sua condição feminina. A repetição da ação por parte de Ana leva à indagação se isso teria sido possível ou se ela acabaria barrada, por ser confundida com uma babá.
Num país pouco afeito ao feminismo, era difícil para as mulheres romperem com modelos estereotipados e padrões de comportamento. María Luisa Bemberg (uma das fundadoras da Unión Feminista Argentina,), no entanto, convicta de suas ideias, vinculou sua arte à problemática de seu sexo. O curta-metragem que integrou a mostra de 2018, El mundo de las mujeres (1972)[4], obra cáustica e até cruel em relação ao universo feminino tradicional, tem algumas sequências citadas no filme de Lúcia Murat. Dentre elas, a final, em que sobre um rosto embonecado de mulher, preso atrás de uma grade, uma voz over feminina narra o happyend de Cinderela: levada para o castelo, ela e o príncipe se casaram e foram muito felizes. Em contraste com as mulheres transformadas praticamente em manequins de lojas, Ana irrompe irreverente num filmete em preto e branco, fumando, enquanto lhe arrumam o penteando blackpower, oferecendo-se à câmera que a fotografa, caracterizada como na última imagem da série Sem título, de sua autoria, num dos tantos embaralhamentos que o filme provoca.
Ana já deixou o cinema para dedicar-se às artes plásticas, por isso seu próximo trabalho é uma performance em que pinta todo seu corpo de vermelho, entremeada por relato sobre a política argentina da segunda metade da década de 1960 e suas consequências para a artista brasileira.[5] Sequestrada por um grupo de rapazes que imprimiu em sua pele símbolos nazistas, a jovem negra transformará as chagas num gesto artístico. Esse acontecimento é uma rememoração do caso da militante comunista Soledad Barrett, a qual no Uruguai, aos dezessete anos, foi raptada pelo comando neonazista Los Salvajes e marcada com cruzes gamadas por ter-se recusado a gritar palavras de ordem exaltando Hitler e contra a Revolução Cubana. Uma longa sequência de uma manifestação das Madres de La Plaza de Mayo, nos dias de hoje, serve para lembrar que a grande ferida, aberta no peito da nação argentina em 24 março 1976, ainda não cicatrizou, criando mais uma defasagem temporal dentro do filme.
Numa carta, Kati [Horna?] informa que Ana pretende ir para o México e que Victoria [Santa Cruz?] está ajeitando as coisas. E em outra correspondência trocada com Lygia Pape (28 de dezembro de 1969), as duas artistas manifestam estima recíproca: se a brasileira apreciava Bonecas de medo (1939), Horna admirava Divisor (1968) e a coragem de Maria Bonomi por integrar o grupo de artistas que boicotou a décima edição da Bienal de São Paulo, sendo esta uma das várias informações que ficam totalmente soltas dentro do filme.
Como era de se esperar, é logo focalizada a famosa Casa Azul de Frida Khalo, transformada em museu, em 1958, para homenageá-la. Dentro do recorte cronológico do filme e da exposição na qual este se baseou, a menção ao nome da artista mexicana é extemporânea, ainda mais como foi feita: apenas para afirmar que, em sua época, ela era invisível, sendo conhecida no exterior como Madame Rivera, ou seja em função de seu marido, o muralista Diego Rivera. As duas informações merecem reparos, pois, em 1938, André Breton dedicou-lhe o texto “Frida Khalo de Rivera”, o que leva a supor que era assim que ela se apresentava. Ademais, naquele mesmo ano, a artista realizou sua primeira exposição individual na Galeria Levy de Nova York; em 1939, foi a vez de sua mostra na Galeria Renau et Colle, em Paris; e, no ano seguinte, ao lado de outros grandes nomes da vanguarda, participou da Exposição Internacional do Surrealismo, na Galeria de Arte Mexicana – três eventos sob a égide de Breton.
Teria sido bem mais interessante, na esteira de Whitney Chadwick, recordá-la como uma das artistas modernas adeptas do autoconhecimento do próprio corpo, retratado livre de parâmetros estritamente masculinos, isto é, não mais enquanto objeto do prazer visual do homem. Numa obra como A coluna partida (1944), Frida escancarava a dualidade que, ao autorretratar-se, estabelecia entre a evidência exterior, normalmente oferecida a quem observa, e a íntima percepção da própria vulnerabilidade, revelada por quem se observa.
Assim como na Argentina, também no México há uma longa digressão sobre um acontecimento violento que marcou a história recente daquele país: o massacre de cerca de trezentos estudantes no estádio de Tlatelolco (24 de outubro de 1968), quando as forças armadas atiraram sobre civis que protestavam contra a realização dos Jogos Olímpicos, os quais, apesar da matança, foram iniciados dez dias depois. Durante sua estadia mexicana, posterior aos fatos acima citados, Ana realiza outras duas ações corporais. Na segunda, o gesto de escrever as frases “Me gritaron negra” e “Negra sí. Negra soy” em duas fotos que exibem suas costas “rendilhadas”, como se tivesse sido fustigada, poderia ser aproximado do vídeo Marca registrada (1975). Nele, Letícia Parente borda o sintagma “Made in Brasil” na sola do pé esquerdo, numa referência às torturas praticadas nos porões da ditadura e, possivelmente, também aos desafios enfrentados pela mulher num país patriarcal e machista.
Na primeira, mais impactante, a brasileira reencena A Vênus (1981-1982) – um dos retratos de Lourdes Grobet que integram a série A luta dupla –, caracterizado por um viés documental. Esta escolha permite dar realce à questão feminina metaforizada no uso da máscara, que remete tanto ao anonimato do trabalho doméstico – nos dizeres de Karen Cordero Reiman –, quanto à necessidade de se camuflar no desempenho de uma atividade tradicionalmente masculina, como afirma uma das entrevistadas de Lúcia Murat. Nessa performance, há um diálogo entrecruzado de várias artistas, pois quando Ana corta a máscara que alude à obra de Lourdes Grobet, o faz com uma tesoura, apontando para o citado Fotopoemação de Anna Maria Maiolino; a remoção da primeira anteface revela uma máscara de flandres, que, uma vez retirada, dá a ver a língua de Ana, na qual está amarrada com um barbante uma tesourinha aberta, imagem que evoca o mencionado filme de Lygia Pape. Segundo Grada Kilomba, a máscara era imposta aos escravos africanos para impedir-lhes de comer cana-de-açúcar ou cacau em sua labuta, embora sua função primordial fosse a de “implementar um senso de mudez e de medo, visto que a boca era um lugar de silenciamento e de tortura”.[6] Nesse sentido, o progressivo desmascaramento de Ana evidencia o quanto sua identidade foi ocultada, calada, mutilada.
Como vemos, artista essencialmente performática, Ana usa o próprio corpo de diversas maneiras. Se, num primeiro momento, este é um material expressivo que lhe permite recuperar um ritual religioso e, logo, afirmar as próprias origens, ou checar o grau de aceitação de uma mulher negra numa sociedade racista, em seguida, ela passa a encenar ações norteadas pelo objetivo de contestar o poder político e sua carga de violência e repressão. É significativo que, sempre na Argentina, ela se pinte de vermelho para evocar o sacrifício de sua gente e, logo depois, ponha uma coroa na cabeça para simbolizar um ato de afirmação da própria etnia e de resistência.
Ainda nesse país, ocorre a ação em que a violência sofrida, visível nas marcas resultantes do sequestro e da agressão, vira um desenho geométrico estilizado a evocar os tantos massacres de povos indígenas que pontuaram a história da América Latina. O momento culminante desse uso político do corpo ocorrerá no Chile, quando Ana emprega uma matéria orgânica como a terra, transformando-a numa pasta com a qual se lambuza para deixar impressa num muro a marca de uma existência concreta. Nesse sentido, a ação da jovem artista poderia ser aproximada daquela de Nelbia Romero, a qual, em alguns trabalhos dos anos 1970 e 1980, fez do próprio corpo uma metáfora da repressão política. É o que demonstra Sem título (1983), em que a artista uruguaia passou no rosto tinta de impressão, para deixar no papel aplicado sobre ele a própria marca. Os borrões que cobrem a parte inferior da serigrafia transformam o rosto num fragmento,pois dele só restam os olhos e a testa, enquanto o número 01592, impresso verticalmente em vermelho, remete ao sistema usado para classificar presos, como esclarece Andrea Giunta. Voltando ao trabalho da brasileira, a frase “Crear poder popular para barrer el fascismo”[7] escrita no muro reforça a ideia de que essa performance está prenhe de uma carga política, que põe em xeque o poder institucional e seu controle sobre os corpos, não raro exercido sob forma de desaparecimentos.
Tendo se relacionado com uma estudante de interpretação, Ana viaja com Silvia para sua terra de origem: o Chile. Vistos da janelinha de um avião, os picos nevados dos Andes levam a pensar que esta dever ter sido a primeira visão de muitos brasileiros, os quais, fugindo da perseguição política, se refugiaram naquele país que os acolheu até a queda do governo de Salvador Allende.[8] E entremeadas a imagens do Palácio de La Moneda nos dias atuais, surgem na tela as do passado, em preto e branco, com aviões riscando o céu de Santiago, a sede do governo sendo bombardeada, o prédio em chamas, as ruínas, os militares, a suposta última foto de Allende[9], o número 80 da rua Morandé por onde seu corpo sem vida foi retirado – num inquietante contraste entre duas temporalidades, que remete a La persistencia de la memoria (2014), série de fotomontagens de Andrés Cruzat.
Em Santiago, acompanhamos os passos de Estela e Lúcia em seu passeio até o rio Mapocho, cujos muros de contenção entre as pontes Independencia e Recoleta foram pintados por integrantes das Brigadas Ramona Parra durante campanhas eleitorais nos anos 1960. Interessados na prática muralista, artistas como Luz Donoso, lembrada no filme, mas também Carmen Johnson, Hernan Meschi e Pedro Millar, se viam como agentes de mudanças sociais e promotores do Socialismo em seu país. Restos desses murais voltaram à luz graças a uma grande cheia do rio em junho de 1979, a qual limpou as sucessivas camadas de tinta com as quais a ditadura militar os havia encoberto. Está ligada ao entorno fluvial também uma intervenção do Colectivo Acciones de Arte (CADA): num registro de época, vemos quatro faixas verticais serem penduradas numa ponte – as duas primeiras, com as letras “N” e “O”, respectivamente; a terceira, com o símbolo “+”; a quarta, com a estampa de um revólver –, para pedir o fim da violência. Integrado pelo sociólogo Fernando Balcells, pela escritora Diamela Eltit, pelo poeta Raúl Zurita e pelos artistas plásticos Juan Castillo e Lotty Rosenfeld (cujo trabalho Uma milha de cruzes sobre o pavimento, captado em vídeo em 1979, foi exibido na mostra de São Paulo), o coletivo, passado o impacto do primeiro momento da repressão, decidiu reconquistar as ruas, interessado na integração entre o fazer artístico e a ação social.
Talvez mais ousada tenha sido a ação ¡Ay Sudamerica!, quando seis pequenos aviões jogaram 400.000 panfletos sobre Santiago, no dia 12 de julho de 1981. Tratava-se de uma “escultura social”, como o CADA a denominou, uma vez que envolvia arte, política e sociedade. O gesto remetia ao bombardeio do Palácio de La Moneda em 11 de setembro de 1973, mas com outro significado, pois convidava o público a estabelecer um novo conceito de arte para além dos limites tradicionais, uma arte integrada na vida pública. Embora a cronologia das viagens de Ana pela América Latina seja fluida, com toda probabilidade ela não poderia ter integrado nem as Brigadas nem o CADA, por isso, além de sua já mencionada performance, a estadia no Chile está ligada à sua atuação no Grupo Manos criado, em 1973, por Ilo Krugli[10], para a montagem do espetáculo de animação infantil História de um barquinho, um hino à liberdade.
Junto com Estela cruzamos os portões do Estádio Nacional, onde Ana e Silvia foram torturadas, onde Ana foi obrigada a torturar Silvia, onde Silvia faleceu sob tortura, onde Ilo Krugli ficou detido, mas conseguiu subtrair-se a um destino feroz, do qual não escapou o dono dos acordes e da voz que pairam sobre o início desse trecho do filme, executado no então Estádio Chile, outro centro de detenção, que hoje leva seu nome: Estádio Victor Jara.[11] No primeiro estádio, as fotografias da Cruz Vermelha eternizaram o sofrimento e a angústia dos 20.000 presos de trinta e oito países – sobretudo do Uruguai, do Brasil, da Argentina e da Bolívia –, que lá estiveram durante dois meses à mercê das arbitrariedades de militares locais, argentinos, mas também uruguaios e brasileiros, presentes no local para interrogá-los e ensinar métodos de tortura.
Um dos momentos mais tocantes dessa visita se dá quando, diante de um painel de mulheres que passaram pelo centro de detenção, a atriz parece sair do papel e ser ela mesma, dando vazão a uma emoção que a deixou sem palavras, uma emoção mais funda, talvez pelo fato de as vítimas serem mulheres, como indaga a diretora. A última imagem do Chile é a fugaz aparição de uma porta azul em cuja parte inferior está escrito: “Aqui torturaram meu filho”. Embora não nomeada no filme , trata-se da Villa Grimaldi, famosa pelas sevícias ali praticadas, local facilmente identificável pelo ladrilho quadriculado em preto e branco de seu hall, que os detidos conseguiam ver apesar de nele adentrarem de olhos vendados.
A partir de uma informação obtida em Santiago, a equipe se desloca para Dom Pedrito, pequeno centro rural do Rio Grande do Sul, lugar de origem da artista, atrás da borracharia de seu pai. Durante a viagem, Léo pergunta a Estela se ela acha que Ana está viva, mas a atriz não responde. Este questionamento remete a outros, feitos em Havana, quando Léo indaga se a artista teria optado por uma vida anônima e quando Lúcia, Estela e Andressa se perguntam por que a jovem brasileira teria abandonado a arte e qual seu paradeiro: prisão, clandestinidade, manicômio? Através de uma pessoa que conviveu com Ana, sabemos de seus medos (temia que estivessem atrás dela) e da esperança de ver sua arte reconhecida.
Abandonada pela família, vivia, em completo ostracismo, num galpão cedido por um irmão, onde continuou a trabalhar a partir de material descartado. Foi encontrada sem vida num descampado, mas, para a amiga, ela já estava morta há muito tempo. Do galpão, que lhe serviu também de ateliê – de onde Estela retirou uns poucos objetos, dentre os quais a máscara de Flandres –, quase nada sobrou, por causa de um incêndio, não se sabe se provocado pela própria artista ou depois de sua morte.
O fogo acaba tendo um valor simbólico, porque dele renascerá não Ana, mas quem, tendo-lhe emprestado seu corpo ao longo do filme, surge agora na tela como ela mesma, a slammer Roberta Estrela d’Alva, a qual, no Rio de Janeiro de hoje, propõe uma versão atualizada de Gritaram-me negra[12], reiterando que a luta de artistas mulheres, de artistas negras, ou simplesmente de mulheres negras, persiste, pois, como salientou a jovem Andressa, “a ditadura para a gente nunca deixou de acontecer”. Antes dessa sequência final – em que a resistência se afirma como “reexistência” –, a trajetória de Ana é encerrada tendo como epígrafe um trecho de Um teto todo seu, no qual Virginia Woolf afirma que, no século XVI, uma mulher de talento terminaria louca ou suicida ou isolada numa cabana fora de um vilarejo.
Assim sendo e fazendo jus ao próprio nome – que pode ser interpretado como um prefixo de valor privativo, negativo –, Ana seria a que não foi, e a jornada pela América Latina não passaria da busca de um fantasma. Um fantasma de cujo passado não se tem certeza, também porque os mortos podem se transformar no que os vivos quiserem, uma vez que não têm mais domínio sobre a própria história, nos dizeres de Estela, em dois momentos do filme.
À luz da sequência que encerra o filme, parece-nos que teria sido mais apropriado valer-se da reflexão final do citado texto woolfiano, graças à qual afloraria o que ficou nas entrelinhas na dupla passagem dos anos 1970 para os dias atuais e de Ana para a slammer. Virginia Woolf relembra que William Shakespeare – considerado por ela o protótipo da mente andrógina – tinha uma irmã que não escreveu uma linha sequer por ter morrido jovem; ela, no entanto, continua viva nas mulheres intelectualizadas e nas donas de casa, a quem não sobra tempo para frequentar saraus. Essa outra metade de Shakespeare seria uma presença constante na esfera literária à espera de uma chance para renascer em outros corpos, com toda sua carga de experiências adquirida de outras mulheres que a antecederam, mesmo das que trabalharam sem reconhecimento. E, se uma obra é o prosseguimento de outra e, por sua vez, será continuada por uma nova, também uma mulher, mesmo não afamada, escreve voltada para trás, porque descende de todas as mulheres que a antecederam, tendo herdado delas características e limitações.
Nesse sentido, em vez de fazer de Ana uma vítima, em virtude das circunstâncias e por causa das bandeiras que levantou em sua arte – as da negritude, do feminismo, do lesbianismo, da sororidade, do esquerdismo, da arte engajada etc., tantas, que chegam a ser excessivas e deixam no filme vários fios soltos –, ela poderia ter sido mais bem integrada nesse grande painel de uma identidade feminina latino-americana, que, enquanto tal, ainda é fragmentada e precisa ser completada progressivamente por novas gerações de mulheres.[13] Este deveria ter sido o cerne da realização de Lúcia Murat, que se perde no meio da insistência sobre acontecimentos políticos. Porque os corpos daquelas mulheres foram insurgentes, transgressores, transformaram-se em armas que atacavam os costumes consagrados, afrontavam a moral vigente, minavam as instituições, portanto eles também eram políticos e subversivos tanto quanto outras ideias que circulavam naquelas décadas.
*Annateresa Fabris é professora aposentada do Departamento de Artes Plásticas da ECA-USP. Autora, dentre outros livros, de A fotografia e a crise da modernidade (C/Arte).
*Mariarosaria Fabris é professora aposentada do Departamento de Letras Modernas da FFLCH-USP. Autora, dentre outros livros, de O neo-realismo cinematográfico italiano: uma leitura (Edusp).
Referências
ARTUR, Margareth. “Slam é voz de identidade e resistências dos poetas contemporâneos”. São Paulo, Portal de Revistas da USP, 23 nov. 2017. Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-humanas/slam-e-voz-de-identidade-e-resistencia -dos-poetas-contemporaneos/>. Acesso em: 29 ago. 2021.
BARI, Atilio. “Persona sempre: Ilo Krugli”. Programa apresentado pela TV Cultura em 23 de agosto de 2021.
BRETON, André. “Frida Khalo de Rivera”. In: Le surréalisme et la peinture. Paris: Gallimard, 1965.
CHADWICK, Whitney. Women, art, and society. London: Thames & Hudson, 2002.
COLECTIVO ACCIONES de ARTE. “¡Ay Sudamérica! 400.000 textos sobre Santiago” (1981). Disponível em:<https://icaa.mfah.org/s/en/item/730004>. Acesso em:31 ago. 2021.
CORDERO REIMAN, Karen. “Aparições corporais/além das aparências: mulheres e o discurso do corpo na arte mexicana, 1960-1985”. In: FAJARDO-HILL, Cecilia; GIUNTA, Andrea (org.). Mulheres radicais: arte latino-americana, 1960-1985. São Paulo: Pinacoteca de São Paulo, 2018.
“Crisis en el arte y resistencia política: Colectivo Acciones de Arte (CADA)”. Disponível em:<https://www.memoriachilena.gob.cl/>. Acesso em: 31 ago. 2021.
FARNETI, Deanna. “Frida Khalo”. In: VERGINE, Lea. L’altrametàdell’avanguardia, 1910-1940: pittrici e scultricineimovimentidelleavanguardiestoriche. Milano: Mazzotta, 1980.
FERRARI, León. “Cultura: (Trabajo leído el 27/12/68 en el Primer Encuentro de Buenos Aires “Cultura 1968”)”. Disponível em:<https://icaa.mfah.org/s/en/item/ 761370>. Acesso em: 31 ago. 2021.
FERREIRA GULLAR. “A história do poema”. In: Poema sujo. São Paulo, Companhia das Letras, 2016.
GIUNTA, Andrea. “Marcas em forma de história”. In: FAJARDO-HILL; GIUNTA (org.), cit.
GRANDÓN LEAL, Romina Alejandra. Brigadas Ramona Parra: muralismo político y debate cultural en la Unidad Popular. Santiago: Universidad Alberto Hurtado, 2010.
Gretta: Auto-photos/Série Transformações – 1976/Diário de uma mulher – 1977. São Paulo:MassaoOhno Editor, 1978.
KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Rio de Janeiro: Editora Cobogó, 2019.
MATTOS, Carlos Alberto. “Trainspoting + Teatro-doc” (29 mar. 2017). Disponível em:<https://carmattos.com/2017/03/29/trainspotting-teatro-doc/>. Acesso em: 29 ago. 2021.
SANTA CRUZ, Victoria. “Hay que barrer”; “Me gritaron negra”. In: Poemas y cantos. Disponível em:<https:bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/poemas-y-cantos/Paginas/01-poemas.html?/id-poeta=Victoria_Santa_Cruz>. Acesso em:6 ago. 2021.
TRIZOLI, Talita. Atravessamentos feministas: um panorama de mulheres artistas no Brasil dos anos 60/70. São Paulo: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 2018.
WOOLF, Virginia. “Una stanza tutta per sé”. In: Romanzi e altro. Milano: Mondadori, 1978.
Notas
[1]Reelaborando uma série de conferências de teor feminista proferidas em Cambridge, em 1928, Virginia Woolf, em A room of one’s own (Um teto todo seu, 1929), desenvolveu uma reflexão sobre o lugar do feminino numa sociedade patriarcal, defendendo a ideia de uma mente andrógina, isto é, masculina e feminina, ao mesmo tempo, sendo a do homem predominantemente masculina e a da mulher predominantemente feminina. Abordou, ainda,em que medida a condição subalterna da mulher dificultava sua livre expressão – fosse ela intelectualizada ou não – einfluenciavauma produção literária nem sempre levada em consideração.
[2]“Tenía siete años apenas, / apenas siete años / ¡Que siete años! / ¡No llegaba a cinco siquiera! / De pronto unas voces en la calle, me gritaron ¡Negra! / ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! / ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! / ¿Soy acaso negra? me dije / ¡Sí! / ¿Qué cosa es ser negra? / ¡Negra! / Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. / ¡Negra! / Y me sentí negra, / ¡Negra! / Como ellos decían / ¡Negra! / Y retrocedí / ¡Negra! / Como ellos querían / ¡Negra! / Y odié mis cabellos y mis labios gruesos / y miré apenada mi carne tostada / Y retrocedí / ¡Negra! / Y retrocedí / ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! / ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! / ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! / ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! / Y pasaba el tiempo / y siempre amargada / seguía llevando a mi espalda mi pesada carga / ¡Y cómo pesaba! / Me alacié el cabello / me empolvé la cara / y entre mis entrañas siempre resonaba / la misma palabra/ ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! / ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! / Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y que iba a caer / ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! / ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! / ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! / ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! / ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! / ¡Negra! / ¡Y qué! /¡Y qué! / ¡Negra! / Sí / ¡Negra! / Soy / Negra / ¡Negra! / Negra / Negra soy / ¡Negra! /Sí /¡Negra! /Soy /¡Negra! /Negra /¡Negra! /Negra soy / De hoy en adelante / no quiero / lacear mi cabello /¡No quiero! /Y voy a reírme de aquellos / que por evitar, según ellos, /que por evitarnos algún sensabor /llaman a los negros gente de color / ¿Y de qué color? / ¡Negro! / ¡Y qué lindo suena! / ¡Negro! / ¡Y qué ritmo tiene! / ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro! /¡Negro! ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro! / ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro! / ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro! / Al fin comprendí / ¡Al fin! / Ya no retrocedo / ¡Al fin! / Y avanzo segura / ¡Al fin! / Avanzo y espero / ¡Al fin! / Y bendigo al cielo / porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color / Y ya comprendí / ¡Al fin! / Ya tengo la llave / ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro! / ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro! / ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro! / ¡Negro! ¡Negro! / ¡Negra soy!”. A composição é de 1960.
[3] Entre dezembro de 1968 e março de 1969, a Sociedade Argentina de Artistas Plásticos realizou o Primeiro Encontro de Buenos Aires, Cultura 1968, uma série de reuniões promovidas por Margarita Paksa, que contaram com uma ampla participação de artistas e intelectuais de diferentes tendências políticas, com o objetivo de criar um espaço comunitário em que o pacto ideológico contasse mais do que as diferenças estético-formais.
[4] O curta, disponível no youtube, foi rodado durante a feira La mujer y su mundo, realizada na Sociedade Rural de Palermo (Buenos Aires), como avisa sua cartela inicial, talvez para enfatizar que a feminilidade é um produto comercial, como outro qualquer.
[5] Era a época de Juan Carlos Onganía, o primeiro dos três ditadores militares que governaram a Argentina depois do golpe de 28 de junho de 1966 até a volta do peronismo ao poder em 1973. Foi um dos períodos mais duros em termos de repressão – bastaria lembrar a “Noite dos cassetetes” (29 de julho de 1966), quando cinco faculdades da Universidade de Buenos Aires foram invadidas pela polícia – e também um dos mais tumultuados, marcado por revoltas populares em Córdoba e Rosário, em 1969.
[6] Na segunda sequência de Quanto vale ou é por quilo? (2005), de Sérgio Bianchi, o narrador faz uma descrição detalhada e, no fim, irônica desse artefato de castigo: “A máscara de folha de Flandres é um instrumento de ferro, fechado atrás da cabeça por um cadeado, na frente tem vários buracos para ver e respirar. Por tapar a boca, a máscara faz com que os escravos percam o vício pelo álcool. Sem o vício de beber, os escravos não têm a tentação para furtar. Dessa forma, ficam extintos dois pecados; a sobriedade e a honestidade estão assim garantidas”. Em outro trecho do filme, já no mundo capitalista de hoje, Arminda, uma mulher negra, ao ver uma pobre senhora puxar uma carroça carregada de material reciclável, se identifica com ela e se imagina no seu lugar, mas no passado escravagista, portando uma máscara de flandres, a qual não consegue conter seu sofrimento. Depois dessa visão, Arminda, funcionária de uma ONG cujas falcatruas ela descobriu, resolve romper o silêncio e denunciá-las.
[7] A frase guarda afinidades com outro poema de Victoria Santa Cruz, Hay que barrer, do qual reproduzimos os primeiros versos: “Barrer la injusticia en la tierra / Barrer la miseria / Esta escoba que tú ves / Está hecha pa’ barrer / Barrer la injusticia en la guerra / Barrer la violencia / Si la paz queremos ver / aprendamos a barrer”.
[8] Algumas dessas histórias foram rememoradas em Setenta (2013), de Emilia Silveira, integrantedo voo que, em 1971, levou presos políticos para o Chile em troca do embaixador suíço Giovanni Enrico Bucher, sequestrado no ano anterior. No calor da hora, outros dois documentários haviam recolhido os depoimentos de muitos desses exilados: Brasil:relatossobre tortura, dos norte-americanos Haskell Wexler e Saul Landau, e Não éhora de chorar, de Luiz Alberto Sanz e PedroChastel. Dois anos antes, quinze presospolíticos haviam seguido para o México em aeronave da FAB, tendo sido trocados pelo embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke Elbrick. Em 2006, em Hércules56 (título tirado da matrícula do avião), Sílvio Da-Rin retratou esse episódio de 1969, retomado por Camilo Tavares em O dia que durou 21 anos (2012). Sobre outros países latino-americanos citados na produção de Lúcia Murat não foram realizados filmes, mas muitos exilados passaram pela Argentina – como Ferreira Gullar, o qual, depois de peregrinar por outras terras, chegou a Buenos Aires, onde, entre maio e outubro de 1975, compôs oque ele achou que seria seu “testemunho final”, o célebre Poemasujo (1976) – ou seguiram para Cuba, destino também de muitas crianças separadas de seus familiares. Existem depoimentos de filhos de militantes e o filme O prédio dos chilenos (2010), de Macarena Aguiló, dá uma ideia de como foi a vida desses pequenos na ilha. Cuba foi ameta também de José Maria Ferreira de Araújo, integrante da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), onde conheceu a paraguaia Soledad Barrett. Em 1970, omilitante regressou a seu país, sendo assassinado, e,pouco depois, a jovem comunista também veio para o Brasil, filiando-se à VPR e ligando-se ao Cabo Anselmo. Este,uminfiltrado a serviço dosórgãosderepressão, entregou aos militares a paraguaia e os demais companheiros escondidos num sítio de Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, onde se deu a “Chacina da chácara de São Bento”, como ficou conhecida (8 de janeiro de 1973).
[9] A que aparece no filme – com o presidente de capacete e armado, circundado por integrantes do GAP (Grupo de Amigos Personales) – é a divulgada pelo New York Times. Na verdade, ela é de 29 de junho de 1973 e foi tirada por ocasião de um frustrado golpe militar. A última foto é de autoria do fotorrepórter argentino Horacio Villalobos, o qual, no fatídico dia 13 de setembro, clicou Allende no momento em que, de uma sacada do primeiro andar do Palácio de la Moneda, eleacena para um grupo de secundaristas.
[10] O diretor, ator, dramaturgo, figurinista, escritor e artista plástico argentino Ilo Krugli, mudou-se para o Brasil no início dos anos 1960, onde ministra um curso de teatro de bonecos e inicia a conceber uma de suas peças mais conhecida História de um barquinho, concluída em 1972. Em viagem pela América Latina, retorna ao Rio de Janeiro, depois de passar pelo Chile (onde é detido) e pela Argentina, e funda o Teatro Ventoforte (1974), tornando-se uma referência no campo do teatro de resistência, no do teatro de animação e no da arte-educação. Em 1980, transfere-se para São Paulo.
[11] De fato, no Chile, o espectador é guiado pela voz de Victor Jara, que entoa Te recuerdo Amanda (1969), e pelo grupo folclórico Quilapayún, o qual interpreta Vamos mujer, uma das partes de La cantata de Santa María (1969), de Luis Advis, todos expoentes da Nueva Canción Chilena. Pela primeira vez, foram escolhidas músicas correspondentes ao período em que Ana perambulou pelos países de língua espanhola. Foi nos anos 1960 que começou a surgir a Nueva Canción Latinoamericana, a qual, à denúncia social, aliava a incorporação do folclore. Violeta Parra foi sua precursora no Chile; a grande intérprete do Nuevo Cancionero Argentino foi Mercedes Sosa; os representantes mais famosos da Nueva Trova Cubana foram Silvio Rodríguez e Pablo Milanés; no México, Amparo Ochoa cantou a identidade da Gran Patria Latinoamericana. Por isso, soa óbvio demais o tango (por mais que seja de Livio Tragtenberg) que introduz a capital argentina e parecem deslocados os boleros que embalam as estadias cubana e mexicana (Vete de mí, Nosotros; Sabor a mí), compostos nos anos 1940-1950. E, por se tratar de um filme sobre mulheres, poderiam ter sido escolhidas mais vozes femininas e não apenas as de Omara Portuondo, uma integrante da velha guarda cubana, e de Alice Caymmi.
[12]Trata-se do slam Sete anos apenas, quea poetisa propõe junto com as integrantes do Slam das Minas. Introdutora dos campeonatos de slam no país e com uma boa exposição na mídia, Roberta Estrela d’Alva é a grande representante desse gênero entre nós. Conhecida também no exterior, conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo de Poesia Slam, realizada em Paris em 2011.
[13] Reflexão desenvolvida a partir da visão de To be continued… (Quebra-cabeça da América Latina), que integra a exposição Regina Silveira: outros paradoxos, em cartaz no MAC USP entre 28 de agosto de 2021 e 3 de julho de 2022. Nesse grande painel de 1997, a artista gaúcha amplia uma obra gráfica em tamanho ofício feita para a publicação Re…View, de Nova York, em 1992, por ocasião dos quinhentos anos da descoberta da América. O quebra-cabeça evidencia a visão estereotipada que se tem da América Latina, mas, por estar incompleto, pode ser também um convite a completar o que falta com um novo olhar. Regina Silveira foi uma das artistas brasileiras presentes na mostraMulheres radicais: arte latino-americana, 1960-1985.