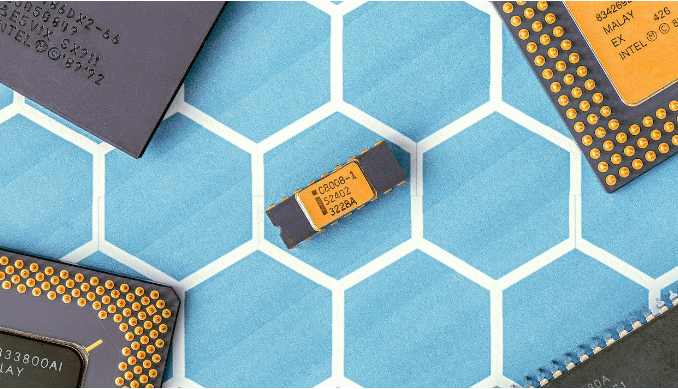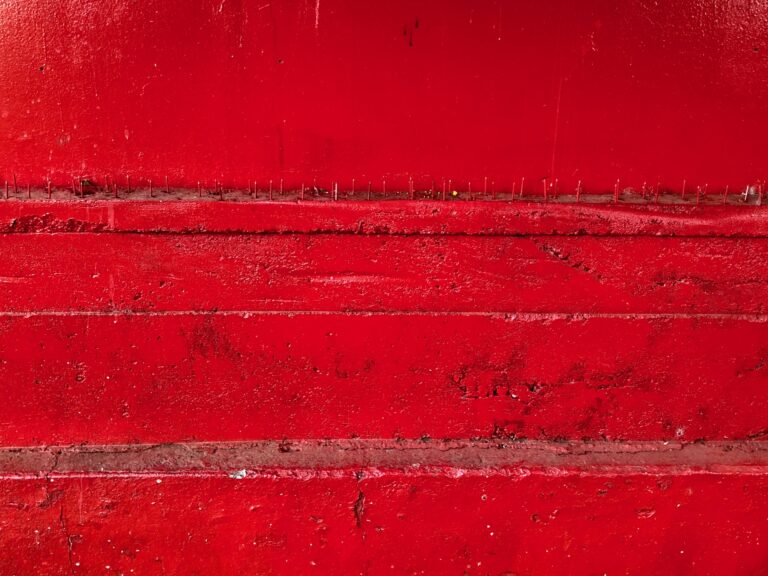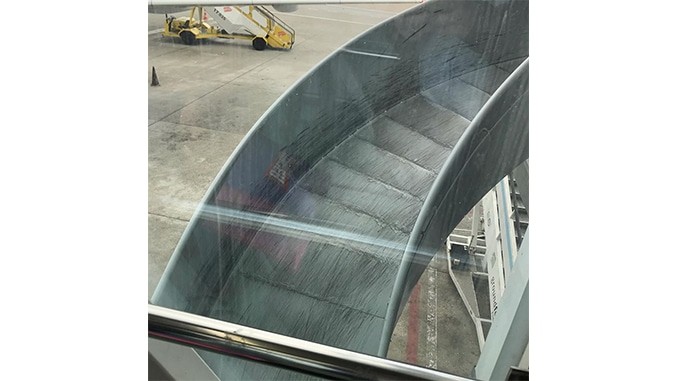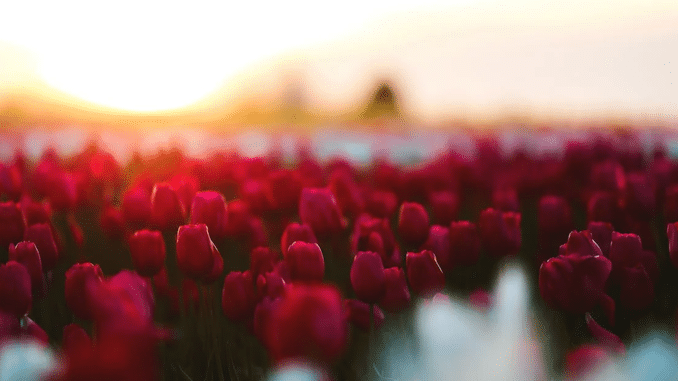Por JOÃO SETTE WHITAKER*
A pandemia não ocorreria dessa forma se, simplesmente, nossas cidades não fossem o espaço do mais dramático apartheid
A marca da urbanização brasileira é a invisibilidade da pobreza. Nossa sociedade é de tal forma segregadora que ao produzir cidades cindidas entre poucos ricos e muitos pobres, torna estes últimos invisíveis aos primeiros.
A falta de moradia no país talvez seja o exemplo mais dramático. Quando o empregado ou a empregada adentram a casa dos patrões, materializam-se para estes, sem que eles sequer se perguntem qual a viagem que fizeram e sequer de onde vieram. Onde estão suas casas? Em um distante bairro da periferia, que não interessa muito, desde que cheguem na hora no serviço. Não interessa quanto tempo o “Pernambuco”, chapeiro da padaria gourmet, levou para chegar ao serviço, apertado em um ônibus, às vezes por horas, como tampouco interessa saber para onde vai quando largar o trabalho, a caixa do supermercado que está ali passando suas compras na madrugada. Com certeza, todos vão para muito longe, porque no bairro onde trabalham, não há lugar para que morem.
No Brasil, a cidade que “funciona” é a tal ponto moderna e avançada que nela podemos nos sentir como em qualquer cidade desenvolvida. A esmagadora maioria branca de classe média-alta e alta vive nos chamados “centros expandidos”, nas orlas praianas e nos bairros “nobres” e lá constrói sua vida: a escola, a faculdade, os amigos, os cinemas, a academia, o clube, as lojas da moda, os bares descolados, os melhores hospitais, tudo está naquele fragmento de cidade. Alguém que nasça por ali pode passar sua vida ali sem precisar de mais nada.
A pobreza das cidades – que, no entanto, representa a maior parte dos territórios urbanos metropolitanos – é invisível. Para os mais ricos, a falta de moradia é percebida somente quando se pega o carro para ir à praia ou ao campo, e se é obrigado a cruzar aquele mar vermelho e infinito de casinhas precárias nas periferias pobres. Para os mais ricos, a falta de moradia é percebida pelo canto do olho quando, ao andar no centro, se avista um prédio aparentemente “invadido” (pois para eles, a propriedade, mesmo quando vazia e abandonada, é sagrada), ou quando um morador de rua pede uma esmola.
A falta de moradia reflete essa característica mais marcante na forma das classes altas brasileiras enfrentarem a desigualdade que no fundo tanto lhes serve: ignorando-a. Assim como se ignora, a cada ano, o destino trágico dos que morrem em deslizamentos, soterramentos, enchentes. Assim como fingimos não ver que, no nosso país, mais de vinte mil jovens negros são assassinados por ano, muitos deles pela polícia que deveria protege-los. São, todos, na vida ou na morte, invisíveis.
Essa invisibilidade permite que não se dê qualquer atenção às possíveis soluções para a desigualdade e a tragédia urbana que se vive num país que está, pasmem, entre as doze maiores economias do mundo. Quais as políticas a serem implementadas para diminuir um pouco tamanha desigualdade urbana? Saneamento? Para que, se nos bairros ricos há saneamento? Mais escolas ou postos de saúde? Para que, se nos bairros ricos todos estão servidos por caríssimas escolas particulares e clinicas que mais parecem salões de beleza? Melhores condições de mobilidade e transporte mais humano e eficaz? Para que, se no país se vendem quinze mil automóveis por dia, essa solução de transporte confortável e individual, para quem pode pagá-la?
As políticas urbanas não são vistas como necessárias porque não são de fato necessárias para os que vivem na cidade “que funciona”. Elas são desnecessárias, pois atendem a problemas invisíveis a essa gente. Como entender que se tenha enterrado alguns milhões do (seu) dinheiro público em alguma obra invisível de drenagem ou saneamento, numa contenção de encosta em algum canto remoto de uma periferia qualquer?
Na Constituição de 88, um alento progressista que o país viveu, entendeu-se que educação e saúde, mesmo que para os mais pobres, eram fundamentais para a sobrevida da nação. Mesmo que sob caretas dos conservadores, carimbou-se que 20 e 15% dos orçamentos públicos em todas as esferas de governo seriam obrigatoriamente destinados a elas. Mas como a (falta de) casa era invisível, ninguém atentou que deveria ter-se destinado a mesma quantia, ou mais, para garantir moradia com urbanização para todos. E não foi só por isso. Foi também porque falar em cidades mais democráticas onde todos possam viver em bairros com qualidade, significa construir cidades em que as pessoas, ricos e pobres, minimamente se misturam, dividem o espaço. E isso, no nosso Brasil que carrega seu passado escravocrata, é inadmissível.
Se na África do Sul precisaram implantar à força a segregação com um enorme aparato legal e institucional (que valeu àquele país a condenação mundial por muitos anos), no Brasil nada disso foi necessário: a segregação deu-se naturalmente pela lógica perversa de produção do nosso espaço, que dá tudo aos ricos e impede qualquer possibilidade aos mais pobres de acessar a cidade infraestruturada. Na Europa, tiveram o Estado do Bem-Estar Social, aqui tivemos o nosso “Deixe-Estar Social”: deixe os pobres abandonados à própria sorte. Como sabem construir (são eles os pedreiros da cidade que funciona), “darão um jeito” de se abrigar construindo suas casas periferia afora. E assim a morfologia urbana da maior parte dos nossos territórios urbanos é a da autoconstrução.
“Esqueceram-se” disso na Constituição, e esqueceram que é na casa onde tudo começa e torna-se possível: a educação e a saúde inclusive. Pois com endereço, os filhos poderiam ir à escola, teriam onde fazer suas lições à noite, consegue-se emprego e conta bancária, com água e saneamento e coleta de lixo, evitam-se doenças. Mas não, aqui no nosso país achou-se por bem acreditar que todos se virariam no território da precariedade.
E eis então, que chega uma pandemia. A maior de todas. Terrível, temida e invisível. Assusta a nação porque, de início, é uma doença que ataca os ricos. Os que chegam de viagem à Europa. Casamentos milionários são foco de contaminações mortíferas. As classes altas ficam assustadas. Mas, pouco a pouco, mesmo sem fazer nada, ou quase nada do que se deveria, a terrível doença começa a se deslocar. Dos bairros ricos, infiltra-se rápida e sorrateiramente pelas periferias pobres. E mata. Mata mais do que matou nos bairros ricos.
Porque na cidade que funciona, se não forem idiotas (e há muitos), as pessoas podem proteger-se, de maneira razoavelmente simples: “basta” ficar em casa, usar máscara nas poucas saídas, higienizar as mãos. Para a maioria da população que mora nesses bairros, de alguma forma o emprego foi garantido, e a internet, acessível a todos por banda larga, permite que a vida continue. Reuniões são feitas, aplicações realizadas, a yoga pode ser feita à distância, as aulas acontecem na frente da telinha, as compras chegam rápido graças à entrega expressa, as lives multiplicam-se aos milhares. Muita criatividade, muita coisa boa, de fato, também muita solidariedade, é inegável. Há alguns inconvenientes, como fazer faxina e lavar a roupa, e quando os mops e aspiradores robôs já não dão mais conta, uma discreta movimentação de empregadas domésticas começa a ser vista nos pontos de ônibus. Com “todos os cuidados”, muito embora os ônibus estejam lotados, muitos patrões e patroas fazem seus empregados voltarem à ativa. Vindo de seus bairros longínquos, mas isso é um problema do portão para fora. A indústria da construção, então, essa sequer parou. Lojas de materiais de construção nunca pararam, e os pedreiros continuam nas obras. Afinal, a “cidade que funciona” não pode parar.
E então, como é de se esperar em epidemias, esta arrefece um pouco nos bairros ricos. A quarentena funciona, os leitos dos hospitais não sobrelotam. Nos públicos, também há certa folga, embora nos dados nacionais, o país estranhamente seja o recordista. Claro que o sendo ele de proporções continentais, o respiro que se vê em São Paulo ou no Nordeste é o oposto da situação no Mato Grosso ou no Sul, onde a pandemia parece ainda chegar com toda sua agressividade. Mas lá também, os ricos acabam se virando. Alguns até bem demais: no Mato Grosso, os presidentes da Assembleia e do Tribunal de Contas do Estado, ambos milionários e infectados, pegaram seus jatinhos e voaram para hospitais chiques e com vagas na cidade de São Paulo. Certamente, irão engrossar as estatísticas dos que se salvaram.
Mas esse respiro, que às vezes parece artificialmente criado por governadores sensíveis às pressões do mercado, não mostra que a subnotificação, dizem, pode ser de cerca de dez vezes mais casos do que os números oficiais apontam. Há uns dois meses, a geógrafa Fernanda Pinheiro, usando os dados do DataSUS por CEP em São Paulo, mostrou que, no momento de maior subida da curva, nos bairros ricos como o Morumbi, de cada 42 pessoas diagnosticadas com Covid-19, uma morria. Nos 22 bairros mais pobres, da Água Rasa à Vila Medeiros, uma pessoa morria, para cada duas diagnosticadas. Em Ermelino Matarazzo, a relação era de um para um. O que isso quer dizer? Que nos bairros ricos, as pessoas têm acesso ao teste razoavelmente rápido, em clínicas particulares e hospitais e, quando diagnosticadas, têm tempo para cuidar-se. Poucas morrem (1 em 42). Nos bairros pobres, as pessoas sequer conseguem fazer o teste. Quando o fazem, no hospital, estão já em estado grave, e uma em cada duas morre. Ou seja, o problema é essencialmente urbano: falta de acesso a serviços de saúde capazes de potencializar o cuidado preventivo.
E assim a pandemia instalou-se nos bairros onde é difícil chegar à assistência de saúde, mas também onde é difícil isolar-se. Primeiro, por questões econômicas, já que o trabalho informal, que representa quase metade da população economicamente ativa brasileira, não tem garantias, e que os governos, em todas as esferas, pouco fizeram para amparar esses trabalhadores. E quando houve uma mínima ajuda, ela é complicada e difícil de obter, mas sobretudo não atinge um contingente de centenas de milhares, ou talvez milhões de pessoas que, sem CPF, sem endereço, sem documentos, sequer constam nas planilhas das estatísticas oficiais. O Ministro Paulo Guedes espantou-se, ora vejam, com a existência de 38 milhões de brasileiros “invisíveis”. É porque são brasileiros de um outro Brasil, que não o seu.
Mas a pandemia instalou-se nos bairros pobres também e sobretudo por questões urbanas estruturais: a coabitação familiar – quando vivem juntas várias gerações de uma mesma família, impedindo o isolamento seguro dos idosos –, a alta densidade habitacional, a falta de casas e a precariedade de grande parte das existentes, são elementos constitutivos do chamado “déficit habitacional” brasileiro, conhecidos há décadas e apontados por instituições sérias como a Fundação João Pinheiro. A falta de saneamento é patente e apontada por especialistas também há anos e anos. Na décima economia do mundo (ou por ai), cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, potências econômicas do país, ostentam 96% e 85% do esgoto coletado, segundo o Instituto Trata Brasil, mas poucos dizem que desse esgoto, 40% em São Paulo, e 55% no Rio, sequer é tratado. Belém, e seus 1,5 milhão de habitantes, tem somente 13% de cobertura de esgoto. Mas esse não é um problema só do Norte ou do Nordeste. Em Canoas ou em Joinville, no Sul, o esgoto cobre somente 30% da cidade.
E quando chega a pandemia, vão falar que o problema é máscara, lavar as mãos e manter-se isolado? A pandemia do Covid-19 escancarou o que os urbanistas vêm dizendo há anos: os problemas das cidades brasileiras são de ordem estrutural. A letalidade do Covid não se enfrenta (só) com medidas paliativas emergenciais. Ela não ocorreria dessa forma se, simplesmente, nossas cidades não fossem o espaço do mais dramático apartheid. As políticas que poderiam impedir esse cenário são todas elas estruturais e, por isso, só teriam efeito se tivessem sido iniciadas há dez anos ou mais. Mais casas, mais saneamento, melhores condições de vida, mais equipamentos, são coisas que demoram décadas para serem feitas. Quando chega o Covid, é tarde demais.
Mas, como disse, o problema urbano é um problema invisível, que afeta pessoas invisíveis, do portão para fora das casas ricas. Então, ninguém dá bola se, a cada quatro anos, imensos esforços para implementar alguma transformação, para por em prática políticas estruturais de longo prazo, são sistematicamente destruídos em nome da guerra político-partidária. Em São Paulo, o Plano Municipal de Habitação que eu coordenei a duras penas, que não cita o nome de ninguém, apenas da Prefeitura, e propõe ações específicas para 16 anos, identificando a demanda, as problemáticas e indicando os caminhos para solucioná-las (aluguel social, ações para a população mais vulnerável, produção habitacional por construtoras e por mutirão, regulação do mercado de aluguel, melhoria habitacional, etc., etc.) está até hoje enterrado em alguma geladeira da Câmara Municipal, à qual foi enviado em dezembro de 2016. Um plano de política de Estado, que previa ações que teriam tido bastante efeito hoje no Covid. Mas não, era um plano para os invisíveis, e por isso invisível ficou. E isso se repete país afora, invariavelmente.
A verdade é que, para começar a resolver alguma coisa, seria necessário um pacto nacional em torno do compromisso de se inverter drasticamente, por pelo menos dez anos, a prioridade de TODOS os investimentos públicos no país: chega de túneis, pontes, viadutos, vias expressas, anéis viários, camadas e mais camadas de asfalto nos bairros chiques, complexos de convenções, palácios, enquanto não se fizer saneamento, pavimentação, luz, escolas, hospitais, praças, parques, centros de cultura e de esportes, e casas, muitas casas, em todas nossas periferias e também nos bairros centrais. Desapropriem-se ad hoc com títulos da dívida pública todos os prédios abandonados em áreas centrais para destiná-los à moradia, e gaste-se o que for necessário – pois dinheiro não falta à décima economia do mundo – para reformá-los para tal. Invista-se drasticamente em transporte público de massa eficaz (e não monotrilhos milionários que ficam parados) em detrimento dos gastos para os automóveis.
Mas não, parece que nem mesmo o Covid-19 será capaz de provocar isso. Pois aconteceu com a pandemia o que acontece com a maioria das mazelas sociais brasileiras. Ao deslocar-se para as periferias das grandes metrópoles, tornou-se mais invisível do que já era. Ganhou a invisibilidade da pobreza. Assim, jovens endinheirados puderam voltar aos bares do Leblon. “Vai tomar no c…. Corona, vai tomar no c…., máscara!” foi a expressão do rapaz que fez o filme que viralizou, não sem lembrar o famoso “vai tomar no c… Dilma” há alguns anos. A expressão preferida de certas elites que com sua sutileza de sempre exaltam seu egocentrismo, seu poder e desprezo absoluto sobre tudo e todos que os desagradem, de uma presidente legitimamente eleita a um vírus que tira o direito ao chopp. Em São Paulo, a Avenida Sumaré, na “cidade que funciona”, era domingo um fervilhar de gente fazendo sua corrida dominical. Em Santos, um desembargador com polpudo salário pago pelo dinheiro público, que também fazia seu exercício, destratou o guarda que o multou por não usar máscara. Rasgou, jogou no chão, deu carteirada. Para toda essa gente, o Coronavirus parece já ter passado. Como o presidente espertamente apostou logo no início de tudo, reforçam a convicção de que, no fundo trata-se somente de uma gripezinha. Pelo menos para eles.
Mas no Brasil, o Covid-19 já mata quase 80 mil, em cinco meses. A Guerra do Vietnã, que ceifou uma geração de jovens americanos e deixou marcas sociais que ainda perduram, matou 60 mil soldados em…. dez anos (não vamos falar aqui dos milhões de vietnamitas mortos, raramente lembrados nas estatísticas oficiais). Mas aqui a coisa está tão naturalizada que já se passam meses sem que sequer tenhamos um Ministro da Saúde em meio à maior crise sanitária em cem anos e ninguém parece mais dar muita bola. Pelo menos no “andar de cima” da sociedade. Afinal, o vírus já passou, não é?
Assim, corremos seriamente o risco de que o “novo normal” de que tanto se fala seja, na verdade, mais do mesmo. Só que com máscara. Voltaremos ao normal da nossa sociedade do apartheid que deixa de fora da vida pelo menos um terço da sua população. Até que chegue a próxima pandemia. Se não afetar os ricos, nem será percebida. Será que cem mil mortos, que é para onde rumamos, não serão suficientes para promover a radical mudança que, como está hoje escancarado, nossa sociedade doente tanto precisa? Minha esperança é que sejam os jovens, o mais rapidamente possível, a dar um chega pra lá nos que, do alto do seu poder, insistem em manter o país na barbárie.
*João Sette Whitaker é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU-USP)