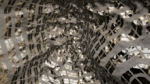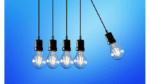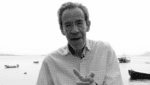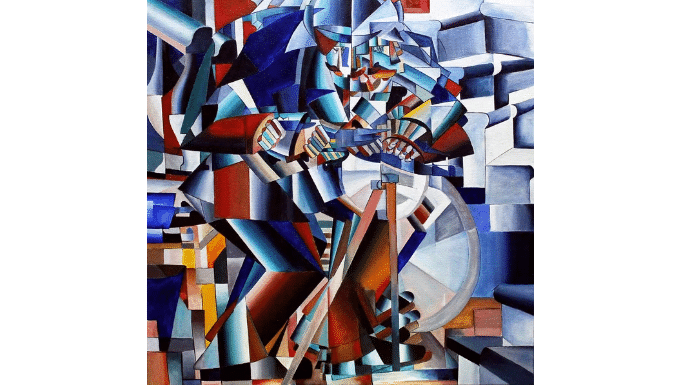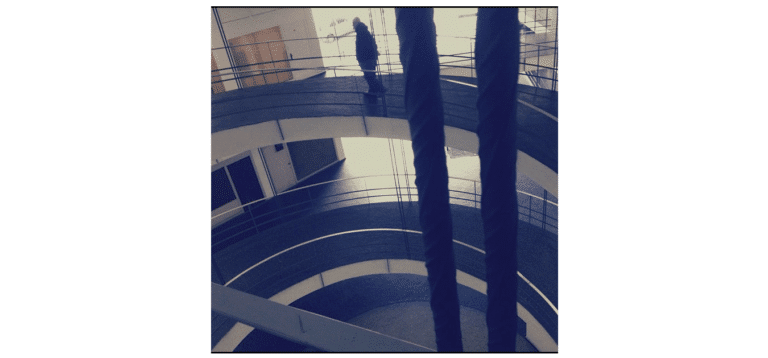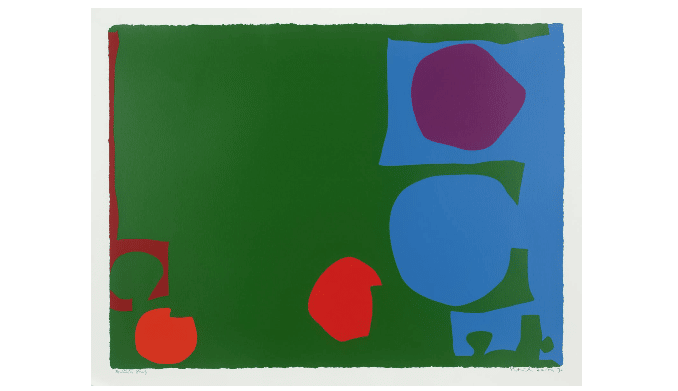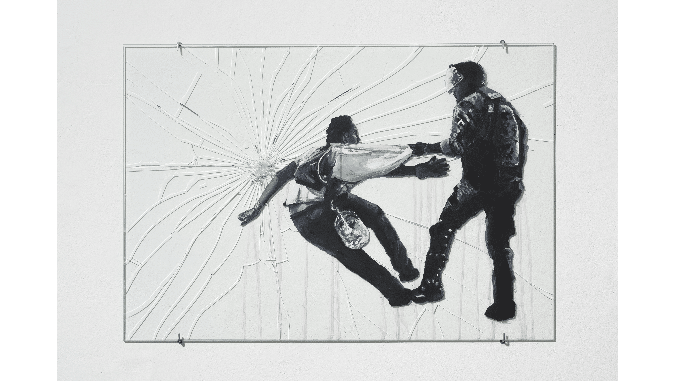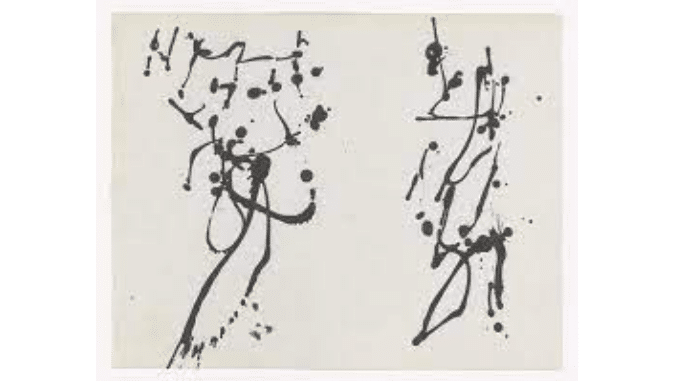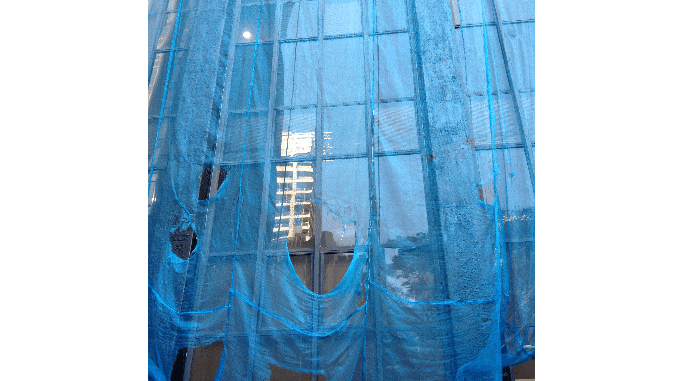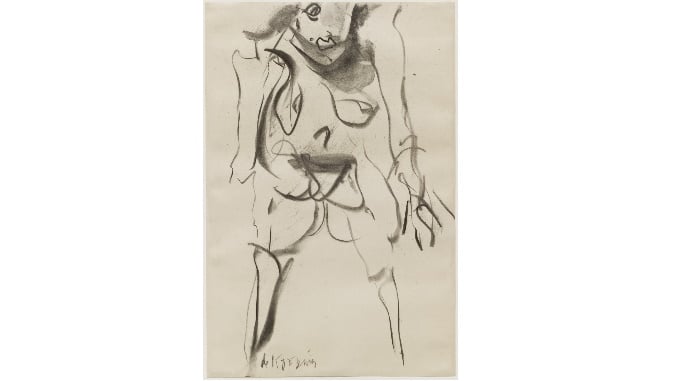Por LEONARDO BELINELLI*
Comentário sobre o livro recém-lançado de Alexandre de Freitas Barbosa
Os países periféricos costumam ser exigentes com seus intelectuais. Primeiro: demandam deles uma “invenção analítica”, pois suas matérias sociais, políticas e culturais são avessas a vários dos supostos que embasam teorias forjadas em nações centrais, costumeiramente universalizadas de modo equivocado. Por outro lado, os países periféricos também costumam convocar seus intelectuais a atuarem na prática – seja na política (em cargos eletivos ou técnicos, ou mesmo na burocracia partidária) ou em instituições socialmente capilarizadas, como a mídia de grande circulação. Em suma, também requerem uma capacidade “política de inventar”. Em tais condições, ficam claros os nexos entre pensamento e vida sociopolítica.
Esse é o caso do Brasil, onde se formou, desde a independência – que completa 200 anos no ano que corre – um pensamento original, embora nem sempre sistemático, dedicado tanto a entender suas especificidades, frequentemente em vínculo com os influxos externos, como a orientar práticas capazes de superar as condições legadas pela colonização.
Várias das dificuldades e das potencialidades envolvidas nesse processo tenso são indicadas em dois livros recentes do economista e historiador Alexandre de Freitas Barbosa, O Brasil desenvolvimentista e a trajetória de Rômulo Almeida (Alameda) e Um nacionalista reformista na periferia do sistema: reflexões de economia política (Fino Traço).
Antes de examinar cada uma das publicações, vale chamar a atenção para os contrastes evidentes entre ambas. O vasto livro acerca da trajetória do economista baiano Rômulo Almeida – originado da tese de livre-docência do autor, defendida no Instituto de Estudos Brasileiros (IEB) da Universidade de São Paulo (USP) – representa à perfeição o estilo de trabalho requerido pela rotina universitária. Nele, encontramos uma detalhada pesquisa sobre um personagem importante, embora pouco conhecido, na elaboração intelectual e política do que o autor chama de “Brasil desenvolvimentista”, categoria sobre a qual retornaremos a seguir.
Já Um nacionalista reformista na periferia do sistema: reflexões de economia política é livro de ordem inteiramente diferente. Ao contrário da pesquisa especializada que deu origem ao livro mencionado no parágrafo anterior, Um nacionalista reformista colige mais de 40 textos de intervenção do autor, que tratam de temas tão variados quanto a história intelectual brasileira, os dilemas do Brasil contemporâneo (inclusos o golpe contra Dilma Rousseff e a ascensão do bolsonarismo), comércio internacional, a ascensão da economia chinesa e a crise global pela qual passamos desde 2008.
Como um não-economista, faço uma menção especial aos artigos que tratam de economia política, muitos dos quais publicados em jornais como Valor Econômico e Folha de São Paulo. Não apenas revelam a índole pública que preside o pensamento de Barbosa, que não se exime de propor alternativas, como procuram sintetizar e explicar os debates econômicos e torná-los acessível ao público não versado no assunto. Assim, a orientação valorativa democrática da reflexão converte-se em forma democrática de pensar, cuja força adquire efeito especial se levarmos em conta que os textos circularam, no mais das vezes, em espaços dominados pela ortodoxia econômica.
Feitas as observações iniciais, as perguntas que imediatamente se colocam são duas: há unidade nessa diversidade? E o que os livros revelam da posição do autor? Comecemos pela tese de livre-docência.
Uma análise, dois planos
Por onde começar? Começar pelo título de O Brasil desenvolvimentista e a trajetória de Rômulo Almeida pode ser adequado porque ele revela, com clareza, os elementos que articulam a empreitada de Barbosa. Elementos, aliás, muito diferentes, porém igualmente importantes para a estrutura do livro. Dito de outra maneira, embora a publicação seja produto de uma pesquisa sobre a “trajetória de Rômulo Almeida”, é, na verdade, muito mais que isso. Para interpretar o percurso do economista baiano, o autor se viu na contingência de construir um esquema histórico-interpretativo amplo e com diversas consequências.
Aí o papel da noção – ou seria um conceito? –“Brasil desenvolvimentista”. A um leitor desatento, poderia parecer que esse é apenas o nome que Barbosa cunhou para designar o período histórico brasileiro compreendido entre 1945 e 1964, classicamente conhecido como “República populista”. A recusa do autor em designá-la desse modo, ilumina seu intento, explicitado no subtítulo da obra: chamar a atenção para a articulação entre projeto, interpretação e utopia (conceito retirado de Karl Mannheim) desenvolvida pelos “intelectuais orgânicos do Estado” em torno dos vínculos entre “desenvolvimento” e “nação”. São as vicissitudes envolvidas nessa articulação, e o papel desempenhado por Rômulo Almeida, que estão em jogo no livro.
Notemos as polêmicas implicadas na noção de “Brasil desenvolvimentista”. A primeira, em certa medida clássica, é a recusa à interpretação marxista gestada entre os sociólogos da Universidade de São Paulo (USP) – chamados de “intelectuais críticos da academia” – para explicar “o colapso do populismo”, como indica célebre livro de Octavio Ianni, O colapso do populismo. Em lugar de uma deficiência estrutural do projeto de desenvolvimento formulado pelos boêmios cívicos e outros intelectuais, o autor assinala os problemas conjunturais como responsáveis pelo golpe de 1964.
Daí a ênfase conferida à agência dos indivíduos – em especial, dos intelectuais –, bem representada na atenção conferida à vasta gama de personagens do drama político do período. Entre a análise da estrutura social e a trajetória singular do Rômulo Almeida, o livro, ciente de que uma trajetória política e intelectual não se dá no vácuo de relações sociais, acaba construindo uma prosopografia da intelligentsia brasileira do período.
Mais decisivo, porém, é a segunda das polêmicas, que consiste em negar que a acumulação de capital levada a cabo pelos militares deva ser compreendida à luz do conceito de “desenvolvimentismo”. Mais precisamente, esse não seria um período desenvolvimentista, em que pese a participação estatal no desenvolvimento econômico, porque justamente carente da utopia igualitária desenvolvimentista. Em termos mannheimianos, 1964 representaria a inflexão da utopia à ideologia. Se é assim, estamos, como se percebe, diante de um conceito exigente de “desenvolvimentismo”, que envolveria mais do que a combinação entre planejamento econômico e ênfase industrializante. Este exigiria uma invenção política, que só é possível a partir de uma combinação entre orientação valorativa e imaginação analítica.
O raciocínio tem amplas consequências e nos traz à terceira dimensão das polêmicas. Em águas koselleckianas, estabelece polêmica com a própria história do conceito de “desenvolvimentismo” no Brasil, calcada, ao ver do autor, numa insuficiente compreensão do seu sentido original – o que implica o questionamento de outro cânone historiográfico, que interpreta dos cinquenta anos compreendidos entre 1930 e 1980 à luz do “desenvolvimentismo”. Reverbera, também, no debate contemporâneo entre economistas brasileiros de esquerda, que discutem sobre a dimensão “desenvolvimentista” dos governos petistas (2002-2016). Da perspectiva de Barbosa, o fundamental aí estaria na presença – ou melhor, na ausência, como veremos a seguir – de um “projeto nacional”. Em suma, a polêmica sobre a historicização da história, digamos assim, não se dá por veleidade individual, mas por uma orientação teórica e valorativa que lhe empresta sentido ao articular uma certa visão do passado aos dilemas do presente.
O raciocínio fornece a deixa para passarmos ao grande personagem do livro, Rômulo Almeida. A escolha nada tem de óbvia. Como o próprio Barbosa assinala, o economista baiano, além de pouco lembrado, não é autor de ensaios ou trabalhos clássicos. Ao contrário, seus escritos são dispersos e de natureza variada. De certa maneira, portanto, o autor procura examinar o “Brasil desenvolvimentista” a partir da trajetória de um personagem periférico (e/ou periferizado?) na historiografia, embora central na história.
Duas consequências dessa escolha chamam a atenção. A primeira: ao examinar a história de um ponto de vista de um “praxista” (o termo é do próprio Almeida), o livro indica que está menos preocupado em captar a coerência ideológica forjada em um sistema de ideias e mais interessado no processo histórico então em curso e na maneira como os agentes interagem. Sem desprezar o pensamento – afinal de contas, o que seriam interpretação, projeto e utopia se não ideias? –, o autor ataca o lugar onde ele se converte em força produtiva, uma vez que articulado aos interesses dos diversos grupos em conflito.
Nesse sentido, e essa é a segunda consequência para a qual vale chamar a atenção, a trajetória multifacetada de Rômulo Almeida permite indicar que o que estava em jogo não se restringia ao plano econômico, embora este fosse fundamental. Ao criticar os pressupostos da periodização histórica rotineira sobre o período entre 1930-1980, Barbosa esclarece: “Parte-se do pressuposto de que o desenvolvimento é assunto de economistas e está, portanto, circunscrito à sua matriz econômica. Nada mais distante da maneira como pensavam Rômulo Almeida e os intelectuais orgânicos do Estado” (BARBOSA, 2021, p. 521).
Desse prisma, impossível não perceber a afinidade entre a iconoclastia de Almeida e a maneira como a qual o próprio estudo foi construído. Ao contrário dos que buscam a segurança teórica e a validação dos pares em noções canônicas, Barbosa não se furta a cunhar conceitos, que, entrelaçados, dão um tom muito particular ao livro. Além do já mencionado “Brasil desenvolvimentista”, encontramos “fragmentos de geração”, “intelectuais mercadistas”, “intelectuais orgânicos de Estado”, entre tantos outros. Não está em jogo aqui o detalhamento conceitual, mas a construção deliberada de uma caixa de ferramentas que sejam úteis na transmissão do recado. Em poucas palavras, estamos diante de uma concepção “praxista” de trabalho intelectual.
As observações anteriores permitem destacar, também, a importância que Barbosa confere aos intelectuais. Não porque os eleja como objetos de estudo em si ou por trazer, implícita, uma concepção elitista do processo de produção e circulação de ideias. Pelo contrário: na perspectiva do autor, homóloga à de seus mestres inspiradores, os intelectuais importam pelo lugar privilegiado que ocupam no processo de formulação de ideias e capacidade de colocá-las em prática. Importam, portanto, não em si mesmos, mas pela sua posição e função social. Estamos longe de uma concepção ingênua e acrítica desses personagens, hoje em baixa. Na verdade, como veremos no texto a seguir, Alexandre extrai consequências teóricas e práticas dessa concepção.
*Leonardo Belinelli é doutor em ciência política pela USP, pesquisador associado do Centro de Estudos da Cultura Contemporânea (CEDEC) e editor da Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais (BIB/ANPOCS).
Publicado originalmente no Boletim Lua Nova.
Referências
Alexandre de Freitas Barbosa. O Brasil desenvolvimentista e a trajetória de Rômulo Almeida: projeto, interpretação e utopia. São Paulo, Ed. Alameda, 2021, 580 págs.
Alexandre de Freitas Barbosa. Um nacionalista reformista na periferia do sistema: reflexões de economia política. Belo Horizonte, Fino Traço, 2021.