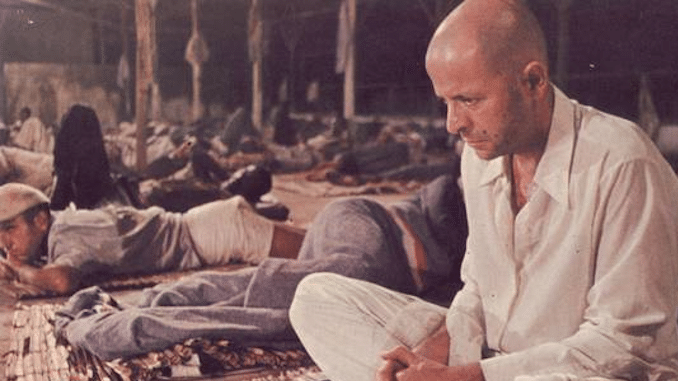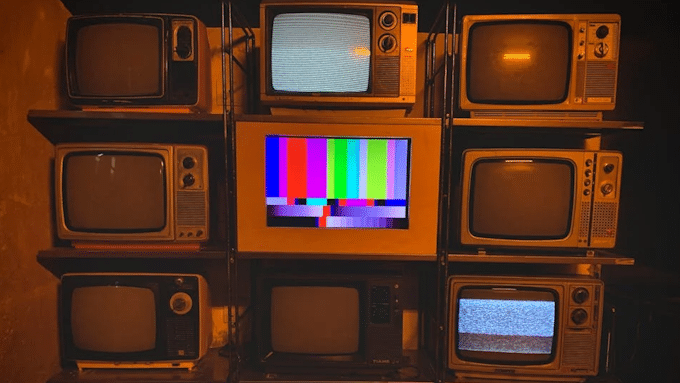Por STELIO MARRAS*
Os acontecimentos socioambientais impõem escolhas à altura de sua gravidade, o que inclui e explica reações também à altura, tal a dos negacionismos e quietismos correntes
Para Amnéris Maroni – e sua atenção sociocósmica
Sou grato a Laymert Garcia dos Santos e Fernando Paixão por suas leituras e seus estímulos.
“Precisamos, precisamos esquecer o Brasil! / Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado, / ele quer repousar de nossos terríveis carinhos. / O Brasil não nos quer! Está farto de nós! / Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil. / Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros?” (Carlos Drummond de Andrade, “Hino nacional”, in Brejo das almas).
“O Brazil não conhece o Brasil / […] / O Brazil tá matando o Brasil / […] / Do Brasil, SOS ao Brasil.” (Aldir Blanc e Maurício Tapajós, “Querelas do Brasil”).
O Futuro desde o fim
Decerto ecoarei boa parte de minha geração ao lembrar ter crescido sob a promessa de um Brasil que ainda seria, ainda viria. Era o tal “país do futuro”, que chegaria para superar sua existência arremedada e embaraçosa, o que tão frequentemente, mas ainda hoje, se qualificava, com toda a carga negativa, como “subdesenvolvido”, “atrasado”, “periférico”. O redentor futuro, imaginava-se, inclusive nas obras de ficção dessa época em que o tempo parecia correr mais lento, aquele tal futuro devia ser lá pelos anos 2000. E eis que estes anos chegaram, quando agora o colapso ecossistêmico do planeta, em pleno e acelerado curso, põe em causa os hábitos e os hábitats, superestruturas e infraestruturas, visões de passado e futuro até então minimamente estáveis, como também as pertinências do Estado-nação, tais os imperativos da autonomia e da soberania nos seus territórios circunscritos. Que será daquelas pertinências quando, doravante, os pertencimentos ao mundo se veem constrangidos a revisões radicais? Quanto a nós, que será do Brasil, que será dos brasis[i]?
O chamado por reconsiderar nossos vínculos à Terra[ii], por um renovado arraigamento a um só tempo local e global, responde à própria emergência do Antropoceno, época geo-histórica que fornece as evidências – “interferências humanas que deixam pegadas na terra e no clima” (TSING, 2019, p. 163)[iii] – sobre os agravos da civilização tecnoindustrial ao clima e aos ecossistemas, gerando agravos também à habitabilidade (e não só à humana, evidentemente). Ou, ainda mais, o Antropoceno, essa época da “descomunal perturbação humana[iv]” (TSING, 2019, p. 246), de sua vez perturba a facilidade de se aplicar, sem maior cerimônia, nossas usuais separações entre sociedade e natureza, organismo e ambiente, ação e cenário, biótico e abiótico, animado e inanimado, pessoas e coisas, local e global, termos aí ontologicamente concebidos (pelos “modernos”, “humanos” ou “povo da Natureza”, precisamente[v]) como apartados um do outro, cada qual dizendo respeito a um suposto domínio já agregado e circunscrito em suas próprias formas e forças. Mas o Antropoceno indica que essas agregações vão celeremente se desagregando. Desses seus despojos, novas bifurcações à vista.
Encarar essas fissuras (do tempo, do espaço, da imaginação…), como encarar a terra figurada em Gaia (LOVELOCK; EPTON, 1975; LATOUR, 2020), o planeta como simbiótico (MARGULIS, 1998), eis tudo de que se trata quando, como aqui, nos colocamos a tarefa de repensar o Brasil, reiluminando-o desde esse seu futuro sombrio. Tal visada tem como um de seus mais importantes efeitos redesenhar, com tanta nitidez quanto possível, o mapa que redistribui aliados e adversários, amigos e inimigos (LATOUR, 2014) – e as guerras que virão. Bifurcações: abrir-se ao cosmos insurgente, à “intrusão de Gaia” (STENGERS, 2009), ou fechar-se ainda mais nas já antigas e cada vez mais ineficientes proteções? O ponto é que os acontecimentos socioambientais impõem escolhas à altura de sua gravidade, o que inclui e explica reações também à altura, tal a dos negacionismos e quietismos correntes. Causas e efeitos passam a se confundir e a se retroalimentar quando “um acontecimento produz uma bifurcação e, inversamente, uma bifurcação gera um acontecimento” (SERRES, 1990, p. 121)[vi]. Assim é que se podem inaugurar outros regimes políticos a partir do emergente “Novo Regime Climático” (LATOUR, 2020), objeto das não menos emergentes ciências do Sistema-Terra, exigindo a abertura urgentíssima da política ao cosmos, a desestabilização epistemológica e ontológica da modernidade[vii].
Tudo agora parece banhar-se em incertezas inéditas, o horizonte de futuro mostrando-se puro enigma diante de bifurcações que vão se insinuando, tomando novas formas a cada vez e se multiplicando diante de nós – convocando-nos. Responderemos aos tantos constrangimentos ecossociológicos com mais solidariedade e estratégias simbióticas ou, ao contrário, cederemos aos apelos por ainda mais competitividade e parasitismo? Aterramento em Gaia ou escapismo (LATOUR, 2017)? O que irá prevalecer? O Brasil seguirá reduzindo os brasis ao brasileiro genérico do Estado e do Mercado, gente do desenvolvimento e do crescimento, ou saberá florescer em suas mil particularidades, suas gentes do envolvimento com a Terra e da desaceleração da marcha modernista do progresso? Quem e quantos serão? Quando? Como? Haverá tempo? Claro enigma que se renova “sob o céu flamante”[viii]– tal, digamos, o de um metálico Drummond recuperado ao rés do chão mineral, ele mesmo posto agora diante de Gaia[ix].
Esse temeroso novo futuro já não é nada parecido com aquele um dia acalentado. O já antigo futuro colide com esse porvir terrificante da terra feral tornada aterradora[x] – ou de um céu prestes a desabar[xi]. Encarar esse porvir da civilização moderna e modernizadora no Brasil parece exigir a conjugação do lugar de fala dos minoritários com a, digamos, fala dos lugares. Exigirá mesmo o gesto civilizacional de destampar ouvidos moucos ao “grito de um mundo maltratado” (STENGERS, 2013, p. 106 – tradução minha). Não é opção responsável negar esse grito crescentemente ensurdecedor. A não ser para quem pretenda negar num só golpe a política e as ciências no torvelinho infernal da pós-verdade (MARRAS, 2020a). Ou que pretenda, enfim, recusar recomeços do mundo desde o fim (MARRAS, 2020b).
Como seja, um grande divisor histórico-geológico se ergue para confrontar toda vã projeção continuísta assentada na convicção de que se trata apenas de uma “crise”[xii] ecológica que vai passar ou que será resolvida por “nossos responsáveis” (STENGERS, 2013 – tradução minha) como ainda pelos avanços tecnocientíficos baseados numa tortuosa esperança prometeica. Ou, dizem ainda, será resolvida pela natureza ela mesma, por sua evolução indiferente a nós, conforme creem diversos extratos do negacionismo climático (e, portanto, político) que campeiam mundo afora. Esses são os “sonâmbulos” (STENGERS, 2015), os “escapistas” (LATOUR, 2017), praticantes de uma tétrica “planetaridadeExit” (CHAKRABARTY; LATOUR, 2020), de costas para Gaia e de frente para Marte, plantados em filosofias antropocêntricas e emancipacionistas da história orientada pela flecha unilinear do progresso, modernistas reacionários em grande parte, ainda incapazes de transitar da “primeira” à “segunda história” (STENGERS, 2015), da independência para a interdependência.
Sim, mas tudo agora e depois não poderá mais se passar como antes, não para os despertos de desde sempre ou de agora, eles já dispostos a “sonhar outros sonhos” (STENGERS, 2013, p. 125 – tradução minha), não para os cultivadores de vínculos sociocósmicos entre-respondentes, tecidos na imanência de regimes de “coaprendizagem coletiva” (STENGERS, 2013, p.70 – tradução minha),não para os que já recusam a dobrar a natureza como condição para, desde então, dobrar-se com ela, não para esses que enfim passam a se interessar pela redação de contratos naturais contra o asfixiante contrato social, contra a evidência de que “a nossa cultura tem horror ao mundo” (SERRES, 1990, p. 14). Para esses, o jogo de dependências e independências, de pertinências e pertencimentos, de trocas e participações (MARRAS, 2019b)modifica-se tão profundamente quanto o fundo da atmosfera e dos oceanos, dos solos e dos genomas. Terranos ou terrestres são aqueles dispostos a reconhecer que a mutações ecológicas correspondem mutações políticas. Já o renitente humano moderno dedica-se ao tenaz esforço de desconhecer qualquer imagem de mundo que não reponha o humano destacado do mundo.
Gaia, essa nova sensibilidade, induz a modos outros de pertencer ao mundo e dele participar. Induz, pois, à emergência de povos outros. Assim, no mega diverso Brasil, quais perfis e nomes assumirá esse “povo por vir”, esse “novo povo” face a uma “nova terra” (DELEUZE; GUATTARI, 1980; 1992), esse “povo que falta”[xiii] e que seja capaz de tremer a velha língua[xiv], “povo de Gaia” (LATOUR, 2020)em contraste ao “povo da Natureza” (LATOUR, 2020), ao “povo da mercadoria” (KOPENAWA; ALBERT,2015)? Com que força, então, os brasis, isto é, os brasileiros Gaia-orientados, enfrentarão as inevitáveis guerras entre mundos? Clara bifurcação à vista: aceitar ou recusar o céu flamante e sua ameaça de desabar sobre nossas cabeças parece ser o nome do jogo que se inicia quando o fim – ou os muitos fins e seus muitos medos (DANOWSKI; VIVEIROS DE CASTRO, 2014) –passa a ocupar, com crescente insistência, qualquer sã imaginação. Tudo que se pode prever, ao máximo realismo, é a guerra multifacetada entre os tão diversos terranos não modernos, incluindo os ex-modernos, e o tão pouco diverso humano moderno – guerra a ser urgentemente declarada com todas as letras[xv]. Eis o que há por vir em um mundo pobre de porvir. No ocaso do Brasil, acaso virão os brasis?
Qual espaço corresponderá a esse tempo que não se deixa mais apanhar senão pelas íntimas dobras de humanos com não humanos? O das barreiras territoriais? O das sanitárias, impotentes, diante da emergência crescente e descontrolada das zoonoses[xvi]? Qual dique poderá conter o avanço dos oceanos na praia humana? Qual tecnologia protetiva evitará a invasão dos refugiados climáticos? Com que indiferença voltar as costas aos magotes humanos amontoando-se atrás de cercas ou naufragando nos mares? Qual suficiente muralha erguer contra a atmosfera carbonizada[xvii]? Quais “enclaves fortificados” (CALDEIRA, 1997) resistirão íntegros e impenetráveis? A que preço? Onde, enfim, será crível e eficaz traçar linhas de separação e contenção? Difícil, senão contrariando toda lucidez, que ainda nos fiemos nas imagísticas que tanto animaram os antigos futuros, aqueles dos séculos XIX e XX. Elas não resistirão, nem de longe, ao século XXI.
Quanto ao “país do futuro” no Antropoceno e em presença de Gaia, qual unidade supostamente já formada e unificadora, pretensamente capaz de totalizar em si (o Brasil) suas diferenças (os brasis), vingará? Ainda a utopia da civilização mestiça nos alegres trópicos pacificados? Mas o Brazil com “z”, este da plantation sustentada por grandes nações ricas do globo, o Brasil transcendente aos brasis, o Brasil “acima de tudo”, essa unidade vai se mostrando progressivamente tóxica quanto mais vai sendo apropriada pela mecânica de reduzir, de uma vez por todas, os brasis ao brasileiro. Sim, mas a unidade sempre esbarra em diferenças resistentes ou ressurgentes. Às vibrantes convocações atuais por retomar e rearticular as diferenças chamadas de classe, gênero e raça somam-se agora, não menos vibrantes e rebeldes, as diferenças chamadas ecológicas, novo terreno das alteridades. Gaia e seus mil nomes[xviii], seus mil povos e seus mil solos, sinalizam essas diferenças em estado explosivo. Em reação, a sanha unificadora, tal a da unidade-Brasil, dedica-se a negar quaisquer apelos ditos ecológicos a modos outros de fazer mundo com o mundo, e não contra o mundo. Bem se sabe que em nome do Brasil genérico e unitarista, já antes e não menos agora, os brasis, particulares e múltiplos, foram e são sufocados, sistematicamente desarticulados e fragilizados ao longo de sua história de deliberado murchamento[xix].A qual Estado, uno por origem e vocação, fazer corresponder o (re)florescimento das diversidades? Com que divisas sabermos nos unificar e nos dividir a cada vez?
Outras divisas e divisões
O país da Amazônia e do Cerrado, da Mata Atlântica e da Caatinga, dos Pampas e do Pantanal, tinha tudo (quanto ainda terá?) para liderar a devida passagem da modernização para a contra modernização do mundo e da vida. Tudo para, como poucos, saber encarar Gaia, trazê-la como a grande aliada política e, assim, poder aspirar a uma distribuição de virtudes a um só tempo sociais e naturais ao compassar humanos e não humanos em ritmos e escalas, velocidades e volumes, qualidades e quantidades que honrem a ambos, honrando a vida sob o signo da simbiose. O Brasil da alta biodiversidade combinada à sua alta sociodiversidade era (ainda será?) a chave para transpor as enganosas contradições entre a economia e a ecologia, o social e o ambiental, os direitos humanos e os direitos de não humanos, o bem-estar e o buen vivir[xx].
Parece claro que essa passagem não se dará simplesmente alternando a política – da direita à esquerda ou vice-versa. Mas tampouco, ou simplesmente, eliminando a diferença entre uma e outra. E sim, sugiro, renovando uma e outra, suas diferenças[xxi]. Do contrário, e por provável, tanto a esquerda quanto a direita da tradição política modernista seguirão aderidas aos ditames do desenvolvimento, crescimento e progresso, cada qual defendendo o que entende ser o melhor para o indivíduo e para a sociedade dos humanos. Mas e o mundo? A cultura seguirá nutrindo horror a ele (SERRES, 1990)?Ora, como bem disse Davi Kopenawa, líder xamânico yanomami, “sem floresta não tem história” (DIAS JR.; MARRAS, 2019). Também assim diremos sobre a crescente perda de sentido em promover direitos humanos sem que esse honroso e secular esforço se acompanhe da promoção dos direitos de não humanos neste milênio iniciado sob o signo do fim. Nada de direito social sem direito ambiental. O ponto é que vamos aprendendo, a duras penas, este imperativo ético (melhor, geoético) que se pode derivar da época do Antropoceno: a consideração inelutavelmente conjunta de ambos os direitos.
Tudo acontece como se rápida e progressivamente fôssemos constrangidos a nos valer de muito mais pudor e escrúpulo, cautela e atenção ao evocarmos a unidade-Brasil, essa figura tão comprometida com ideais consagrados de Estado e nação, promotora do idêntico (tal o brasileiro) não raramente obrando contra as diferenças (tais as dos brasis). Ou assim será para os que aceitem o choque de Gaia. Quanto às elites, daqui ou de alhures, que rejeitam esse choque e as evidências do Antropoceno, negando-lhes a face, restarão a elas, quem sabe, num já previsível apocalipse que se aproxima, alguns disputadíssimos bunkers subterrâneos, como no Vale do Silício, cavados para a proteção contra a Terra revolta e os revoltados desterrados, tais os refugiados climáticos.
Quais brasis insurgentes e ressurgentes poderão eclodir desses choques? Com que divisas e divisões? Haverá de florescer por aqui uma multifacetada, digamos, Gaia Brasilis? Que se indague insistentemente: tais brasileiros Gaia-orientados, os brasis, eles virão? Com quais forças e formas, quais armas e aliados, contra quem? Sendo inevitável a “guerra de mundos” (LATOUR, 2002), tal a que opõe humanos e terranos, “povo da Natureza” e “povo de Gaia”, seguiremos perguntados: com que magnitude e expressão essas guerras vão se assumir no país amazônico que se torna central na regulação climática do planeta, central às ciências do Sistema-Terra? O país da periferia do desenvolvimento econômico passa a ocupar o centro do desafio do envolvimento ecológico – desafio esse de reencontrar liberdade e emancipação nos vínculos ecologicamente instruídos.
Os desequilíbrios que, julgávamos, permaneciam lá fora – como aquilo que os economistas chamam de “externalidades negativas” –, vão furiosamente se avizinhando no mais íntimo dos hábitats humanos. Vão mesmo tornando-se ontologicamente rebeldes demais aos excessos tanto em relação às práticas de domesticação quanto às que avançam sobre o silvestre segundo os imperativos guiados pela escala da produtividade que disciplina e amalgama, num só desígnio, as forças do Estado, do Mercado e da Tecnociência. Mas, ora, tudo se desarranja sob a força da “intrusão de Gaia” (STENGERS, 2009), daquilo que, antes passível de ser tomado como objeto de nossa livre manipulação e controle, revela-se agora como sujeito – isso que aliás nunca foi outra coisa, mas que, antes, podíamos, os modernos, controlar e negligenciar. Que o diga, de novo, o tempo desestabilizador das pandemias virais, essas que, já ontem e hoje (e certamente amanhã) respondem pelos avanços desmedidos e globalizados da alta domesticação de espécies confinadas e pela não menos perigosa aproximação, despudorada e desimpedida, junto a espécies selvagens. A emergência dos príons anômalos, no caso da “doença da vaca louca” (encefalopatia espongiforme bovina), e a emergência do novo coronavírus, no caso da covid-19, dão testemunho, cada qual em seus extremos, de ambos os perigos.
A covid-19, por sua virulência e letalidade, nos põe diante das consequências, dos excessos, escapes e transbordamentos nas relações com o que denominamos de natureza. É pois bem apropriada a designação de spillover aos saltos evolutivos de patógenos animais para humanos, as zoonoses. E como a origem das pandemias zoonóticas não se deixa explicar senão pelo cruzamento de agências humanas e não humanas em situação de perturbação descoordenada, torna-se plausível supor, nesse Brasil-plantantion que implacavelmente deteriora seus grandes biomas, como o da Amazônia, da Mata Atlântica e do Cerrado, “a crescente probabilidade de que o país se torne o foco das próximas pandemias zoonóticas” (MARQUES, 2020, sem paginação), novo hotspot de infecções virais ou não virais, conhecidas ou desconhecidas. É um análogo do céu que desaba sobre nossas cabeças. Ou como um deus ex machina que inesperadamente, ou nem tanto, irrompe já no mais comezinho de nosso cotidiano, sem que, contudo, determine os desenlaces de nossos dramáticos enredos socioambientais.
Por inevitável, será preciso reaprender a sentir e pensar a partir das florestas sob desmate, da diversidade de fauna e flora em risco de extinção em massa, da erosão e desertificação dos solos, dos efeitos terríveis e já incalculáveis das paisagens tomadas por mono culturas sob pesticidas e toda sorte de agrotóxicos controlados por grandes corporações mundiais, dos “rios aéreos” tropicais reguladores de clima e chuvas, da contaminação desenfreada de rios, lagos e oceanos, do rompimento do tecido atmosférico, do acelerado degelo, em alguns casos já irreversível, das calotas polares[xxii], como ainda das zoonoses emergentes, das bactérias super-resistentes, da devastação ecossistêmica por onde quer que se lance o olhar, enfim, dos “desgarrados da terra” e “levantados do chão”[xxiii] –desse chão que, respondente ao céu não menos ameaçador, se abre sob nossos pés. Qual caminho minimamente lúcido e responsável pode ser traçado sem que se considere centralmente esses não humanos sem os quais os humanos jamais se sustentaram? Outros pactos com o cosmos respondente pedem passagem (MARRAS, 2014). Outros contratos a partir de outros contatos. Outras “co-respondências” (MARRAS, 2018). Outros pudores para outros poderes. Enfim, outras divisas no mundo arruinado. A terra morre, viva a Terra! Morre o Brasil, vivam os brasis!
Franqueza e fortaleza do vulnerável
Também comum para minha geração foi sempre ouvir – mais positiva do que negativamente, e atravessando todo o espectro político – que o Brasil era celeiro do mundo. Dos anos 1970 para cá, os chamados produtos primários passaram a se denominar, por vários setores, incluindo os da imprensa, de commodities, já que vieram crescendo em escala industrial, veloz e volumosa, voltada ainda mais ao comércio externo. Aos grãos, cereais e minérios passou a se somar também, com acentuada presença, a produção pecuária. A orientação produtiva do tipo plantation, operando no Brasil desde o primeiro século de colonização, antes com mão de obra escravizada e depois com mão de obra barata e em grande parte precarizada, não seria outra, no seu sentido geral, em relação à carne animal. O chamado agronegócio brasileiro atinge as raias da grande escala produtiva – tendo hoje o Brasil, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais cabeças de gado do que de gente. Tudo o que, em sua rota, se interpõe como alternativa, imprimindo desacelerações e comedimentos, tudo aí se candidata a inimigo do progresso, desse repulsor nato de alternativas. Tais inimigos, órfãos da terra e do trabalho, de suas ecologias e sociologias vitais e criativas, tornam-se então vulneráveis. Restará apenas sucumbir?
Como coisas e pessoas costumam se acompanhar, umas e outras ganham, na produção do tipo plantation, semelhante figuração escalável. Difícil desconhecer, pois, que a redução de pessoas a indivíduos e populações participa decisivamente da redução dos existentes ao escalável. É o brasileiro genérico assim reduzido pelo Brasil uno. É o que se vê nos campos e nos corpos perfilados pela monocultura de seres e ideias (SHIVA, 2003), humanos e não humanos[xxiv]. Em compasso mercadológico, tudo aí deve ser rápido, desimpedido, homogêneo, uniforme, replicável, substituível, pouco diverso. O propagandeado Brasil grande, aquele “tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado”, conforme o poeta mineiro, esse Brasil que “quer repousar de nossos terríveis carinhos” (ANDRADE, 1951),ele contudo pretende que sua força resida nessa velocidade e escala de tipo plantation. E, no entanto, mostra-nos essa pensadora da escalabilidade, Anna Tsing (2019), não há força de escala que alcance total completude.
Sim, algo sempre escapa, ultrapassa, multiplica-se e se diferencia – como aliás podemos derivar da noção de natureza do filósofo pragmatista William James, segundo a qual “a natureza não é senão o nome do excesso”[xxv]. Por toda parte, vê-se que também na ordenação grupal humana dá-se o mesmo: transbordos, escapes, mutações, diferenças que não cessam de se diferenciar (TARDE, [1895] 2007), excessos ameaçando romper formas e enquadramentos. Da identidade fixa do Registro Geral, tão atada ao Estado, pode-se esperar pletóricas ressurgências de identidades móveis entre os brasis adentro? Dos iguais a si mesmos poderão brotar criativos devires que retracem conexões entre passado e futuro, não mais ditados pelo primado do progresso unilinear que distinga tão facilmente atrasados de avançados, subdesenvolvidos de desenvolvidos, periféricos de centrais? Do brasileiro genérico, indagaremos enfim, escaparão os brasis originais, isto é, re-originados?
Pode-se esperar (e para isso trabalhar) que os escapes venham de dentro mesmo das “ecologias simplificadas” da plantation (TSING, 2019, p. 226), como de dentro mesmo do capitalismo, à sua maneira no centro ou na periferia. Que venham – em resposta às monoculturas industriais tóxicas – as policulturas e os regimes multi-espécies simbióticos. Parece mais que evidente que o modo plantation de reprodução humana e não humana se define pela abstração de ecologias particulares, abstração de seus constrangimentos socioambientais locais, tal como condição para a industrialização e a exportação veloz e em quantidade escalar de commodities para toda parte do mundo[xxvi].Sim, mas também por todo lado, o common(DARDOT; LAVAL, 2014), respondendo à escalabilidade plantation, ensaia emergir da commodity, o comum não escalável rebelando-se à apropriação, desamalgamando-se, destacando-se dela, como a Natureza transfigurando-se em Gaia, os bens e recursos encantando-se ecologicamente, as vulnerabilidades humanas ganhando força e figuração inéditas quando se aliam às vulnerabilidades não humanas[xxvii]. É preciso investir bastante na surdez e na cegueira, na desinformação e na pós-verdade para continuar evitando a premente “necessidade de uma ética coletiva face à fragilidade do mundo” (SERRES, 1990, p. 124).
Do brasileiro sairão os brasis? Disso depende o florescimento de outras noções e práticas de independência e emancipação – tecidas com, e não contra, viventes e mundo. Sim, há por onde, já que os brasis, manifestos ou potenciais, ainda podem exibir tantas particularidades que, por si, já ameaçam correr a contrapelo da produção acelerada, homogênea, serial, linear, reduzida à grande escala plantation-orientada. É que ali onde vingam diferenças tais e irredutíveis, ali mesmo a abstração da monetização encontra sérias dificuldades para se impor e se desenvolver. Diferenças (no mais do termo, não as que logo se deixem converter na mensuração do mesmo) podem se mostrar responsivas e resistentes, podem se arvorar em impedimentos, ainda que sempre combatidos a ferro e fogo, à precificação monetária de entes e seres, ao contínuo esforço de abstraí-las de suas origens e consequências, esforço de apagar rastros de produção e ignorar pegadas ecológicas.
Diferenças nos modos de fazer mundo são a pedra no meio desse caminho que se pretende rápido, auto-evidente, inconteste. Mas como recusar, no pleno Antropoceno registrado nas estratigrafias, diante de Gaia e das exigências do “Novo Regime Climático”, que agora o caminho não pode mais se dar senão, digamos, pelo meio da pedra (MARRAS, 2015)? Agora os modernos podemos topar, como nunca antes, com evidências as mais factuais de que o comum (commun, commons, bens comuns) sempre deu liga e condição de existência à comunidade. Jamais a comunidade humana foi apenas comunidade de humanos. Jamais autônoma, autorregulada, encerrada em si, respondendo apenas a si mesma. Era preciso que os mediadores não humanos fossem tomados como “meros intermediários” (LATOUR, 1991, p. 189 – tradução nossa) – isto é, carregadores mudos de forças técnicas e naturais já prontas e compostas, domesticadas de uma vez por todas, utilitárias impassíveis e de comportamento previsível – para que se sustentasse o antropocentrismo modernista, sua imagem de autonomia e autocracia. Mas eis que agora tais forças e formas passam a exibir comportamentos e feições imprevisíveis, complexos, não lineares, multiplicadores de bifurcações, animados e altamente perigosos, moventes e vulneráveis. Se os terranos (não mais modernos), se os brasis (não mais o brasileiro) aceitamos tais novas propriedades desse cosmos particularmente perturbado pelas atividades dos humanos-tecno-capitalistas-do-tipo-plantation, então ancora-se aí a força das vulnerabilidades no desafio já civilizacional de fazer brotar jardins das ruínas[xxviii].
Se o Brasil está para a escalabilidade, os brasis, povo por vir, estarão para a não escalabilidade. Onde mais depositar nossas melhores apostas? Nada é mais perigoso à proliferação bárbara e sem peias do capital do que as diferenças que resistem à padronização, a esse modo de reprodução que depende da clonagem de fisionomias e consciências, a essa monocultura das formas e dos sentidos, a essa disciplina que alinha humanos e não humanos, cultivadores e cultivados sob o signo da produção baseada em poucas variedades – tal o brasileiro do Brasil, tal a soja do Cerrado, tal o gado do Mato Grosso. Mas o sentido histórico que a época do Antropoceno instrui põe em reviravolta o que antes se aceitava como indiscutivelmente forte e fraco, robusto e frágil, protegido e vulnerável. Imaginação fissurada.
Ecologias políticas opostas se afrontam. O que era tão fácil depreciar como folclorismo, entraves ao desenvolvimento, imagem da falta e da pobreza, do atraso e do subdesenvolvimento, pode ganhar outra linha de força ao se conectar às consequências da modernização capitalista planetária. O que eram apenas culturas diante da Natureza tornam-se potentes agentes de resposta a essa época, o Antropoceno, que por definição implode a diferença ontológica entre cultura e natureza. Novas alianças à vista. Uma vez que vulneráveis humanos coadunam-se a vulneráveis não humanos, que segurança alimentar e segurança ecológica passem a se formular conjuntamente, desde então as concretudes reunidas se fortalecem, a alienação abstracionista se enfraquece, a vulnerabilidade passa a ser agente ativo, propositivo, fonte de outras ciências e políticas possíveis, outros mundos e humanos. Outros brasis por aqui.
Não há males e reveses que impeçam, senão ao contrário, a imaginação desse outro Brasil politicamente ecologizado, à justa altura de sua magnitude e diversidade ecológica e social. Que seria do Brasil se seus tão diversos brasis socio-ambientados eclodissem? Opor o brasileiro do “Plantationoceno” (HARAWAY, 2016) aos brasis do Antropoceno é discernir uma guerra de mundos em curso. Essa guerra tem neste país coalhado de diferenças o solo dos mais propícios onde ser decretada e desdobrada, porque aqui as contradições se escancaram a olhos vistos, tal o fosso da desigualdade social estruturada em séculos de escravidão humana, tal a modernização a fórceps, a trator e motosserra, dinamizadas por um capitalismo bárbaro, desregulamentado, violento. Tudo aqui reúne os elementos que, associados, ameaçam a estabilidade desse grande celeiro mundial, sob o qual é mantida toda sorte de abusos, explorações, iniquidades, mais-valia social e natural.
Não será nada exagerado, em suma, imaginar o Brasil – do brasileiro e dos brasis – como paisagem humana-e-não-humana particularmente vocacionada a desenvolver enredos de fins e reinícios de mundo. Ou, finalmente, de mundos, no plural. “Um tal protagonismo por aqui?” – perguntarão os incrédulos –,“neste país periférico destinado à exportação de produtos primários?”. Sim –direi, inspirando-me em Anna Tsing –, precisamente aqui, bem aqui onde da alta escalabilidade, nunca conclusa de uma vez por todas, pode rebentar, como resposta, uma constelação de atividades não escaláveis. A novidade é filha das tensões. Todo gigantismo cria e traz em si suas próprias fraquezas e vulnerabilidades, podendo o comunal desfraldar-se do descomunal[xxix], como o alimento das commodities, o agroecológico do agrotóxico, a policultura da monocultura, o diverso do uniforme, os minifúndios dos latifúndios, as cooperativas dos conglomerados, o cuidado da negligência, a desaceleração da aceleração produtiva. Países ditos “em desenvolvimento”, ecológica e economicamente posicionados como o Brasil, podem abrir outras bifurcações ali onde só restariam apenas “alternativas infernais” (PIGNARRE; STENGERS, 2005 – tradução minha), ali onde só haveria o tudo ou nada do crescimento, do progresso como narrativa imperial, sem oposição, e sem o qual, conforme pretende a divisa da bandeira, não poderá haver ordem. Mas é no caráter particularmente inconcluso do Brasil que pode residir sua maior sorte. Não é dado historicamente que as mazelas coletivas produzam sempre novos autoritarismos, novas faces fascistas, reacionarismos da pior estirpe.
Do inferno social e ecológico pode emergir todo o seu contrário[xxx]. Virão os brasis esconjurar o brasileiro? Vanguardas ecopolíticas à vista? Poderão os lugares de fala se associar virtualmente às falas dos lugares? Ambas as falas, conectadas de infinitas maneiras, farão valer suas vulnerabilidades em novos modos de pensar, sentir, responder, agir? Os brasis sobreviverão ao Brasil? O tempo dirá, pois é mesmo de tempo que se trata – de seus sentidos meteorológicos e históricos, geológicos e antropológicos conspirados.
*Stelio Marras é professor de Antropologia do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB/USP).
Publicado originalmente na revista IEB, no. 77.
Referências
AMERICANOS.Compositor e intérprete: Caetano Veloso. In: Circuladô vivo. Polygram, 1992.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Rapto. In: ANDRADE, Carlos Drummond de.Claro enigma. Rio de Janeiro: José Olympio, 1951, p. 446.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Hino nacional. In: ANDRADE, Carlos Drummond de.Brejo das almas. Rio deJaneiro: José Olympio, 1955, p. 99-100.
CALDEIRA, T. P. do Rio. Enclaves fortificados: a nova segregação urbana. Novos Estudos Cebrap, n. 47, 1997, p. 155-176
CANDIDO, A. O significado de Raízes do Brasil.In:HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 9-21.
CHAKRABARTY, D.; LATOUR, B. Who needs a philosophy of history? A proposition followed by a response from Dipesh Chakrabarty.“Historical Thinking and the Human”, Journal of the Philosophy of History, v. 14, n. 3, 2020, eds. Marek Tamm and Zoltán Boldizsár Simon (no prelo).
DANTAS, M. D. Epílogo. Homens livres pobres e libertos e o aprendizado da política no Império. In: DANTAS, M. D. (org.). Revoltas, motins revoluções: homens livres pobres e libertos no Brasil do século XIX. São Paulo: Alameda Editorial, 2011,p. 31-36
DANOWSKI, D.; VIVEIROS DE CASTRO, E. Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins. Florianópolis: Desterro, Cultura e Barbárie e Instituto Socioambiental, 2014.
DARDOT, P.; LAVAL, C. Commun:essai sur la révolution au XXIe siècle. Paris:La Découverte, 2014.
DE LA CADENA, M. Earth beings, ecologies of practice across Andean worlds. Durham: Duke University Press, 2015.
DELEUZE, G.O abecedário de Deleuze. Entrevistas. Claire Parnet. Canal franco-alemão de TV Arte, 1994-1995.
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mille plateaux. Paris: Minuit, 1980.
DELEUZE, G.; GUATTARI, F.O que é a filosofia?.Tradução Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Muñoz. São Paulo: Ed. 34, 1992.
DIAS JR., C.; MARRAS, S.Fala Kopenawa! Sem floresta não tem história. [Entrevista].Mana, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 236-252, Apr. 2019. https://doi.org/10.1590/1678-49442019v25n1p236
HARAWAY. D. Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: fazendo parentes.Tradução de Susana Dias, Mara Verônica e Ana Godoy. ClimaCom – Vulnerabilidade [Online], Campinas, ano 3, n. 5, 2016.
HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
KOPENAWA, D.; ALBERT, B. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
LATOUR, B. Nous n’avons jamais été modernes: essai d’anthropologie symétrique. Paris: La Découverte, 1991.
LATOUR, B. Politiques de la nature: comment faire entrer les sciences en démocratie. Paris La Découverte, 1999.
LATOUR, B.War of the worlds:what about peace?.Chicago: Prickly Paradigm Press, 2002.
LATOUR, B.Para distinguir amigos e inimigos no tempo do Antropoceno. Revista de Antropologia, v. 57, n. 1, p. 11-31, São Paulo, 2014.
LATOUR, B. Où atterrir? Comment s’orienter en politique. Paris: La Découverte, 2017.
LATOUR, B. Diante de Gaia: oito conferências sobre a natureza no Antropoceno. São Paulo: UBU Editora, 2020.
LEVANTADOS do chão.Composição de Chico Buarque de Holanda e Milton Nascimento. In:Terra [álbum compacto], Chico Buarque de Holanda. Para o livro Terra, de Sebastião Salgado. Marola Edições Musicais,1997.
LOVELOCK, J.; EPTON, S. The Quest for Gaia. New Scientist, v. 65, n. 935,p. 304-307, London, 1975.
MARGULIS, L. Symbiotic planet: a new look at evolution. New York: Basic Books, 1998.
MARQUES, L. A pandemia incide no ano mais importante da história da humanidade. Serão as próximas zoonoses gestadas no Brasil?.Ciência, Saúde e Sociedade: Covid-19, 5 de maio de 2020. Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/05/05/pandemia-incide-no-ano-mais-importante-da-historia-da-humanidade-serao-proximas. Acesso em: set. 2020.
MARRAS, S. Virada animal, virada humana: outro pacto. Scientiæ Studia, São Paulo, v. 12, n. 2, 2014, p. 215-260.
MARRAS, S. No meio da pedra, um caminho: impactos ambientais na ecologia antropológica. Revista Florestan, São Carlos (SP), UFSCar, ano 2, n. 4, dezembro de 2015, p. 25-34.
MARRAS, S. Co-respondências: imperativos da produção tecnocientífica contemporânea. In: DOMINGUES, I. (org.). Biotecnologias e regulações: desafios contemporâneos. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018, p. 239-259.
MARRAS, S. Drummond do mundo – uma resenha de Maquinação do mundo: Drummond e a mineração, de José Miguel Wisnik. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, n. 73, 4 set. 2019a, p. 268-274.
MARRAS, S. Troca e participação na era do fim: revisão de conceitos à força dos constrangimentos ecológicos-ambientais. In: DIAS, S. O.; WIEDEMANN, S.; AMORIM, A. C. R. de (orgs.). Conexões: Deleuze e cosmopolíticas e ecologias radicais e nova terra e…. Campinas: ALB/ClimaCom, 2019b, p. 151-180.
MARRAS, S. O vozerio da pós-verdade e suas ameaças civilizacionais. In: AMOROSO, M. et al. (orgs.). Vozes vegetais: diversidade, resistências e histórias da floresta. São Paulo: Editora UBU, 2020a (no prelo).
MARRAS, S. O mundo desde o fim: desafios expiatórios da modernidade. In: COUTINHO, F.; ALZAMORA, F.;ZILLER, J. (orgs.). Dossiê Bruno Latour. Belo Horizonte, Editora da UFMG, 2020b. (Coleção Debates Contemporâneos). (no prelo).
MEDINA, J. Suma qamaña, vivir bien y de vita beata. Una cartografía boliviana.La Reciprocidad,20 de enero de 2011. Disponível em: http://lareciprocidad.blogspot.com/2011/01/suma-qamana-vivir-bien-y-de-vita-beata.html. Acesso em: agosto 2020.
OS MIL Nomes de Gaia. Colóquio InternacionalOs Mil Nomes de Gaia: do Antropoceno à Idade da Terra. De 15 a 19 de setembro de 2014. Realização: Departamento de Filosofia da PUC-Rio, PPGAS do Museu Nacional – UFRJ. Local: Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro. Disponível em: https://osmilnomesdegaia.eco.br. Acesso em: agosto 2020.
PELBART, P. PÁL. O avesso do niilismo: cartografias do esgotamento = Cartography of exhaustion: nihilism inside/out. Traduzido por John Laudenberger. São Paulo:N-1 Edições, 2013. (Série future art base).
PERRONE-MOISÉS, B. Os brasis em Lévi-Strauss. Diacrítica – Série de Filosofia/Cultura, n. 23/2, Universidade do Minho. Minho/Portugal, 2009, p. 57-73.
PIGNARRE, P.; STENGERS, I. La sorcellerie capitaliste: pratiques de désenvoûtement. Paris: La Découverte, 2005.
QUERELAS do Brasil. Intérprete: Elis Regina. Compositores: Aldir Blanc e Maurício Tapajós. In: Transversal do tempo. Intérprete: Elis Regina. [S. l.]: Philips/Polygram (Universal Music), 1978.
SALGADO, Sebastião. Terra. Acompanhado do CD Terra, de Chico Buarque. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
SCHAVELZON, S.Plurinacionalidad y vivir bien/buen vivir: dos conceptos leídos desde Ecuador y Bolivia post-constituyentes. Quito: Abya Yala/Clacso, 2015.
SERRES, M. O contrato natural. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
SHIVA, V.Monoculturas da mente: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia. São Paulo: Gaia, 2003.
SILVA, Ramon Felipe Bicudo da et al.The soybean trap: challenges and risks for Brazilian producers.Frontiers in sustainable food systems, v. 4, 2020. https://doi.org/10.3389/fsufs.2020.00012
STENGERS, I. Une autre science est possible! Manifeste pour un ralentissement des sciences, Paris: Les Empêcheurs de penser en rond/La Découverte, 2013.
STENGERS, I. No tempo das catástrofes: resistir à barbárie que se aproxima. São Paulo: Cosac Naify, 2015.
TARDE, G. (1895). Monadologia e sociologia e outros ensaios. São Paulo: Cosac & Naify, 2007.
TSING, A. Blasted landscapes (and the gentle arts of mushroom picking). In: KIRKSEY, E. (ed.). The multispecies salon. Durham:Duke University Press, 2014, p. 87-109
TSING, A. The mushroom at the end of the world: on the possibility of life in capitalist ruins. Princeton: Princeton University Press, 2015.
TSING, A. Viver nas ruínas: paisagens multiespécies no Antropoceno. Brasília: IEB Mil Folhas, 2019.
WALLACE, R. Pandemia e agronegócio: doenças infecciosas, capitalismo e ciência. São Paulo: Editora Elefante, 2020.
WISNIK, J. M. Maquinação do mundo: Drummond e a mineração. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
Notas
[i] Perrone-Moisés (2009, p. 58) observa que “‘brasis’ é expressão corrente, nos documentos portugueses do século XVI, para se referir aos nativos da colônia sul-americana. Conforme a expansão colonial atinge novos territórios e populações indígenas diversas, a expressão vai cedendo lugar a etnônimos diversos. Recuperam a expressão os autores brasileiros chamados indianistas do século XIX”. Inspiro-me em Renato Sztutman (a quem sou muito grato) para um uso mais abrangente de “brasis” (comunicação pessoal), de modo a abarcar, como aqui pretendo, vastos grupos espalhados por todo o território nacional, eles já existentes ou por vir, que se vejam ou não como mestiços. Entendo que a unidade dos “brasis” se dá na diversidade que cultivam. Tal diversidade, no forte do termo, aponta para modos alternativos de fazer mundo com o mundo (e não contra ele). Sugiro que a figuração unitarista do “brasileiro” oponha-se à dos “brasis” – ambos, a partir de agora, grafados sem aspas. Ao público leitor caberá avaliar o alcance heurístico pretendido com esse par de opostos na economia do presente texto.
[ii] Sirvo-me aqui da distinção de Latour (2017, p. 140) entre “Terra” e “terra”: “Por convenção, ‘terra’, em minúsculo, corresponde ao quadro tradicional da ação humana (humanos na natureza), e ‘Terra”, em maiúsculo, a uma potência de agir na qual se reconhece algo como uma função política”.
[iii] “A crise de habitabilidade de nossos tempos é algo diferente – e é essa diferença que é sinalizada no termo Antropoceno. O Antropoceno não marca a aurora da perturbação humana. Como venho mostrando, a perturbação humana pode fazer parte dos ecossistemas resilientes do Holoceno, como as matas camponesas. O Antropoceno marca, em vez disso, uma quebra nas coordenações, algo que é muito mais difícil de corrigir. Somos empurrados para novas ecologias de proliferação da morte” (TSING, 2019, p. 112).
[iv]Será prudente já sinalizar que não parece bem correta a definição do Antropoceno como, digamos, pegada geológica dos humanos, já que esses humanos (como os modernos, em particular, mas qualquer outro, de modo geral) nunca agiram senão em íntima associação com não humanos tecnológicos de toda espécie. A particularidade modernista dá-se, antes, na escala e velocidade de suas ações. O Antropoceno não nos diz, pois, da interferência da espécie em uma natureza supostamente pura e intocada, derivando por si. Ele nos diz de imbróglios.
[v] Sobre a ecologia política que informa o sentido desses termos, ver Latour (2020). Note-se aqui a sinonímia que estou forçando entre “modernos”, “humanos”, “povo da natureza”, “povo da mercadoria”. Ou seja, tomar “humanos” e “natureza” como categorias nativas dos modernos.
[vi] Devo observar, em tempo, que esse esforço de apontar a emergência de bifurcações em pares de oposição inspira-se, em boa parte, naquilo que Antonio Candido (1995, p.12-13) reconheceu no modo de argumentação de Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil: a “metodologia dos contrários”, por sua vez inspirada no “critério tipológico de Max Weber”. Trata-se, em Holanda via Candido, da “exploração de conceitos polares”, de modo que “a visão de um determinado aspecto da realidade histórica é obtida, no sentido forte do termo, pelo enfoque simultâneo dos dois; um suscita o outro, ambos se interpenetram e o resultado possui uma grande força de esclarecimento” (CANDIDO, 1995, p. 13). Projeto aqui essa metodologia para uma história a partir de um temível futuro que tão rápido se avizinha e que por isso mesmo nos convoca a rever nossas mais arraigadas bases de pensamento e sensibilidade. O intuito é prestar alguma colaboração à urgente tarefa de repovoar nossa imaginação com os inumeráveis mundos possíveis mobilizados pelos tipos polares, entre eles e além deles. Sua caracterização responde a uma estratégia metodológica antes que a um fundamento ontológico. São dualidades a serviço de multiplicidades.
[vii] Sobre o conceito de modernos (modernidade, modernização, modernismo) e sua relação inescapável com a escalada de destruição ecológica do planeta, cf. Latour (1991, 1999 e 2017).
[viii]E se “tudo é triste sob o céu flamante […], baixemos nossos olhos ao desígnio da natureza ambígua e reticente: ela tece, dobrando-lhe o amargor, outra forma de amar no acerbo amor” (ANDRADE, 1951). No esforço de fazer a poesia de um Drummond soprar novos sentidos, hoje, aos leitores sensíveis à dramática ecossistêmica do planeta, diremos que também o amor, para além dos semelhantes e para além ou aquém dos humanos-entre-eles, pede que “baixemos nossos olhos” à Terra; pede abrir-se ao mundo, já não mais vasto quanto mais vai sendo devastado pelo ardor da conquista e do controle, do bem-estar seletivo às expensas do bem comum.
[ix] Cf. Wisnik (2018) e, como nota de rodapé, Marras (2019a).
[x] Que se considere aqui, desde já, os dois sentidos assumidos pelo caráter aterrador de Gaia: o que aterroriza e o que convoca voltar-se à terra. Tudo se passa como se os modos de conjugar esses sentidos é que determinarão destinos e desenlaces do porvir.
[xi] Pode-se topar com o insistente tema do desabamento do céu em Michel Serres (1990, p. 80), com seu esforço de retorcer a língua branca: “Que diligentes ombros sustentarão, agora, esse céu imenso e fissurado que, receamos pela segunda vez numa longa história, possa desabar sobre as nossas cabeças?”. Ou ainda, claro, no monumental livro de Kopenawa e Albert (2015), já reverberando céu e mundo, espíritos e floresta na língua yanomami dirigida de volta aos brancos.
[xii] Diferentemente de qualquer outra crise, diz Stengers (2015, p. 41), a chamada crise ecológica “não é um momento ruim que vai passar”. Observo, a propósito, que as crises, dignas do nome, têm o dom de borrar fronteiras ou acentuá-las. Bifurcações!
[xiii] Antes de concluírem o livro com um trecho de “Gilles Deleuze, esse sobrinho uterino de Oswald de Andrade”, Danowski e Viveiros de Castro (2014, p. 159) assim escrevem na língua de Deleuze: “Falar no fim do mundo é falar na necessidade de imaginar, antes que um novo mundo em lugar deste nosso mundo presente, um novo povo; o povo que falta. Um povo que creia no mundo que ele deverá criar com o que de mundo nós deixamos a ele”.
[xiv] “O escritor se serve de palavras, mas criando uma sintaxe que as introduz na sensação, e que faz gaguejar a língua corrente, ou tremer, ou gritar, ou mesmo cantar: é o estilo, o ‘tom’, a linguagem das sensações ou a língua estrangeira na língua, a que solicita um povo por vir, oh! gente do velho Catawba, oh! gente de Yoknapatawpha! O escritor torce a linguagem, fá-la vibrar, abraça-a, fende-a, para arrancar o percepto das percepções, o afecto das afecções, a sensação da opinião – visando, esperamos, esse povo que ainda não existe” (DELEUZE; GUATTARI,1992, p. 228). O tema da língua por vir, assim dizendo, é frequente em Deleuze, como no seu abecedário (DELEUZE, 1994-1995): “Precisamos, às vezes, inventar uma palavra bárbara para dar conta de uma noção com pretensão nova”. Dispensável, a essa altura, notar o quão é imprescindível a invenção de novas palavras para novos povos e novos mundos.
[xv] Guerras, eu diria, não bem contra indivíduos ou grupos, mas contra, sopra Stengers (2015, p. 44), “o que lhes dá autoridade”.
[xvi] Sobre as íntimas e tão perigosas relações entre a deterioração dos ecossistemas e a emergência de zoonoses, há já farta literatura. Cf., por exemplo, Wallace (2020).
[xvii] Bifurcação: “Viveremos nós dentro dos muros das nossas cidades ou debaixo da cúpula das constelações? Em qual dos dois? Em qual deles, num ou noutro, nos encontramos?” (SERRES, 1990, p. 100).
[xviii] Referência ao colóquio internacional denominado “Os mil nomes de Gaia – do Antropoceno à idade da Terra”, ocorrido na Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro, entre 15 e 19/9/2014, realizado pelo Departamento de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ) e concebido por Deborah Danowski, Eduardo Viveiros de Castro e Bruno Latour. Cf. Os Mil Nome de Gaia (2014).
[xix] Um panorama dessa longa história das rebeliões populares no Brasil pode ser conferido em Dantas (2011).
[xx] Têm se multiplicado os estudos, como os etnográficos pós-coloniais, que apontam, como nos países andinos, vigorosas respostas locais-globais altermundialistas, tão conceituais quanto práticas, como as do “buen vivir” e do “vivir bien”, que confrontam as “alternativas infernais” (PIGNARRE; STENGERS, 2005 – tradução minha), tal por exemplo a “feitiçaria capitalista”, que opõe desenvolvimento e pobreza, progresso ou morte. Para indicar alguns desses estudos, ver:De La Cadena (2015), Schavelzon (2015) eMedina (2011).
[xxi] Compreendo a reorientação política visada por Latour (2017), para quem tanto a direita quanto a esquerda, uma vez diante de Gaia, encontram-se igualmente despreparadas. Mas divirjo de sua receita, essa que prevê o sumário abandono, por obsoleta, dessa oposição. Seria, como se diz, livrar-se do bebê junto com a água suja do banho. Como não reconhecer, pergunto, que é do lado da esquerda política que se situam as principais matrizes intelectuais e práticas históricas inspiradas em princípios e sentimentos de solidariedade, simbiose, empatia por outrem, mútuo socorro, cooperativismo? De onde esperar, senão dessa longa e caudalosa tradição de resistência e afirmação de direitos, que esses seus princípios, antes forjados para a promoção de trocas sociais justas, possam doravante se derramar para o mundo e fundar, no mesmo passo, trocas cósmicas justas? Daí que a própria noção de troca pede alargamento (MARRAS, 2019b)
[xxii] É notável que as bifurcações sejam postas pelos próprios pontos de inflexão no desmatamento da Amazônia (a partir do qual a floresta corre o risco de se savanizar indefinidamente), como ainda, noutro exemplo, no degelo da Groelândia (cujo avanço vai tornando impossível a recomposição do gelo). Essas e outras tantas e semelhantes evidências têm sido diariamente alardeadas por cientistas e jornalistas especializados (para referir apenas estes) em toda sorte de veículos acadêmicos e não acadêmicos pelo mundo. Entende-se bem, aliás, o porquê de o reacionarismo modernista atacar as ciências, que são, para nós, aparelhos de fonação de ecologias, climas e ambientes.
[xxiii] Cf. “Levantados do chão”, canção de Milton Nascimento e Chico Buarque para o livro Terra (SALGADO, 1997).
[xxiv] A economias de plantation correspondem mentalidades de plantation, coisas escaláveis a pessoas escaláveis O modo plantation a que submetemos outras espécies acaba por nos submeter. Somos todos seres da plantation.
[xxv] A frase ganhou estatuto de epígrafe no livro de Latour (2020), de onde a retiro para citar aqui.
[xxvi] “As plantations disciplinam os organismos como recursos, removendo-os de seus mundos de vida. Os investidores simplificam as ecologias para padronizar seus produtos e maximizar a velocidade e a eficiência da replicação. Os organismos são removidos de suas ecologias nativas para impedi-los de interagir com espécies companheiras; eles são feitos para coordenar apenas com réplicas – e com o tempo do mercado” (TSING, 2019, p. 235)
[xxvii] É o caso, por exemplo, da vigorosa produção agroecológica, Brasil afora, do Movimento dos Sem Terra.
[xxviii]“Ruins are now our gardens”, escreve Tsing (2014, p. 87)
[xxix] De súbito, o tido como invulnerável pode ter toda sua pujança arruinada em pouquíssimo tempo por patógenos invisíveis que arrasam plantações transgênicas e reses superdomesticadas com seus perfis genômicos tão mais vulneráveis quanto menos biodiversos. Desde então, a segurança alimentar de populações inteiras desloca-se para ecologias antes tidas como vulneráveis, pobres, atrasadas, subdesenvolvidas, periféricas. Parece claro que os desastres ecossociais da produção plantation-orientada – como os tão conhecidos casos históricos da batata na Inglaterra e da borracha na Amazônia – tendem a se repetir em uma frequência tamanha que tornará insustentável a civilização tal como a conhecemos. É de se perguntar se o mercadológico aprenderá que os rendimentos só poderão doravante seguir se forem acompanhados de comedimentos. Ou se saberá escapar, por exemplo, da “armadilha da soja” (SILVA et al., 2020). Nada da escalabilidade da soja fora da não escalabilidade das redes multiespécies que podem lhe dar sustento a médio e longo prazo. Ou seja, nada mais de sustentação econômica sem sustentabilidade ecológica.
[xxx] Ou como aponta o dialético Buarque de Holanda (1995, p. 180) nesse seu livro clássico que foi sendo reescrito desde 1936: “a história jamais nos deu o exemplo de um movimento social que não contivesse os germes de sua negação”. No mesmo sentido, Pelbart (2013) procura valer-se do avesso do niilismo como fonte de resistência. Digamos: se o niilismo é refém da deriva mecânica dos prováveis, seu avesso aponta para a criação viva de possíveis. São dois registros: um segue de braços dados com o inconsequente, outro devota atenção à arte do cuidado. Um segue resoluto e veloz, outro hesita e desacelera.